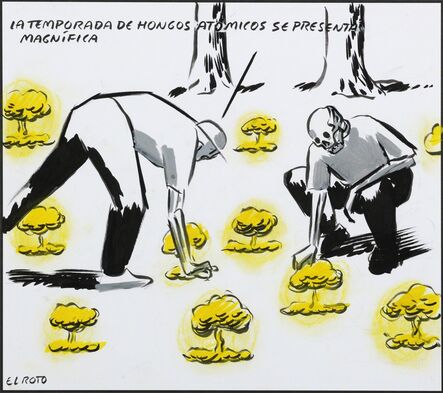Antes mesmo de Qafisha ajustar os olhos à luz e nos ver vindo pela estrada em sua direção, o soldado israelense se levantou, ergueu o rifle até a metade e ordenou que Qafisha voltasse para dentro.
O cozinheiro de falafel, de 52 anos, fez um gesto para que nos apressássemos.
“É assim sempre que tentamos abrir a porta agora”, disse ele, quando entramos.
"Não temos permissão nem para ficar em nossas janelas."
Qafisha, que nasceu e cresceu em Hebron, na Cisjordânia ocupada, é residente de H2, um distrito denso e fortemente fortificado que alberga 39 mil palestinianos e cerca de 900 colonos israelitas, considerados alguns dos mais extremistas do território ocupado. Os palestinos e os israelenses do H2 estão separados em alguns lugares aqui por apenas alguns metros e cercados por câmeras, jaulas, postos de controle, muros de concreto e rolos de arame farpado.
Há mais de 40 dias, desde o ataque do Hamas a Israel, 11 bairros palestinianos dentro do H2 – compreendendo cerca de 750 famílias – têm estado sob um dos mais severos confinamentos impostos na área há mais de 20 anos. A população de H2 é quase inteiramente palestina, mas o distrito está sob o controle total dos militares israelenses, que nas últimas semanas têm forçado os residentes palestinos a voltarem para suas casas sob a mira de uma arma.
Qafisha e sua família de nove pessoas mal saíram de casa, disse ele. Ele não queria correr nenhum risco. “Você viu o que aconteceu quando chegou”, disse ele. "Temos uma porta que não podemos abrir e janelas das quais não podemos olhar. Não temos nenhuma liberdade. Vivemos com medo."
 |
| Posto de controle israelense fortemente fortificado do H2, que abrange 11 bairros. |
A casa de Qafisha ficava perto da rua Shuhada, que já foi uma das ruas mais movimentadas do mercado palestino em Hebron. Em 1994, um massacre de 29 muçulmanos por um extremista judeu numa mesquita próxima levou a tumultos, que por sua vez provocaram uma repressão por parte do exército israelita. O exército fechou à força empresas palestinianas e depois fechou as portas da frente dos residentes palestinianos, no lado da rua Shuhada.
Desde então, os palestinianos da área em redor da rua Shuhada têm vivido restrições variáveis sobre onde podem ir, quando e como. Os surtos no conflito israelo-palestiniano levaram muitas vezes a alguma forma de bloqueio, mas vários residentes disseram à BBC que este foi o mais difícil que alguma vez experimentaram.
A algumas centenas de metros da casa de Qafisha, Zleekhah Mohtaseb, uma antiga guia turística e tradutora de 61 anos, olhava para baixo do seu telhado, observando um jovem colono israelita a gritar consigo mesmo enquanto serpenteava lentamente pela rua Shuhada.
Mohtaseb passou todas as suas seis décadas a poucos passos de onde estava agora, disse ela. Do outro lado da rua Shuhada, a não mais de 6 metros de distância, ficava o Cemitério de Hebron, onde 10 gerações de sua família foram enterradas. Era uma vez, ela podia atravessar a rua e entrar no cemitério. Agora ela demorava uma hora de carro.
“Os colonos”, disse ela, balançando a cabeça, enquanto o jovem israelense passava pela porta da frente fechada por solda. "Eles podem fazer o que quiserem. Eles são o povo escolhido."
Mohtaseb viu muita coisa durante sua vida em Hebron, mas os últimos 40 dias foram dos mais tensos, disse ela. Horas depois de o Hamas ter atacado Israel, numa onda de assassinatos que deixou cerca de 1.200 israelitas mortos, os residentes palestinianos do H2 receberam mensagens dos militares israelitas dizendo-lhes que já não tinham permissão para sair das suas casas. Soldados israelenses começaram a expulsar as pessoas das ruas sob a mira de armas, incluindo Mohtaseb. “Aquelas primeiras duas semanas foram um inferno”, disse ela.
Duas semanas depois de ter começado, o recolher obrigatório no segundo semestre cedeu ligeiramente, permitindo aos palestinianos saírem das suas casas durante determinados horários aos domingos, terças e quintas-feiras. Depois, na quinta-feira passada, enquanto Mohtaseb se preparava para nos receber, três militantes palestinianos de Hebron atacaram um posto de controlo israelita que separava a Cisjordânia de Jerusalém, matando um soldado e ferindo cinco. Imediatamente, ela soube que o ataque prolongaria e intensificaria a repressão no segundo semestre.
"Todo mundo diz que Israel tem o direito de se defender. Tudo bem. Não somos contra isso. Mas e nós, os palestinos?" ela disse.
“Muitas vezes fomos atacados, muitas vezes fomos mortos, muitas vezes fomos forçados a abandonar as nossas casas. Onde estava este direito de defesa quando os palestinianos foram atacados?”
O H2 começou em 1997, quando Hebron foi dividida em dois setores, sob um acordo entre a Organização para a Libertação da Palestina e Israel. H1, habitado inteiramente por palestinos e controlado pela Autoridade Palestina, representa cerca de 80% da cidade. H2, que representa apenas 20% da cidade, é habitado quase inteiramente por palestinos, mas controlado pelos militares israelenses. Dentro do H2, a área ao redor da Rua Shuhada e da Mesquita Ibrahimi é a mais fortificada por postos de controle e postos de guarda. Assistiu a décadas de tensão, violência e ataques terroristas de ambos os lados.
“Este é o lugar fechado dentro do lugar fechado”, disse Muhammad Mohtaseb, segurança de um hospital de 30 anos, sentado no telhado de sua casa, em frente à mesquita.
“Estamos completamente cercados por postos de controle”, disse ele. "Mesmo em um dia bom, não posso dirigir um carro, nenhum carro pode entrar com matrícula palestina. Se eu quiser trazer algo para minha casa, tenho que carregá-lo a meio quilômetro do posto de controle. Quando me casei, Comprei toda a mobília nova para o meu quarto, mas tive que desmontar tudo em pedaços do outro lado do posto de controle para passar pelas catracas e depois reconstruí-los deste lado."
Esse foi um bom dia. Desde 7 de Outubro, a liberdade até de circular na rua desapareceu. Quando chegamos à casa de Mohtaseb, assim como na casa de Fawaz Qafisha, um soldado saltou em direção à porta e ordenou que Mohtaseb voltasse para dentro.
No telhado, Mohtaseb enrolou um cigarro e olhou para as ruas vazias. Com três dos seus quatro filhos fora da escola – todas as escolas H2 foram fechadas – Mohtaseb estava em casa e fora do trabalho há 40 dias. Felizmente para ele, seu empregador foi compreensivo e ainda lhe pagava.
Este não foi o caso de todos. Qafisha, o cozinheiro de falafel, não conseguia cumprir as suas responsabilidades profissionais desde o início do confinamento, porque só podia sair três dias por semana e, nesses três dias, as horas atribuídas não correspondiam às horas que necessitaria para viajar para trabalhar. de qualquer forma. E, ao contrário do empregador de Mohtaseb, o seu não foi compreensivo. “Nesses empregos, se você trabalha, você come”, disse ele. "E se você não trabalha, você não come."
Qafisha pediu dinheiro emprestado várias vezes a amigos para comprar comida para a família, mas estava a ficar sem opções. “Tudo o que você gasta não pode ser reposto”, disse ele, sentado em sua sala, longe da janela. "Então estamos afundando."
Na manhã seguinte, houve outro ataque armado contra soldados israelitas por parte de um militante palestiniano, este na própria Hebron. Desta vez resultou apenas na morte do agressor. Mas algumas horas depois, outra mensagem foi enviada via WhatsApp pelos militares israelenses aos residentes palestinos da rua Shuhada.
“Uma notificação para os moradores da rua Shuhada”, dizia. "Você está proibido de ficar nas ruas por uma semana." E se eles saíssem do H2, dizia, não seriam autorizados a entrar novamente até que a semana passasse.
O confinamento no segundo semestre foi um “exemplo flagrante de como Israel está a implementar punições colectivas na Cisjordânia”, disse Dror Sadot, porta-voz da organização israelita de direitos humanos B'Tselem.
“Os palestinos em Hebron estão pagando um preço por algo que não fizeram”, disse ela. “As pessoas não podem ir trabalhar, as crianças não podem ir à escola, têm dificuldade em obter água e comida. É um castigo colectivo e é ilegal ao abrigo do direito internacional.”
Os militares israelitas disseram à BBC num comunicado que as suas forças operam na Cisjordânia “de acordo com a avaliação situacional, a fim de fornecer segurança a todos os residentes da área”.
“Assim, existem postos de controle dinâmicos e esforços para monitorar o movimento em diferentes áreas em Hebron”, afirmou.
Entre os colonos israelitas que vivem em H2, no colonato linha-dura de Kiryat Arba, está o ministro da segurança nacional de extrema-direita de Israel, Itamar Ben Gvir. Na quinta-feira, Ben Gvir, que supervisionou pessoalmente a distribuição de milhares de novas espingardas aos colonos da Cisjordânia desde 7 de Outubro, disse que Israel deveria adoptar em relação ao território ocupado a mesma abordagem que está a tomar em Gaza, onde mais de 11.000 palestinianos agora foi morto. “A contenção vai explodir na nossa cara”, disse Ben Gvir, da Cisjordânia. “Exatamente como aconteceu em Gaza.”
Segundo o Ministério da Saúde palestiniano, mais de 200 palestinianos foram mortos na Cisjordânia desde 7 de Outubro, por colonos ou em confrontos com os militares.
Na quarta-feira, a apenas algumas centenas de metros da casa de Ben Gvir, Areej Jabari reuniu um pequeno grupo de mulheres num círculo de tricô na sua casa em H2, desafiando as ordens israelitas de não circular nas ruas naquele dia. Esta foi apenas a segunda reunião bem-sucedida desde o início do confinamento, e havia apenas oito mulheres presentes, contra as cerca de 50 que normalmente se reúnem uma vez por semana na mesquita. As tricoteiras chegaram lá por prestidigitação. “Nós nos esgueiramos pelas estradas vicinais e entre os prédios”, disse Huda Jabari, prima mais nova de Areej, com um sorriso.
As mulheres aprenderam, durante todo este tempo de confinamento, a observar os soldados israelitas e a movimentar-se quando eles não estão a olhar. Eles usam as casas uns dos outros para evitar postos de controle dentro do H2, entrando pela porta da frente em um setor e saindo pela porta dos fundos para outro. “Em tempos normais, 50 famílias passam pela minha casa para se locomover”, disse a mãe de Areej, Sameera, cuja casa ficava à sombra da de Ben Gvir.
Areej nos levou até seu telhado para nos mostrar sua vista, sobre uma base militar israelense e um posto de guarda perto de sua casa. Abaixo de nós, colonos israelenses passavam pela rua dela, que ela não tinha mais permissão de usar.
Desde 7 de Outubro, Areej vinha até aqui ao telhado com a sua câmara de vídeo para recolher imagens dos soldados e enviá-las para a B'Tselem, a organização de direitos humanos. Em troca, os militares israelenses chegaram à casa dela no último sábado e forçaram a entrada, disse ela. “Eles quebraram meu cartão de imprensa e me alertaram para não gravar mais vídeos nem postar nada nas redes sociais.”
Eles também a proibiram de subir ao telhado, disse ela, ou de olhar pelas janelas às sextas ou sábados, quando os colonos israelenses usam sua estrada para caminhar do assentamento até o local sagrado judaico perto da rua Shuhada.
As IDF disseram à BBC que estavam cientes do incidente descrito por Areej e estavam acompanhando os soldados específicos envolvidos para examinar o que aconteceu. “Estamos levando este incidente muito a sério”, disse um porta-voz.
Para Areej, isso não parecia particularmente fora do comum. “Sempre que algo acontece, eles colocam mais restrições sobre nós”, disse ela. “O objetivo é nos dividir, dividir a área em pequenos pedaços e nos pressionar para sair”.
Ela estava encostada na grade do telhado de sua casa, olhando para H2. “Eu chamo esta área de fortaleza da firmeza”, disse ela. Ela abriu sua câmera de vídeo e apontou-a na direção do posto de guarda israelense na estrada.