
quarta-feira, 30 de novembro de 2016
O problema da igualdade
Os escândalos e a inverossímil corrupção que vivemos têm um denominador comum. Na teoria corrente, trata-se da óbvia apropriação do público pelo particular. Sociologicamente, porém, eles são um elo da nossa imensa capacidade de driblar a igualdade, trocando-a por simpatias pessoais.
Mudamos leis para não mudarmos o que Tocqueville chamava de “hábitos do coração”. Essas “segundas naturezas” que usamos sem pensar porque elas estão tão dentro de nós que não as enxergamos.

Os abusos do universo público pelos partidários e amigos resultaram na prisão de uma elite bandida, a qual, por sua vez, provocou imediatamente fortes articulações para limitar um chamado “abuso de autoridade” e a anistia de crimes que levariam ao esvaziamento da Lava-Jato.
Essa é a prova cabal da nossa aversão à igualdade. Que o povo negro e pobre seja alvo da igualdade perante a lei não é problema. A coisa, porém, se transforma em problema quando os ladrões formam uma súcia de parlamentares, doleiros e empresários. Nesses casos, causa repugnância a ideia de que a lei “deve valer para todos”, inclusive para o “governo”, a família e os amigos. Contra tal acinte, legisla-se em causa própria.
Como exercer a igualdade na terra do “Você sabe com quem está falando?”, onde o poder é centralizado, hierarquizado, avesso à inclusão e fraternalmente dividido com os amigos?
Nossa resistência em dividir leva a um paroxismo centralizador, que esconde do cidadão a riqueza produzida por todos, mas controlada pelos poucos que estão no poder. É fácil reduzir salários de funcionários, mas não se cogita sair dos palácios, renunciando a um aristocrático estilo de vida.
A República funciona como monarquia. O que poderia disciplinar a ambiciosa elite capitalista termina por colocar num mesmo ralo governo e empresários. Daí a roubalheira estruturante e estrutural. Felizmente, existe uma “imprensa comprada” para denunciá-la, algo que os nazistas de esquerda e de direita querem cercear. Essa é a imprensa que divulga como se esbanja dinheiro público mantendo — mesmo debaixo de uma crise nunca antes vista neste país — um estilo de vida palaciano e moleque.
Nesta postura, a ética da amizade engloba a ética pública. O que seria de todos passa a ser propriedade dos poderosos legalmente — notem o paradoxo — acima da lei.
A patologia que experimentamos não vem de mais-valias absurdas. Vem da impossibilidade de punir governantes e de descobrir que roubar e governar são sinônimos. Quando a administração transforma ideologicamente a insídia em valor, descobrimos assustados que o crime não é desvio, mas norma.
Eis o sinal, dizia Durkheim, de doença.
Se roubar a sociedade é um valor, assassinamos a igualdade, engendrando uma classe de ladrões ilustres e graduados: presidentes, governadores, senadores, deputados, juízes, delegados, deputados, grandes empresários e o que mais não sejam. Papéis sociais couraçados pela honra e competência desmancham-se. Eles não servem mais à coletividade, mas aos seus ocupantes, amigos e partidos. É o fim...
O privilégio — esse pai da corrupção — está no uso de cargos públicos para obter vantagens particulares. A indiferença ao conflito de interesse exigido por certos papéis explica a nossa desmoralização. Quando o papel de ministro corre o risco de ser canibalizado pelo de proprietário de um apartamento de luxo, não se pode mais fingir. O bem-estar instável de um país comandado por um governo tampão e emergencial demanda — conforme ocorreu — que se fique do lado do Brasil, e não do amigo.
Liquidamos a nobreza mas, como compensação, mantivemos um sistema jurídico bizantino, com múltiplos privilégios. Para os conflitos do dia a dia, inventamos o “Você sabe com quem está falando?” sem discutir as amizades cujas regras implícitas têm promovido vergonhosas tragicomédias.
Com 40 anos escrevi tudo isso (e mais alguma coisa) em “Carnavais, malandros e heróis”. Hoje, aos 80 e desolado, observo uma batalha entre “direita” e “esquerda” arrebentando o Brasil, quando a verdadeira questão é a da igualdade. A igualdade que se faz quando há coragem de dizer não a si mesmo, pois é isso que permite — como escreveu Oliveira Vianna em 1925 — a começar a resistir aos amigos!
Meu abraço afetuoso ao Edson Celulari. Meus agradecimentos ao Ruy Castro, que me enviou o seu brilhante prefácio ao livro “Memórias de um sargento de milícias” — essa cartilha do Brasil. E minhas condolências aos admiradores dos revolucionários que, no poder, viram tiranos.
Roberto DaMatta
Mudamos leis para não mudarmos o que Tocqueville chamava de “hábitos do coração”. Essas “segundas naturezas” que usamos sem pensar porque elas estão tão dentro de nós que não as enxergamos.

Essa é a prova cabal da nossa aversão à igualdade. Que o povo negro e pobre seja alvo da igualdade perante a lei não é problema. A coisa, porém, se transforma em problema quando os ladrões formam uma súcia de parlamentares, doleiros e empresários. Nesses casos, causa repugnância a ideia de que a lei “deve valer para todos”, inclusive para o “governo”, a família e os amigos. Contra tal acinte, legisla-se em causa própria.
____________
Como exercer a igualdade na terra do “Você sabe com quem está falando?”, onde o poder é centralizado, hierarquizado, avesso à inclusão e fraternalmente dividido com os amigos?
____________
Nossa resistência em dividir leva a um paroxismo centralizador, que esconde do cidadão a riqueza produzida por todos, mas controlada pelos poucos que estão no poder. É fácil reduzir salários de funcionários, mas não se cogita sair dos palácios, renunciando a um aristocrático estilo de vida.
___________
A República funciona como monarquia. O que poderia disciplinar a ambiciosa elite capitalista termina por colocar num mesmo ralo governo e empresários. Daí a roubalheira estruturante e estrutural. Felizmente, existe uma “imprensa comprada” para denunciá-la, algo que os nazistas de esquerda e de direita querem cercear. Essa é a imprensa que divulga como se esbanja dinheiro público mantendo — mesmo debaixo de uma crise nunca antes vista neste país — um estilo de vida palaciano e moleque.
____________
_____________
____________
Eis o sinal, dizia Durkheim, de doença.
____________
Se roubar a sociedade é um valor, assassinamos a igualdade, engendrando uma classe de ladrões ilustres e graduados: presidentes, governadores, senadores, deputados, juízes, delegados, deputados, grandes empresários e o que mais não sejam. Papéis sociais couraçados pela honra e competência desmancham-se. Eles não servem mais à coletividade, mas aos seus ocupantes, amigos e partidos. É o fim...
____________
O privilégio — esse pai da corrupção — está no uso de cargos públicos para obter vantagens particulares. A indiferença ao conflito de interesse exigido por certos papéis explica a nossa desmoralização. Quando o papel de ministro corre o risco de ser canibalizado pelo de proprietário de um apartamento de luxo, não se pode mais fingir. O bem-estar instável de um país comandado por um governo tampão e emergencial demanda — conforme ocorreu — que se fique do lado do Brasil, e não do amigo.
____________
______________
____________
Roberto DaMatta
Os caras deslavadas
O presidente do Senado, Renan Calheiros, vai fechando seu período no posto com chave que não é de ouro, mas de material a ele assaz familiar: o cinismo. Aquele mesmo usado quando do rompimento com Fernando Collor, de quem havia sido líder na Câmara, procurando dar a impressão de que se afastava por razões éticas quando, na verdade, rompia em reação ao corte de recursos recebidos via Paulo César Farias para a campanha ao governo de Alagoas em 1990, depois que Collor deixou claro o apoio ao adversário, Geraldo Bulhões.
Daí em diante fez carreira nacional à custa da ingenuidade, da complacência e da cumplicidade alheias: foi ministro, note-se, da Justiça de Fernando Henrique Cardoso, quatro vezes presidente do Senado, uma renúncia ao cargo para escapar da cassação e campeão na quantidade de inquéritos acumulados no Supremo Tribunal Federal, que amanhã examina o primeiro de uma série de 12. Está prestes a tornar-se réu na ação em que figura como receptor de propina de empreiteira e usuário de documentos falsos.

Pois nessa condição é que se faz (na ótica dele) porta-voz da defesa dos interesses nacionais. De um lado, partindo da correta premissa de que é necessário atualizar a legislação que responsabiliza civil, criminal e administrativamente atos de abuso de poder para atingir o torpe objetivo de mostrar aos órgãos de investigações quem é que manda. De outro, ontem partindo com truculência verbal para ataques ao sistema político, segundo ele, “fedido, falido, caquético, alvo de desconfiança da sociedade”.
Mesmo? Não fosse Renan Calheiros a dar o alerta continuaríamos a viver a ilusão de que o modelo pelo qual sua excelência e companhia se elegem, mandam e desmandam há anos seria cheiroso, florescente, vigoroso, objeto da mais absoluta confiabilidade na opinião do público. Determinados políticos quando fazem esse tipo de diagnóstico e defendem com veemência uma remodelação total nos meios e modos na política remetem à anedota do sujeito que rouba uma carteira e sai gritando “pega, ladrão”, no intuito de desviar de si as atenções.
Calheiros e demais mandachuvas do setor tiveram todo o tempo do mundo para consertar os defeitos que apontam. A começar pelas respectivas condutas. Não fizeram porque não quiseram. Uma reformulação virá, mas não nos moldes formais (e acanhados) propostos pelo Congresso.
Nascerá da incorporação na sociedade do sentido do primeiro artigo da Constituição: o poder emana do povo e, portanto, em seu nome deve ser exercido.
Daí em diante fez carreira nacional à custa da ingenuidade, da complacência e da cumplicidade alheias: foi ministro, note-se, da Justiça de Fernando Henrique Cardoso, quatro vezes presidente do Senado, uma renúncia ao cargo para escapar da cassação e campeão na quantidade de inquéritos acumulados no Supremo Tribunal Federal, que amanhã examina o primeiro de uma série de 12. Está prestes a tornar-se réu na ação em que figura como receptor de propina de empreiteira e usuário de documentos falsos.

Mesmo? Não fosse Renan Calheiros a dar o alerta continuaríamos a viver a ilusão de que o modelo pelo qual sua excelência e companhia se elegem, mandam e desmandam há anos seria cheiroso, florescente, vigoroso, objeto da mais absoluta confiabilidade na opinião do público. Determinados políticos quando fazem esse tipo de diagnóstico e defendem com veemência uma remodelação total nos meios e modos na política remetem à anedota do sujeito que rouba uma carteira e sai gritando “pega, ladrão”, no intuito de desviar de si as atenções.
Calheiros e demais mandachuvas do setor tiveram todo o tempo do mundo para consertar os defeitos que apontam. A começar pelas respectivas condutas. Não fizeram porque não quiseram. Uma reformulação virá, mas não nos moldes formais (e acanhados) propostos pelo Congresso.
Nascerá da incorporação na sociedade do sentido do primeiro artigo da Constituição: o poder emana do povo e, portanto, em seu nome deve ser exercido.
Hiperdemocracia sem lei
Brasília, 29/11/2016 - A anarquia sindicalista “Não há liberdade sem lei”Rousseau
Anarquia é a doutrina política fundada no princípio da negação da autoridade. Prega a volta do homem ao estado original, de total liberdade para decidir e agir, dispor de si mesmo, dar às coisas o destino que melhor lhe parecer, ou convier, sem pedir permissão ou depender da autoridade de alguém (John Lock). Anarquista ou ácrata, no sentido vulgar, é quem afronta a ordem estabelecida disposto a eliminar, se preciso fisicamente, autoridade eleita ou nomeada.
O Dicionário de Política de Bobbio, Matteucci e Pasquino entende por anarquismo “o movimento que atribui ao homem, como indivíduo, e à coletividade o direito de usufruir toda a liberdade, sem limitação de normas, de espaço e de tempo, fora dos limites existenciais do próprio indivíduo”.
Pessoas dotadas de discernimento sabem que as coisas não funcionam assim. Nesse sentido registrou o político espanhol José Maria Gil Robles, para condenar a violência que devastou a Espanha na Guerra Civil (1936-1939): “Não nos enganemos, um país pode viver sob a Monarquia ou sob a República, o Presidencialismo ou o Parlamentarismo, sob o Comunismo ou sob o Fascismo! Mas não pode viver na anarquia”.
Produto da utopia, o anarquismo jamais poderia materializar-se como sistema de governo. Causou numerosas vítimas e provocou enormes prejuízos em períodos de anomia, quando as autoridades se mostraram coniventes ou indecisas, temerosas de esboçar reação.
Para Roderick Kedward, autor do livro Os Anarquistas, a época dourada da doutrina de Proudhon e Bakunin situa-se entre 1880 e 1914. Retratado por Hans Magnus Enzensberger na obra O Curto Verão da Anarquia, o catalão Buenaventura Durruti entrou para a História como inimigo da ordem e da lei. Foi morto em Barcelona durante tiroteio de rua. O homem que fez tremer a Europa deixou duas pistolas, dois jogos de roupas de baixo, um binóculo e óculos de sol.
As raízes do movimento sindical brasileiro estão fincadas no anarquismo. Anarcossindicalista foi Everardo Dias (1886-1966). Tipógrafo, jornalista, escritor e maçom, escreveu a História das Lutas Sociais no Brasil para registrar experiências vividas desde a greve de 1917 até a implantação do Estado Novo, em 1937. Também o foram Edgard Leunroth (1881-1968), Gregorio Nazianzeno Moreira de Queiroz e Vasconcelos ou Neno Vasco (1879-1920), Gigi Damiani (1876-1953), Oreste Ristori (1874-1943).
O que se observa não guarda semelhança com a genuína doutrina anarquista. Ressalvadas pacíficas manifestações públicas em locais determinados, o que presenciamos são aglomerações dominadas pela violência, provocadas pelo amálgama da decomposição social com a falência de autoridade e a desmoralização da política, vítima da corrupção. Com as redes sociais à disposição tornou-se simples mobilizar espíritos brutalizados e agressivos.
A pretexto da imediata solução do problema de moradia, do atendimento às reivindicações nas áreas de segurança, saúde, educação, do combate às reformas previdenciária e trabalhista, do saneamento das finanças, são invadidos prédios públicos, ocupadas ruas, praças e avenidas, posto fogo em pneus e latões de lixo, depredados imóveis comerciais. Infelizes dos que se encontrarem diante da horda, a caminho do trabalho, da residência, do hospital ou da escola.
A insegurança não encontra paralelo na História. Pouco importa saber que a crise é real, profunda, e que há milhões de desempregados e subempregados. Vivemos uma espécie de hiperdemocracia sem leis, na observação de Ortega y Gasset em Rebelião das Massas. Com palavras de ordem da CUT, do MST, da FPSM, da FBP e de outras siglas improvisadas ao sabor do momento, vândalos atacam a polícia à procura de um morto para exibi-lo em passeatas e convencer incautos de que o governo é arbitrário.
A derrubada das grades do Palácio dos Bandeirantes em abril de 1983, a repetitiva ocupação de prédios e dependências do serviço público, ataques a ônibus, a recente invasão do prédio da Secretaria de Segurança Pública em São Paulo demonstram a ousadia de facções anárquicas conduzidas por irresponsáveis e engrossadas por aquilo que se costuma denominar de inocentes úteis ou massa de manobra.
Não raro a anarquia está camuflada dentro de partidos radicais de extrema esquerda. Basta prestar atenção aos discursos para perceber os objetivos ocultos dos líderes. Disputam eleições, mas são inimigos da democracia, da lei, da propriedade privada. Quando se submetem ao teste das urnas, são inapelavelmente rejeitados.
A História revela a dificuldade de organização das classes trabalhadoras. O Partido Comunista Brasileiro (PCB) e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), produto de divisão na época do governo João Goulart, como relata Jacob Gorender no livro Combate nas Trevas, pertencem à espécie dos partidos de quadros. Jamais foram partidos de massas. O Partido dos Trabalhadores (PT) resultou da única tentativa bem-sucedida de reunião de operários, comerciários, bancários, dentro de legenda estruturada. Desmoronou abatido pela corrupção. Altos dirigentes estão presos; outros, à espera de visita da Polícia Federal.
Aproximam-se as eleições de 2018. Com o PT liquidado, PSDB e PMDB são os partidos aptos à disputa da maioria no Senado, na Câmara dos Deputados e da Presidência da República. A vitória de Donald Trump nos Estados Unidos da América deve soar como advertência de clima favorável aos demagogos, com promessas que as massas gostam de escutar.
Acautele-se o presidente Michel Temer, pois poderá ser surpreendido e derrotado, como acaba de acontecer com Barack Obama.
Educação em Cuba
Que fique claro: ditaduras não se justificam em nome dos avanços sociais e muito menos são pré-condições para tais conquistas. Não há, portanto, nenhum sentido em absolver Fidel Castro e o seu regime sobre o pretexto de a revolução cubana ter promovido a “igualdade”.
Na vizinha Costa Rica, a revolução de 1948 obteve enormes avanços na educação e na saúde e dissolveu seu próprio exército revolucionário. A Costa Rica, coração civil, nunca deixou de realizar eleição presidencial livre e limpa a cada quatro anos e sua capital é a sede da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Detalhe: o salário médio no país é 15 vezes maior do que o de Cuba, seu PIB e renda per capita são os mais altos da região.
Temos ainda o exemplo da Coreia do Sul, um país atrasado até os anos 50 e hoje com um IDH bastante alto – o 15º do mundo. A Coreia passou por períodos ditatoriais, mas é uma democracia liberal desde 1987. A educação foi a grande alavanca para alcançar o status de ser o país mais inovador do planeta.

Vamos para a educação cubana.
Há alguns anos fiz parte de uma delegação brasileira de gestores da rede privada do ensino em visita a Cuba para conhecer como era a educação no então único país socialista do continente americano.
Chamou atenção o fato de Cuba ter erradicado o analfabetismo (no final da década de 80 a taxa de analfabetismo no Brasil ainda era de 20% da população de 15 anos ou mais) por meio de ampla mobilização, em que para alfabetizar não era necessário ser professor. Quem sabia ler e escrever ensinava a quem não sabia.
A maioria das escolas que visitamos padecia de recursos, funcionava em prédios improvisados, sem manutenção e com deficiência de iluminação. Mas tudo isto era compensado pela alta motivação dos educadores e educandos, o que faz toda a diferença nos resultados colhidos.
Na Escola Lenin de Ensino Médio, a melhor do país, dotada de equipamentos modernos para a época, exibia a contradição entre um ensino de forte conteúdo e o dirigismo ideológico. Os alunos eram campeões mundiais nas olimpíadas de matemática ou física, eram exímios no xadrez, mas o ensino de história era totalmente tendencioso e priorizava acontecimentos cubanos e soviéticos. Na biblioteca havia um grande volume de livros, mas não se encontrava os que mostravam a produção cultural ou científica do mundo ocidental.
Até hoje nem tudo pode ser ensinado nas salas de aula, o diálogo deve ser monitorado e o senso crítico, com a confrontação das verdades estabelecidas, é reprimido. Evidente que à juventude cubana não é dada a possibilidade de viver uma natural fase de experimentação, ou de considerar caminhos alternativos, comportamentos diferentes. E nem mesmo questionar influências familiares, sociais ou culturais.
Choque mesmo tivemos ao visitar uma escola exclusiva para crianças com surdez. A falta de recursos saltava aos olhos, mas era impossível não se emocionar com a dedicação dos professores que faziam milagres. Os alunos, todos pequenos, conseguiam falar e expressar ideias com grande fluência. A frustração veio logo seguir, quando, a pedido dos professores, em uníssono afirmaram: “todas as crianças de Cuba querem ser como Che Guevara”. Foi a constatação de que o sistema educacional da Ilha reproduz até hoje o culto à personalidade de seus “deuses”; ignora a sentença do dramaturgo Bertold Brecht: “triste de um povo que ainda precisa de heróis”.
O pensamento único impede o debate de ideais, não respeita o diferente, impõe uma educação incapaz de ensinar a conviver com a diversidade, seja ela de natureza religiosa, política ou de gênero. É impensável, por exemplo, que seja abordado em suas salas de aula o tema da homofobia. Sem o direito à privacidade, sacrifica-se também a liberdade de expressão.
E tudo isso é consequência da ditadura.
Não há, portanto sentido algum em se fazer hagiografia e genuflexão diante de ditaduras, ainda que se digam “benéficas”.
Na vizinha Costa Rica, a revolução de 1948 obteve enormes avanços na educação e na saúde e dissolveu seu próprio exército revolucionário. A Costa Rica, coração civil, nunca deixou de realizar eleição presidencial livre e limpa a cada quatro anos e sua capital é a sede da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Detalhe: o salário médio no país é 15 vezes maior do que o de Cuba, seu PIB e renda per capita são os mais altos da região.
Temos ainda o exemplo da Coreia do Sul, um país atrasado até os anos 50 e hoje com um IDH bastante alto – o 15º do mundo. A Coreia passou por períodos ditatoriais, mas é uma democracia liberal desde 1987. A educação foi a grande alavanca para alcançar o status de ser o país mais inovador do planeta.

Há alguns anos fiz parte de uma delegação brasileira de gestores da rede privada do ensino em visita a Cuba para conhecer como era a educação no então único país socialista do continente americano.
Chamou atenção o fato de Cuba ter erradicado o analfabetismo (no final da década de 80 a taxa de analfabetismo no Brasil ainda era de 20% da população de 15 anos ou mais) por meio de ampla mobilização, em que para alfabetizar não era necessário ser professor. Quem sabia ler e escrever ensinava a quem não sabia.
A maioria das escolas que visitamos padecia de recursos, funcionava em prédios improvisados, sem manutenção e com deficiência de iluminação. Mas tudo isto era compensado pela alta motivação dos educadores e educandos, o que faz toda a diferença nos resultados colhidos.
Na Escola Lenin de Ensino Médio, a melhor do país, dotada de equipamentos modernos para a época, exibia a contradição entre um ensino de forte conteúdo e o dirigismo ideológico. Os alunos eram campeões mundiais nas olimpíadas de matemática ou física, eram exímios no xadrez, mas o ensino de história era totalmente tendencioso e priorizava acontecimentos cubanos e soviéticos. Na biblioteca havia um grande volume de livros, mas não se encontrava os que mostravam a produção cultural ou científica do mundo ocidental.
Até hoje nem tudo pode ser ensinado nas salas de aula, o diálogo deve ser monitorado e o senso crítico, com a confrontação das verdades estabelecidas, é reprimido. Evidente que à juventude cubana não é dada a possibilidade de viver uma natural fase de experimentação, ou de considerar caminhos alternativos, comportamentos diferentes. E nem mesmo questionar influências familiares, sociais ou culturais.
Choque mesmo tivemos ao visitar uma escola exclusiva para crianças com surdez. A falta de recursos saltava aos olhos, mas era impossível não se emocionar com a dedicação dos professores que faziam milagres. Os alunos, todos pequenos, conseguiam falar e expressar ideias com grande fluência. A frustração veio logo seguir, quando, a pedido dos professores, em uníssono afirmaram: “todas as crianças de Cuba querem ser como Che Guevara”. Foi a constatação de que o sistema educacional da Ilha reproduz até hoje o culto à personalidade de seus “deuses”; ignora a sentença do dramaturgo Bertold Brecht: “triste de um povo que ainda precisa de heróis”.
O pensamento único impede o debate de ideais, não respeita o diferente, impõe uma educação incapaz de ensinar a conviver com a diversidade, seja ela de natureza religiosa, política ou de gênero. É impensável, por exemplo, que seja abordado em suas salas de aula o tema da homofobia. Sem o direito à privacidade, sacrifica-se também a liberdade de expressão.
E tudo isso é consequência da ditadura.
Não há, portanto sentido algum em se fazer hagiografia e genuflexão diante de ditaduras, ainda que se digam “benéficas”.
Barraco legislativo
Uma madrugada para jamais ser esquecida
A Câmara dos Deputados fez nesta madrugada o que justamente se esperava dela. Ao votar o pacote de medidas contra a corrupção, enfraqueceu-o para se vingar da Lava-Jato e proteger parte dos seus membros investigados ou alcançados por denúncias de roubalheira.
Uma vez aprovado o pacote da forma como ele havia sido apresentado pelo relator Onyx Lorenzoni (DEM-RS), a esmagadora maioria dos deputados começou a desfigurá-lo por meio de emendas a vários dos seus principais itens.
O pacote de medidas contava com o apoio do Ministério Público e de 2,5 milhões de brasileiros que o assinaram. O que se fez logo de partida? A Câmara aprovou emenda que tipifica o crime de abuso de autoridade para magistrados e integrantes do Ministério Público.
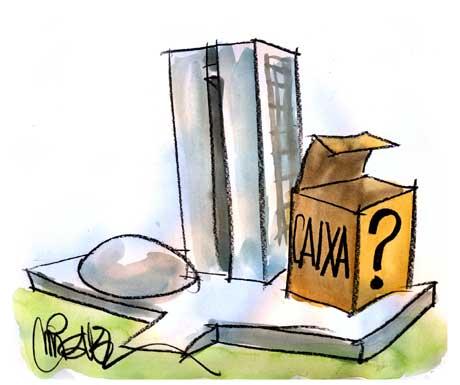
Foram 313 votos favoráveis, 132 contrários e cinco abstenções. Cumpriu-se o que horas antes antecipara o deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA), irmão do ex-ministro Geddel: “Vamos, sim cortar as asas deles”. Referia-se a procuradores e juízes.
“Os procuradores deram um tiro no pé ao nos pressionarem para aumentar seus poderes”, comemorou o deputado Benício Gama (PTB-BA), vice-lider do governo. Lorenzoni foi vaiado e xingado por colegas ao se opor à aprovação da emenda.
Doravante, se o Senado confirmar a decisão da Câmara e o presidente Michel Temer não vetá-la, os membros do Ministério Público poderão responder pelo crime de abuso de autoridade se, entre outros motivos, promoverem a “instauração de procedimento sem que existam indícios mínimos de prática de algum delito”.
Além da “sanção penal”, o procurador ou promotor poderá ficar “sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado”. Quanto aos juízes, eles poderão ser punidos em pelo menos oito situações.
Uma delas: expressar-se, “por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento”. A pena prevista é de seis meses a dois anos de prisão e multa.
“Está sendo aprovada a lei da intimidação contra promotores, juízes e grandes investigações”, protestou em mensagem postada no Twitter o procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná
Tem mais: a emenda modifica a Lei de Improbidade Administrativa para prever que a pessoa que apresentar representação ou ação contra agente público poderá ser punida com prisão de seis a dois anos e multa, além de ressarcimento por danos materiais e morais se o ato da denúncia ocorrer “de maneira temerária”.
Hoje, a lei só prevê punição para quem fizer denúncia sabendo que o acusado é inocente.
A Câmara também rejeitou a criação do crime de enriquecimento ilícito de servidores públicos e a perda dos bens que o funcionário não conseguir comprovar sua origem, em caso de condenação por outros crimes.
O item do pacote que previa a criação de “o reportante do bem”, espécie de denunciante que teria salvaguardas por informar sobre um caso de corrupção, simplesmente foi eliminado. Também foram eliminadas mudanças para dificultar a ocorrência da prescrição de penas.
A única coisa que a maioria dos deputados abdicou de fazer foi aprovar emenda que anistiasse a doação e o recebimento de dinheiro não declarado à Receita e à Justiça Eleitoral – o caixa dois. Deve-se isso ao ex-ministro Marcelo Callero, da Cultura.
Na semana passada, depois de demitir-se do cargo, Callero atingiu o governo com a denúncia de que ministros e altos funcionários da República, de comum acordo com Temer, haviam feito tráfico de influência para beneficiar o ex-ministro Geddel.
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional embargou a construção de um prédio de 30 andares em área tombada de Salvador. Geddel era dono, ali, de um apartamento. Para recuperar-se do estrago em sua imagem, Temer prometeu que vetaria uma possível anistia do caixa dois.
Prometeu e cumpriu.
Uma vez aprovado o pacote da forma como ele havia sido apresentado pelo relator Onyx Lorenzoni (DEM-RS), a esmagadora maioria dos deputados começou a desfigurá-lo por meio de emendas a vários dos seus principais itens.
O pacote de medidas contava com o apoio do Ministério Público e de 2,5 milhões de brasileiros que o assinaram. O que se fez logo de partida? A Câmara aprovou emenda que tipifica o crime de abuso de autoridade para magistrados e integrantes do Ministério Público.
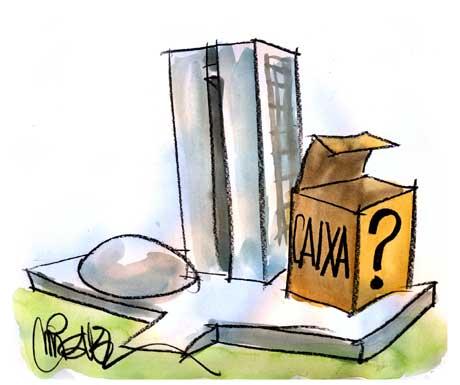
“Os procuradores deram um tiro no pé ao nos pressionarem para aumentar seus poderes”, comemorou o deputado Benício Gama (PTB-BA), vice-lider do governo. Lorenzoni foi vaiado e xingado por colegas ao se opor à aprovação da emenda.
Doravante, se o Senado confirmar a decisão da Câmara e o presidente Michel Temer não vetá-la, os membros do Ministério Público poderão responder pelo crime de abuso de autoridade se, entre outros motivos, promoverem a “instauração de procedimento sem que existam indícios mínimos de prática de algum delito”.
Além da “sanção penal”, o procurador ou promotor poderá ficar “sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado”. Quanto aos juízes, eles poderão ser punidos em pelo menos oito situações.
Uma delas: expressar-se, “por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento”. A pena prevista é de seis meses a dois anos de prisão e multa.
“Está sendo aprovada a lei da intimidação contra promotores, juízes e grandes investigações”, protestou em mensagem postada no Twitter o procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná
Tem mais: a emenda modifica a Lei de Improbidade Administrativa para prever que a pessoa que apresentar representação ou ação contra agente público poderá ser punida com prisão de seis a dois anos e multa, além de ressarcimento por danos materiais e morais se o ato da denúncia ocorrer “de maneira temerária”.
Hoje, a lei só prevê punição para quem fizer denúncia sabendo que o acusado é inocente.
A Câmara também rejeitou a criação do crime de enriquecimento ilícito de servidores públicos e a perda dos bens que o funcionário não conseguir comprovar sua origem, em caso de condenação por outros crimes.
O item do pacote que previa a criação de “o reportante do bem”, espécie de denunciante que teria salvaguardas por informar sobre um caso de corrupção, simplesmente foi eliminado. Também foram eliminadas mudanças para dificultar a ocorrência da prescrição de penas.
A única coisa que a maioria dos deputados abdicou de fazer foi aprovar emenda que anistiasse a doação e o recebimento de dinheiro não declarado à Receita e à Justiça Eleitoral – o caixa dois. Deve-se isso ao ex-ministro Marcelo Callero, da Cultura.
Na semana passada, depois de demitir-se do cargo, Callero atingiu o governo com a denúncia de que ministros e altos funcionários da República, de comum acordo com Temer, haviam feito tráfico de influência para beneficiar o ex-ministro Geddel.
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional embargou a construção de um prédio de 30 andares em área tombada de Salvador. Geddel era dono, ali, de um apartamento. Para recuperar-se do estrago em sua imagem, Temer prometeu que vetaria uma possível anistia do caixa dois.
Prometeu e cumpriu.
A Chapecoense, nossa academia e as simetrias
” Ao destino agradam as repetições, as variantes, as simetrias”, diz Jorge Luís Borges no conto “A trama”, tão curto quanto célebre.
Eu dava esta narrativa como exemplo de uma história curta bem contada a alunos do Brasil meridional que estudavam na Universidade de Ijuí na década de 70. Notei que, entre eles, havia catarinenses que vinham de Chapecó e lembrei-lhes que Lucas Boiteux, autor que pertenceu à Academia Catarinense de Letras, explicara que a etimologia de Chapecó na língua caingangue queria dizer “lugar de onde se vê o caminho da roça”.
Nos dias seguintes, fomos a uma aldeia caingangue ali das redondezas e o cacique perguntou-nos pelo governador Borges de Medeiros, de quem se dizia amigo. Explicamos que ele não era mais governador. O chefe indígena franziu o cenho: “Mas por quê?”. Um de nós lhe disse que o governador tinha morrido. Ele quis saber de quê.
Nenhum de nós soube responder. Fazia quase vinte anos que Borges de Medeiros morrera, aos 98 anos, o que nos deu o ensejo para perguntar a idade do cacique. “Quatro sementes de taquara”, disse o cacique. Só mais tarde fomos saber que a semente de taquara demora de 35 a 40 anos para florescer…
Hoje pela manhã, falei ou troquei mensagens com vários catarinenses, por gosto ou por dever de ofício, e nossa pauta ia ser outra (sou catarinense, tenho muitos amigos em SC, pertenço à Academia Catarinense de Letras, ajudo num projeto editorial da Unisul etc.), mas o assunto era um só: o desastre aéreo que matara todo o time da Chapecoense.
O escritor Oldemar Olsen Jr., que já foi casado com a também escritora Maria Odete Olsen, ambos meus queridos amigos, noticiou um fato grave: com os sentimentos desarrumados pela tragédia, recebeu conselho do irmão mais novo para acalmar-se. Foi, então, que ele percebeu que a coisa era feia: receber conselho de irmão mais novo!
Pois é, uns vivem mais do que Borges de Medeiros, como foi o caso do cacique caigangue. Outros morrem cedo, como os dois irmãos adolescentes que perdi afogados num rio catarinense.
E uns morrem no céu da pátria, a poucos minutos de o avião aterrissar e a um dia de disputarem por Santa Catarina e pelo Brasil o título da Copa Sul-americana.
O jornalista Celso Arnaldo Araujo lembrou há poucas horas que o goleiro Danilo, um dos mortos, fez há poucos dias a maior defesa de sua carreira no último minuto do jogo da Chapecoense contra o San Lorenzo, e que esta defesa custou-lhe a vida hoje!
Ontem, à noite, minha mulher e eu descartamos um filme da Globo que parecia ser de desastre aéreo. E fomos rever mais um episódio de “Lúcia McCartney”, autor brasileiro contemporâneo que eu lia e, admirado, indico a meus alunos desde aquela época. Quando José Henrique Fonseca me convidou para ser consultor do roteiro, tremi de emoção.
Reitero com Borges: “ao destino agradam as repetições, as variantes, as simetrias”.
“Pero, che!”.
Até pensei que fosse minha
Foi num pequeno sótão no Príncipe Real que Lisboa começou a ganhar ares de lar através dos meus olhos. A casinha, sempre enfeitada com flores coloridas, tinha dois pontos que me apaixonavam diariamente. O primeiro era a janela na qual, se eu me esticasse bastante, via a cúpula da Basílica da Estrela. Assim que o sol ameaçava se pôr, era para lá que eu corria.
O outro ponto era a pequenina varanda que dava para uma mansão absolutamente linda e absolutamente triste. O jardim impecável estendia-se por muitos metros. A namoradeira branca não tinha uma única falha na pintura e os degraus nunca tinham folhas secas. Os empregados cuidavam de tudo, eu via muito bem enquanto estendia minhas roupas no varal.

Mas era triste não ver os donos da casa aproveitando nada daquilo. Uma ou duas vezes vi o casal de senhores tomarem um rápido café na varanda. Porém, a maior tristeza daquela casa morava nos brinquedos do jardim. Um balanço, uma gangorra e um escorregador, todos novos e coloridos. Brinquedos sem crianças conseguem ser mais tristes do que crianças sem brinquedos.
Eu diariamente me perguntava onde estariam aqueles prováveis netos cuja ausência transformava um lindo jardim florido em um imenso vazio. Passou dezembro, passou janeiro e fevereiro. O frio começou a afastar-se. Os dias mais longos de março e abril aumentavam a melancolia dos brinquedos inertes. Eu detestava olhar para aquilo.
Era o fim da tarde de um sábado de maio. Eu tinha saído cedo para ler debaixo de sol, comer pão de canela e comprar frutas. Subi os quatro andares de escada e assim que abri a porta comecei a ouvir vozes de crianças. Seria possível? Larguei as sacolas no chão da cozinha e corri para a varanda.
Sim, eles estavam lá. Dois meninos correndo e uma menininha de vestido branco que ainda não andava com muita firmeza, mas encontrava-a nas mãos do avô, que finalmente desceu aqueles degraus. Enquanto a avó se aproximava com uma jarra de suco, eu sentei no chão da minha varanda e senti algumas lágrimas inadequadas rolarem.
Lembrei-me do Chico cantando que a felicidade morava tão vizinha que, de tolo, até pensei que fosse minha. Nunca soube os nomes deles, nem onde viviam as crianças. Nunca pisei naquela casa. Nada naquela história me pertencia. Mas percebi que aquela alegria gratuita pela felicidade alheia, ainda que tão inadequada quanto as lágrimas, era das coisas mais minhas que eu já havia sentido.
Ruth Manus
O outro ponto era a pequenina varanda que dava para uma mansão absolutamente linda e absolutamente triste. O jardim impecável estendia-se por muitos metros. A namoradeira branca não tinha uma única falha na pintura e os degraus nunca tinham folhas secas. Os empregados cuidavam de tudo, eu via muito bem enquanto estendia minhas roupas no varal.

Eu diariamente me perguntava onde estariam aqueles prováveis netos cuja ausência transformava um lindo jardim florido em um imenso vazio. Passou dezembro, passou janeiro e fevereiro. O frio começou a afastar-se. Os dias mais longos de março e abril aumentavam a melancolia dos brinquedos inertes. Eu detestava olhar para aquilo.
Era o fim da tarde de um sábado de maio. Eu tinha saído cedo para ler debaixo de sol, comer pão de canela e comprar frutas. Subi os quatro andares de escada e assim que abri a porta comecei a ouvir vozes de crianças. Seria possível? Larguei as sacolas no chão da cozinha e corri para a varanda.
Sim, eles estavam lá. Dois meninos correndo e uma menininha de vestido branco que ainda não andava com muita firmeza, mas encontrava-a nas mãos do avô, que finalmente desceu aqueles degraus. Enquanto a avó se aproximava com uma jarra de suco, eu sentei no chão da minha varanda e senti algumas lágrimas inadequadas rolarem.
Lembrei-me do Chico cantando que a felicidade morava tão vizinha que, de tolo, até pensei que fosse minha. Nunca soube os nomes deles, nem onde viviam as crianças. Nunca pisei naquela casa. Nada naquela história me pertencia. Mas percebi que aquela alegria gratuita pela felicidade alheia, ainda que tão inadequada quanto as lágrimas, era das coisas mais minhas que eu já havia sentido.
Ruth Manus
Instituições em frangalhos
Perdeu-se o presidente Michel Temer na trapalhada de conceitos que se obriga a oferecer a seus ministros e ao país. Acaba de declarar, em encontro com empresários, que o Brasil não tem instituições sólidas, pois elas são abaladas por qualquer fatozinho que surja.
Com todo o respeito, o Judiciário é uma instituição sólida. A Polícia Federal, também, assim como o Ministério Público. Claro que a Câmara dos Deputados não é, assim como o Ministério. Mas a operação Lava Jato parece feita de granito. E assim por diante, com vantagem para a solidez de boa parte das instituições nacionais. Se o presidente da República duvida, é problema dele.
Com todo o respeito, o Judiciário é uma instituição sólida. A Polícia Federal, também, assim como o Ministério Público. Claro que a Câmara dos Deputados não é, assim como o Ministério. Mas a operação Lava Jato parece feita de granito. E assim por diante, com vantagem para a solidez de boa parte das instituições nacionais. Se o presidente da República duvida, é problema dele.
Sólido é o processo eleitoral, apesar da fragilidade de seus resultados. Ainda agora vai-se desmanchar como sorvete ao sol um grupo de perto de 200 políticos incluídos na lista da Odebretch. Como alguns ministros que deixaram de ser ministros depois da posse de Temer.
Nas colunas de deve e haver, o governo ainda dispõe de saldo positivo. O que não dá para entender é o desânimo presidencial, estendido a uma parte do Ministério.
Ao aderir ao processo de impeachment da antecessora, Michel conseguiu injetar boa dose de esperança no fortalecimento das instituições. Se agora é ele mesmo a duvidar de seus sentimentos, alguma coisa desandou. Talvez a confiança em seus próprios ministros, ainda que se possa dizer que vem colhendo o que plantou.
Estava escrito que determinados ministros se envolveriam em trapalhadas. Cabe-lhe corrigir a escalação do time. Reconhecer o erro é o primeiro passo para a correção de rumos. Faltam dois anos e um mês para a consolidação das instituições. Jamais para deixá-las em frangalhos.
Nas colunas de deve e haver, o governo ainda dispõe de saldo positivo. O que não dá para entender é o desânimo presidencial, estendido a uma parte do Ministério.
Ao aderir ao processo de impeachment da antecessora, Michel conseguiu injetar boa dose de esperança no fortalecimento das instituições. Se agora é ele mesmo a duvidar de seus sentimentos, alguma coisa desandou. Talvez a confiança em seus próprios ministros, ainda que se possa dizer que vem colhendo o que plantou.
Estava escrito que determinados ministros se envolveriam em trapalhadas. Cabe-lhe corrigir a escalação do time. Reconhecer o erro é o primeiro passo para a correção de rumos. Faltam dois anos e um mês para a consolidação das instituições. Jamais para deixá-las em frangalhos.
Despachados e despachantes
Geddel Vieira Lima define-se como “despachado”, autoindulgência dentro da qual faz caber a compreensão peemedebista do que seja a atividade política. Não importa que Geddel já não seja ministro. Ele fica. Tem permanência. A rigor, ele sempre esteve.
Geddel não é indivíduo. É categoria moral. É o político brasileiro essencial. Mas não somente. Diz-se que a classe política nacional se divorciou da sociedade brasileira. Pois eu digo — sem pretensão de originalidade — que isso é mistificação condescendente; e que divórcio haveria se a sociedade brasileira fosse aquilo que pensa ser.
Quando um ministro de Estado, tipo que se considera correto, comporta-se geddelmente (ao gravar o presidente da República) porque ameaçado — intimidado — pelos métodos geddéis, o que avança é o processo de geddelização da vida, não só a pública, no Brasil.
Projetemos uma pesquisa de opinião que, ouvindo cidadãos de todo o país, pedisse ao brasileiro que se definisse em uma palavra — e então o leitor me responda se, em adjetivos vários, não teríamos um conjunto de malandragens que pudesse ser resumido em “despachado”. Hein?
Nós nos classificamos — não sem orgulho — como despachados. Mas não o somos. Não exatamente. Tampouco Geddel o é. A coisa é mais complexa. Uns mais outros menos, nós — Geddel incluído — pendemos a geddel, a categoria moral.
E o nosso partido, aquele para o qual somos vocacionados, é o PMDB, cujos costumes facilitam a leitura de uma sociedade em que a fronteira entre público e privado consiste em massinha de modelar, ajustando-se ao gosto do freguês; sociedade em que traficar influência jamais será traficar influência — não se o agente for nosso amigo querido.

Quantos geddéis você conhece, leitor? E quantas vezes não foi, você mesmo, geddel — ainda que de leve e rapidamente? O ministro indignado que grava o presidente é Calero, mas — insisto — é geddel. O moralista bastião do impeachment de Janete pode ser Pauderney, mas geddeliza quando se refere ao crime de Geddel como algo “paroquial”.
O Tancredo peemedebista fundador que sobe no palanque das Diretas, mas que, nas brechas da ditadura, trabalha febrilmente pela eleição indireta geddel é. E o neto que, acuado pela delação que ainda não há, contemporiza com traficância — como quem mendiga solidariedade futura — chafurda no geddeísmo.
Não importa se mito ou mitômano, geddéis são. O Legislativo no Brasil tornou-se confraria de despachantes em causa própria — e por isso (mas não só) tanto chorou o governo Temer ao perder Geddel, o mestre da interlocução parlamentar despachada. A geddelização do Congresso extinguiu com o antigo baixo clero simplesmente porque agora tudo baixo é.
O geddel André Moura, líder do governo na Câmara, mais do que encher uma carta com assinaturas de deputados em desagravo ao então ainda ministro, declarou que marcharia ao Planalto para lhe entregar o documento em mãos. Claro. Como todo despachado de escol, Geddel é parça, bom de lábia, considerado excelente articulador, peça fundamental para que aos subterrâneos que ligam Executivo e Legislativo não faltasse oxigênio —sendo o termo oxigênio aqui aplicado segundo a definição do novíssimo “Dicionário Sergio Cabral da Baixa Língua Brasileira”.
Para manter o conforto da engrenagem viciada, corrupção é sempre a dos outros, e sempre é coisa menor. Quem se lembra dos “anões do Orçamento”? Quem se lembra de que Geddel já era citado em 1993? Jaca não cai longe de jaqueira. Geddel não brota na Dinamarca. E a ideia deturpada de governabilidade vigente no Brasil é o paraíso reprodutor do geddeísmo.
O mesmo país despachado que elegeu Dilma Rousseff e o PT elegeu Michel Temer e o PMDB. Geddel Vieira Lima foi ministro de Lula tanto quanto de Temer — e, despachante, foi líder na Câmara do governo de Fernando Henrique Cardoso, o príncipe do mensalão da reeleição, e vice-presidente da Caixa na gestão de Janete. Jaca não cai longe de jaqueira.
O brasileiro que hoje se surpreende com o governo Temer não pode se considerar ingênuo — porque isso significaria ser outra coisa e, assim, poder realmente olhar para fora. O brasileiro que se surpreende com o governo Temer — eis a questão — não se reconhece ou não se quer reconhecer; ponto.
Lançou-se às ruas contra os geddéis petistas como se no lugar desses pudesse vir algo que não o Brasil; que não os geddéis peemedebistas, inclusive o próprio Geddel, também ele geddel, também ele brasileiro e despachado, o despachante. A sociedade pendular do PMDB ora com PT ora com PSDB é destino — ou sina.
A sociedade pendular de Geddel ora com PT ora com PSDB é destino — ou sina. A sociedade pendular do brasileiro ora com PT ora com PSDB é destino — ou sina. Não é prudente, pois, comemorar que Geddel, ex-ministro, se foi; porque ele volta. No próximo governo, volta. No próximo apartamento defronte ao mar, ele volta. Enquanto houver o que despachar, volta.
Carlos Andreazza
Geddel não é indivíduo. É categoria moral. É o político brasileiro essencial. Mas não somente. Diz-se que a classe política nacional se divorciou da sociedade brasileira. Pois eu digo — sem pretensão de originalidade — que isso é mistificação condescendente; e que divórcio haveria se a sociedade brasileira fosse aquilo que pensa ser.
Quando um ministro de Estado, tipo que se considera correto, comporta-se geddelmente (ao gravar o presidente da República) porque ameaçado — intimidado — pelos métodos geddéis, o que avança é o processo de geddelização da vida, não só a pública, no Brasil.
Projetemos uma pesquisa de opinião que, ouvindo cidadãos de todo o país, pedisse ao brasileiro que se definisse em uma palavra — e então o leitor me responda se, em adjetivos vários, não teríamos um conjunto de malandragens que pudesse ser resumido em “despachado”. Hein?
Nós nos classificamos — não sem orgulho — como despachados. Mas não o somos. Não exatamente. Tampouco Geddel o é. A coisa é mais complexa. Uns mais outros menos, nós — Geddel incluído — pendemos a geddel, a categoria moral.
E o nosso partido, aquele para o qual somos vocacionados, é o PMDB, cujos costumes facilitam a leitura de uma sociedade em que a fronteira entre público e privado consiste em massinha de modelar, ajustando-se ao gosto do freguês; sociedade em que traficar influência jamais será traficar influência — não se o agente for nosso amigo querido.

Quantos geddéis você conhece, leitor? E quantas vezes não foi, você mesmo, geddel — ainda que de leve e rapidamente? O ministro indignado que grava o presidente é Calero, mas — insisto — é geddel. O moralista bastião do impeachment de Janete pode ser Pauderney, mas geddeliza quando se refere ao crime de Geddel como algo “paroquial”.
O Tancredo peemedebista fundador que sobe no palanque das Diretas, mas que, nas brechas da ditadura, trabalha febrilmente pela eleição indireta geddel é. E o neto que, acuado pela delação que ainda não há, contemporiza com traficância — como quem mendiga solidariedade futura — chafurda no geddeísmo.
Não importa se mito ou mitômano, geddéis são. O Legislativo no Brasil tornou-se confraria de despachantes em causa própria — e por isso (mas não só) tanto chorou o governo Temer ao perder Geddel, o mestre da interlocução parlamentar despachada. A geddelização do Congresso extinguiu com o antigo baixo clero simplesmente porque agora tudo baixo é.
O geddel André Moura, líder do governo na Câmara, mais do que encher uma carta com assinaturas de deputados em desagravo ao então ainda ministro, declarou que marcharia ao Planalto para lhe entregar o documento em mãos. Claro. Como todo despachado de escol, Geddel é parça, bom de lábia, considerado excelente articulador, peça fundamental para que aos subterrâneos que ligam Executivo e Legislativo não faltasse oxigênio —sendo o termo oxigênio aqui aplicado segundo a definição do novíssimo “Dicionário Sergio Cabral da Baixa Língua Brasileira”.
Para manter o conforto da engrenagem viciada, corrupção é sempre a dos outros, e sempre é coisa menor. Quem se lembra dos “anões do Orçamento”? Quem se lembra de que Geddel já era citado em 1993? Jaca não cai longe de jaqueira. Geddel não brota na Dinamarca. E a ideia deturpada de governabilidade vigente no Brasil é o paraíso reprodutor do geddeísmo.
O mesmo país despachado que elegeu Dilma Rousseff e o PT elegeu Michel Temer e o PMDB. Geddel Vieira Lima foi ministro de Lula tanto quanto de Temer — e, despachante, foi líder na Câmara do governo de Fernando Henrique Cardoso, o príncipe do mensalão da reeleição, e vice-presidente da Caixa na gestão de Janete. Jaca não cai longe de jaqueira.
O brasileiro que hoje se surpreende com o governo Temer não pode se considerar ingênuo — porque isso significaria ser outra coisa e, assim, poder realmente olhar para fora. O brasileiro que se surpreende com o governo Temer — eis a questão — não se reconhece ou não se quer reconhecer; ponto.
Lançou-se às ruas contra os geddéis petistas como se no lugar desses pudesse vir algo que não o Brasil; que não os geddéis peemedebistas, inclusive o próprio Geddel, também ele geddel, também ele brasileiro e despachado, o despachante. A sociedade pendular do PMDB ora com PT ora com PSDB é destino — ou sina.
A sociedade pendular de Geddel ora com PT ora com PSDB é destino — ou sina. A sociedade pendular do brasileiro ora com PT ora com PSDB é destino — ou sina. Não é prudente, pois, comemorar que Geddel, ex-ministro, se foi; porque ele volta. No próximo governo, volta. No próximo apartamento defronte ao mar, ele volta. Enquanto houver o que despachar, volta.
Carlos Andreazza
terça-feira, 29 de novembro de 2016
O dia D dos ladrões
Hoje é um dia importante para o Brasil. O Congresso vota (creio) o projeto contra a corrupção assinado por 2,5 milhões de pessoas. Se for desfigurado, com anistia para o caixa 2, a Lava Jato estará ferida de morte. Hoje é mais importante estarmos nas ruas, nas redes sociais, com protestos mais audíveis, porque os corruptos que querem anistia não têm mais pudor algum de inventar “jabutis” venenosos para desconstruir a única coisa boa dessa crise sem dono, sem fim, sem foz. Vaiaram o relator Onyx, riram dele, chamaram-lhe de “babaca a serviço do MPF”.
Agora, mesmo com a declaração de Temer de que vetará qualquer anistia ao caixa 2, os malandros estão na navalha entre o medo de serem presos e a vergonha de votar pelo roubo. E torcem pelo voto secreto.
Não há mais o que analisar, criticar, debater nada. A única coisa que há a se fazer é o protesto.
Os canalhas do Congresso estão em pé de guerra. Estava demorando muito essa reação dos velhacos. Há dois anos, foram pegos de surpresa. Só agora entenderam que eles têm de reagir como, digamos, honrados ladrões orgulhosos, que sabem esconder suas cumbucas e mãos grandes. Querem arrasar tudo que o MPF e a PF fizeram, numa onda inédita de eficiência, ao revelar o esgoto político do país, onde nadam esses caretas, esses medíocres criados na sombra. Eles se refazem como rabo de lagarto, liderados por Renan Calheiros, camaleão do atraso, lugar-tenente do Sarney. E Renan tem pressa porque, dois dias depois, ele será julgado no STF e pode virar réu.
Eles estão indignados como se defendessem uma cultura: eles continuam achando que um país não se governa com esses inócuos slogans purificadores; para eles, fomos progredindo por séculos de hábitos e cacoetes sagrados, com a doce mistura do público com o privado. Eles pensam: “Esse adultério movimentou nossa história. Como agora vêm esses Moros querendo interromper esse ciclo vicioso, mas muito virtuoso?”
Eles acreditam na beleza do clientelismo, com séculos de formação ibérica, no qual um amigo vale mais do que a dura impessoalidade dos cruéis saxões. Eles parecem querer a preservação do imaginário nacional!

Eles nascem nos currais de sua região, escolhidos entre os mais espertos e boçais. Eles buscam captar a alma dos pobres-diabos sem cultura, mais fáceis de serem enganados. A estupidez vence como uma estranha forma de inteligência, uma rara esperteza para golpes sujos e sacos-puxados. Eles são a covardia, a mentira, a ignorância, uma torta escultura feita de gorjetas, de sobras de campanha, de canjica de aniversários e água benta de batismos. Eles são fabricados entre angus e feijoadas do interior, em favores de prefeituras, em pequenos furtos municipais, em conluios perdidos nos grandes sertões. Para eles, não há o tal de “interesse nacional” – para eles, isso só existe na imaginação de alguns parlamentares metidos a intelectuais, que têm uns “frissons” de responsabilidade, uns discursos mais acesos, mas logo diluídos na molenga rotina dos quóruns, nas piadas dos saguões, nas coxas de uma secretária que passa. Para eles, só existem o lucro e o poder impune; senão, qual a vantagem de ser político? Até a anistia internacional está impressionada com a jogada dessa gente.
Eles querem o impensável – o Congresso julgar o Judiciário. Seria genial, pensam eles, o Legislativo dono do país, para eles roubarem em paz. Eles têm saudade do grande Lula, que fê-los florescer como nunca, desde Cabral.
Eles têm um tempo diferente do nosso. Sabem que os brasileiros vivem angustiados, com sensação de urgência. Mas, para eles, isso é problema nosso: apressadinhos comem cru. Que lhes interessa a pressa nacional? É doce morar lentamente dentro dessas cúpulas redondas, não apenas para maracutaias tão “coisas nossas” – é um vago sentimento de poesia brasileira. Querem apenas saber se seu curralzinho está satisfeito. Eles só desejam exercer seus mandatos com mansidão, pastoreando eleitores, sentindo o frisson dos ternos novos, dos bigodes pintados, das amantes nos contracheques, das imunidades para humilhar garçons e policiais. Detestam que os obriguemos a “governar”. Não é preguiça – porque gastam mil horas em comissões e conchavos tortos –, é por amor ao fixo, ao eterno. Eles têm a fantasia erótica de “ser” a sociedade.
Sua ideia de democracia é um vago amor pelos amigos, um quebranto para a camaradagem, a troca de favores, sempre com gestos risonhos, abraçando-se pela barriga, na doce pederastia de uma sociedade secreta. Eles não dão a mínima bola por serem chamados de “patifes” ou “larápios” – eles têm o prazer narcísico de se sentirem superiores a xingamentos, superiores à ridícula moralidade de classe média. Sua única moralidade é vingar-se de inimigos, cobrar lealdade dos corruptores ativos, exigir pagamentos de propina em dia.
Para eles, a efusiva (e hipócrita) amizade é mais importante que essa bobagem de interesse nacional! O que nós chamamos de “irresponsabilidade e corrupção”, para eles é quase a resistência de uma originalidade brasileira.
Por isso, hoje é um dia decisivo.
Os articulistas, como minha pobre pessoa, não têm mais o que analisar. Está tudo aberto como uma grande galinha destrinchada.
E o dia de hoje é fundamental, não apenas para enquadrar os responsáveis, como também para entendermos que mais importante do que apenas denunciar a corrupção é impedir os terríveis danos ao país que ela promove: descaso pela República e incompetência, como foi na era Lula-Dilma.
E já sabemos também que só a pressão da opinião pública pode impedir a dissolução da operação Lava Jato. Espero que o Congresso seja cercado pela sólida presença dos brasileiros contra a anistia dos “amigos do alheio”.
Por isso, perdoem-me o ardor ingênuo de um romantismo militante, perdoem-me erguer o braço e, como um velho revolucionário, berrar: “Avante, povo!”
Agora, mesmo com a declaração de Temer de que vetará qualquer anistia ao caixa 2, os malandros estão na navalha entre o medo de serem presos e a vergonha de votar pelo roubo. E torcem pelo voto secreto.
Não há mais o que analisar, criticar, debater nada. A única coisa que há a se fazer é o protesto.
Os canalhas do Congresso estão em pé de guerra. Estava demorando muito essa reação dos velhacos. Há dois anos, foram pegos de surpresa. Só agora entenderam que eles têm de reagir como, digamos, honrados ladrões orgulhosos, que sabem esconder suas cumbucas e mãos grandes. Querem arrasar tudo que o MPF e a PF fizeram, numa onda inédita de eficiência, ao revelar o esgoto político do país, onde nadam esses caretas, esses medíocres criados na sombra. Eles se refazem como rabo de lagarto, liderados por Renan Calheiros, camaleão do atraso, lugar-tenente do Sarney. E Renan tem pressa porque, dois dias depois, ele será julgado no STF e pode virar réu.
Eles estão indignados como se defendessem uma cultura: eles continuam achando que um país não se governa com esses inócuos slogans purificadores; para eles, fomos progredindo por séculos de hábitos e cacoetes sagrados, com a doce mistura do público com o privado. Eles pensam: “Esse adultério movimentou nossa história. Como agora vêm esses Moros querendo interromper esse ciclo vicioso, mas muito virtuoso?”
Eles acreditam na beleza do clientelismo, com séculos de formação ibérica, no qual um amigo vale mais do que a dura impessoalidade dos cruéis saxões. Eles parecem querer a preservação do imaginário nacional!
Eles querem o impensável – o Congresso julgar o Judiciário. Seria genial, pensam eles, o Legislativo dono do país, para eles roubarem em paz. Eles têm saudade do grande Lula, que fê-los florescer como nunca, desde Cabral.
Eles têm um tempo diferente do nosso. Sabem que os brasileiros vivem angustiados, com sensação de urgência. Mas, para eles, isso é problema nosso: apressadinhos comem cru. Que lhes interessa a pressa nacional? É doce morar lentamente dentro dessas cúpulas redondas, não apenas para maracutaias tão “coisas nossas” – é um vago sentimento de poesia brasileira. Querem apenas saber se seu curralzinho está satisfeito. Eles só desejam exercer seus mandatos com mansidão, pastoreando eleitores, sentindo o frisson dos ternos novos, dos bigodes pintados, das amantes nos contracheques, das imunidades para humilhar garçons e policiais. Detestam que os obriguemos a “governar”. Não é preguiça – porque gastam mil horas em comissões e conchavos tortos –, é por amor ao fixo, ao eterno. Eles têm a fantasia erótica de “ser” a sociedade.
Sua ideia de democracia é um vago amor pelos amigos, um quebranto para a camaradagem, a troca de favores, sempre com gestos risonhos, abraçando-se pela barriga, na doce pederastia de uma sociedade secreta. Eles não dão a mínima bola por serem chamados de “patifes” ou “larápios” – eles têm o prazer narcísico de se sentirem superiores a xingamentos, superiores à ridícula moralidade de classe média. Sua única moralidade é vingar-se de inimigos, cobrar lealdade dos corruptores ativos, exigir pagamentos de propina em dia.
Para eles, a efusiva (e hipócrita) amizade é mais importante que essa bobagem de interesse nacional! O que nós chamamos de “irresponsabilidade e corrupção”, para eles é quase a resistência de uma originalidade brasileira.
Por isso, hoje é um dia decisivo.
Os articulistas, como minha pobre pessoa, não têm mais o que analisar. Está tudo aberto como uma grande galinha destrinchada.
E o dia de hoje é fundamental, não apenas para enquadrar os responsáveis, como também para entendermos que mais importante do que apenas denunciar a corrupção é impedir os terríveis danos ao país que ela promove: descaso pela República e incompetência, como foi na era Lula-Dilma.
E já sabemos também que só a pressão da opinião pública pode impedir a dissolução da operação Lava Jato. Espero que o Congresso seja cercado pela sólida presença dos brasileiros contra a anistia dos “amigos do alheio”.
Por isso, perdoem-me o ardor ingênuo de um romantismo militante, perdoem-me erguer o braço e, como um velho revolucionário, berrar: “Avante, povo!”
Moral imoral
A liberdade, segundo Russell
O princípio da democracia liberal, que inspirou os fundamentos da Constituição Americana, consistia em que as questões controversas deveriam ser decididas, de preferência, por meio de argumentos e não pela força. Os liberais sempre afirmaram que as opiniões deviam formar-se por livre debate, e não permitindo que apenas uma das partes fosse ouvida. Os governos tirânicos, tanto antigos como modernos, adotaram o ponto de vista oposto. Por minha parte, não vejo razão para se abandonar, neste ponto, a tradição liberal. Se eu estivesse no poder, não procuraria impedir que os meus adversários fossem ouvidos.
Esforçar-me-ia por proporcionar iguais facilidades para a manifestação de quaisquer opiniões, deixando os resultados entregues às consequências da discussão e do debate. Entre as vítimas acadêmicas da perseguição alemã na Polônia, há, tanto quanto sei, alguns lógicos eminentes que são católicos ortodoxos integrais. Eu faria tudo o que pudesse para conseguir posições acadêmicas para esses homens, apesar dos seus correlegionários não retribuírem tal cortesia.
A diferença fundamental entre o ponto de vista liberal e não-liberal é que o primeiro considera todas as questões possíveis de discussão e todas as opiniões susceptíveis de um maior ou menor grau de dúvida, enquanto a última afirma, de antemão, que algumas opiniões são absolutamente indiscutíveis e que não se deve permitir qualquer argumento contra elas. O que é curioso a respeito dessa posição é a crença de que, se se permitisse uma investigação imparcial, esta levaria os homens a uma conclusão errada, e que a ignorância é , por conseguinte, a única salvaguarda contra o erro. Este é um ponto de vista que não pode ser aceite por nenhum homem que deseje que as ações humanas sejam mais dirigidas pela razão do que pelo preconceito.

Foi o ponto de vista liberal que levou a Inglaterra e a Holanda, nos últimos anos do século XVII, a reagirem contra as guerras religiosas. Tais guerras grassaram com grande fúria por espaço de 130 anos, sem que trouxessem a vitória a nenhuma das partes. Cada lado tinha absoluta certeza de estava com a razão e que a sua vitória era de suprema importância para a humanidade. Por fim, alguns homens sensatos cansaram -se da luta indecisa e decidiram que ambos os lados estavam equivocados quanto à sua certeza dogmática. John Locke, que exprimiu tanto na política como na filosofia esse novo ponto de vista , escreveu no começo de uma era de tolerância crescente. Realçou a falibilidade dos juízos humanos e enveredou por uma era de progresso que durou até 1914. É devido à influência de Locke e da sua escola que os católicos desfrutam de tolerância em países protestantes , e os protestantes em países católicos. Nas controvérsias do século XVII os homens aprenderam , mais ou menos, a lição da tolerância, mas, no que toca às novas controvérsias surgidas desde o fim da Primeira Guerra Mundial, as esclarecidas máximas dos filósofos do liberalismo foram esquecidas.
Não nos sentimos horrorizados com os quakers, como se sentiam os piedosos cristãos da corte de Carlos II, mas horrorizamo-nos diante dos homens que aplicam aos problemas de hoje as mesmas ideias e os mesmos princípios que os quakers do século XVII aplicavam à sua época. Há opiniões de que discordamos, que adquirem , pela sua antiguidade, uma certa respeitabilidade, mas uma opinião nova da qual não compartilhamos parece-nos, invariavelmente, chocante.
Há dois pontos de vista possíveis quanto ao funcionamento da democracia. Segundo um desse pontos de vista , as opiniões da maioria deviam prevalecer, de maneira absoluta, em todos os terrenos. Segundo a outra maneira de ver, sempre que uma decisão comum não é necessária , deveriam ser apresentadas opiniões diferentes, tanto quanto possível, em proporção com a sua frequência numérica. O resultado desses dois pontos de vista é, na prática, muito diferente. De acordo com o primeiro, quando a maioria já decidiu acerca de uma opinião, não se deve limitar-se a canais obscuros e pouco influentes. De acordo com o outro ponto de vista, as opiniões da minoria devem ter as mesmas oportunidades de expressão que as opiniões da maioria, mas somente em menor grau.
(...) Depois do fim da Primeira Guerra Mundial, renasceu a intolerância fanática até se tornar, numa grande parte do mundo, tão virulenta como durante as guerras religiosas. Todos os que se opõem à livre discussão e procuram impor uma censura às opiniões a que os jovens se acham expostos, estão a contribuir para o aumento desse fanatismo e a mergulhar ainda mais no abismo de lutas e intolerância de que Locke e os seus colaboradores os livraram.
Bertrand Russell, "Porque não sou cristão"
A diferença fundamental entre o ponto de vista liberal e não-liberal é que o primeiro considera todas as questões possíveis de discussão e todas as opiniões susceptíveis de um maior ou menor grau de dúvida, enquanto a última afirma, de antemão, que algumas opiniões são absolutamente indiscutíveis e que não se deve permitir qualquer argumento contra elas. O que é curioso a respeito dessa posição é a crença de que, se se permitisse uma investigação imparcial, esta levaria os homens a uma conclusão errada, e que a ignorância é , por conseguinte, a única salvaguarda contra o erro. Este é um ponto de vista que não pode ser aceite por nenhum homem que deseje que as ações humanas sejam mais dirigidas pela razão do que pelo preconceito.

Não nos sentimos horrorizados com os quakers, como se sentiam os piedosos cristãos da corte de Carlos II, mas horrorizamo-nos diante dos homens que aplicam aos problemas de hoje as mesmas ideias e os mesmos princípios que os quakers do século XVII aplicavam à sua época. Há opiniões de que discordamos, que adquirem , pela sua antiguidade, uma certa respeitabilidade, mas uma opinião nova da qual não compartilhamos parece-nos, invariavelmente, chocante.
Há dois pontos de vista possíveis quanto ao funcionamento da democracia. Segundo um desse pontos de vista , as opiniões da maioria deviam prevalecer, de maneira absoluta, em todos os terrenos. Segundo a outra maneira de ver, sempre que uma decisão comum não é necessária , deveriam ser apresentadas opiniões diferentes, tanto quanto possível, em proporção com a sua frequência numérica. O resultado desses dois pontos de vista é, na prática, muito diferente. De acordo com o primeiro, quando a maioria já decidiu acerca de uma opinião, não se deve limitar-se a canais obscuros e pouco influentes. De acordo com o outro ponto de vista, as opiniões da minoria devem ter as mesmas oportunidades de expressão que as opiniões da maioria, mas somente em menor grau.
(...) Depois do fim da Primeira Guerra Mundial, renasceu a intolerância fanática até se tornar, numa grande parte do mundo, tão virulenta como durante as guerras religiosas. Todos os que se opõem à livre discussão e procuram impor uma censura às opiniões a que os jovens se acham expostos, estão a contribuir para o aumento desse fanatismo e a mergulhar ainda mais no abismo de lutas e intolerância de que Locke e os seus colaboradores os livraram.
Bertrand Russell, "Porque não sou cristão"
O debate à esquerda
Dentre os vários ensinamentos que a história e a sociologia política nos legaram está a noção de que “conceitos são palavras em seus contextos”. Tanto mais se o conceito em questão guarda uma polissemia construída historicamente. É esse precisamente o caso da noção de “esquerda”, assimilada como um conceito que, no plano político, deve ser pensado de maneira relacional. Assim, em relação à esquerda talvez não se deva buscar nem uma normativa fora da história nem uma suposta evolução conceitual que derive em significados absolutos e imutáveis.
Olhando historicamente, é constatável que a esquerda pode, muitas vezes, estar ausente ou ser muito rarefeita num determinado sistema de forças políticas, tornando difícil sua identificação. Não é incomum que a esquerda se mostre dividida em vários grupos, sem que se possa dizer qual deles é mais representativo ou autêntico. Também não são poucas as ocasiões em que a esquerda se expressa como uma força antagônica ao sistema social, ou como conciliatória no sistema político, não se descartando até mesmo uma combinação, às vezes surpreendente, entre ambas. Desnecessário dizer, portanto, que estamos diante de um universo de possibilidades quase infinito.
Em função da crise vivenciada pelo PT e do debate que está provocando, nota-se que não raro emergem equívocos de interpretação a respeito dos problemas de identidade da esquerda. Por vezes vemos predominar nas intervenções de intelectuais e políticos um reiterado dogmatismo, ao se sugerirem diversos invólucros para abrigar o que seria uma “verdadeira esquerda”, como uma espécie de Graal capaz de dirigir as massas que, em tese, estariam dispostas a se manter vinculadas ao PT ou ao que vier a emergir da sua crise.
Há problemas de diagnóstico no enfrentamento da crise do PT e dos destinos da esquerda brasileira. Além do corporativismo, do personalismo e do reconhecimento do que agora se chama de “reformismo fraco” promovido pelo lulismo, justificadamente levantados, há questionamentos mais amplos a respeito da visão totalitária presente em parcelas da esquerda, da sua inclinação ao adesismo e, por fim, do seu viés populista.

A retomada do tema do totalitarismo dá a impressão de um recuo no tempo. É curioso observar que a parcela da esquerda brasileira que há anos rechaça práticas do totalitarismo seja desconsiderada no debate, especialmente aquela que assumiu como central a perspectiva da “democracia como valor universal”. Imaginava-se que o PT também havia cumprido esse percurso, mas depois se percebeu que entre seus dirigentes havia mais retórica do que convicção nessa direção. De resto, felizmente, a esquerda que valida práticas totalitárias é, entre nós, residual. Surpreende, contudo, termos de retornar a tal ponto para pensarmos numa “reconstrução da esquerda”. Talvez esse seja um forte indicativo das limitações intelectuais que esse campo sofre para avaliar o fracasso do petismo e os desafios do futuro.
O mesmo se dá com tema do adesismo, uma ideia banal presente no imaginário esquerdista. Trata-se de uma definição de esquerda a partir do seu status antissistema, de sua eterna vocação anti-institucional. Suspeita-se da incorporação da esquerda ao sistema da democracia representativa e da afirmação de uma “esquerda de governo”, quer como líder de uma coalizão, quer como um dos partidos coligados de um governo democrática e constitucionalmente instituído. Esse fantasma martiriza a esquerda por se temer uma identificação com a social-democracia ou com um “reformismo” que busque soluções positivas por meio de reformas institucionais, de programas sociais universalistas e de transformações culturais democráticas e emancipadoras. Na velha linguagem, o que há é o temor de que a esquerda administre o capitalismo, como se essa fosse a questão definidora no nosso tempo. Novamente há um retorno a uma abordagem antiga, tornando inviável um diagnóstico mais preciso da crise e dos elementos teóricos que devem ser mobilizados para a reconstrução da esquerda, especialmente diante de um cenário de ruínas deixado pelo petismo e de um contexto mundial cheio de sobressaltos e riscos para o País.
O populismo, por fim, é um problema mais profundo. Trata-se de um conceito fracassado na interpretação da história latino-americana. Contudo o que chamamos hoje de populismo, vindo da esquerda ou da direita, ultrapassa suas origens, fronteiras e seus marcos históricos de referência, manifestando-se essencialmente, e em perspectiva, como uma política de rechaço à democracia. Para se afirmar como “antielitista” o populismo mobiliza o conceito de “democracia iliberal” para relativizar seu rechaço aos sistemas democráticos do nosso tempo. Caracterizado como ideologia ou apenas como uma retórica, o fato é que a contraposição entre populismo e democracia indica que não poderá haver uma esquerda democrática que compactue ou coqueteie com o populismo. As experiências recentes do bolivarianismo, que arrasaram a economia da Argentina e da Venezuela, comprovam tal evidência.
No Brasil, esse problema é visto de soslaio e se perde num escapismo que não consegue dar conta de explicar que as razões do fracasso do PT repousam mais no colapso do esquema mafioso de poder e de uma política econômica desastrosa do que da imposição de um “populismo orgânico”. O PT, de bom grado, deixou-se assenhorear por Lula e hoje vive para defendê-lo. Sendo impossível deslocar seu protagonismo, Lula passou a ser um poderoso obstáculo para que a esquerda, a partir do petismo, se reinvente no País.
O debate em torno do futuro da esquerda brasileira deve ser mais exigente e se pôr à altura dos desafios do nosso tempo, buscando um novo lugar no mundo para o Brasil, e não se pautar por um catálogo antigo dos pecados cometidos pela esquerda histórica.
Olhando historicamente, é constatável que a esquerda pode, muitas vezes, estar ausente ou ser muito rarefeita num determinado sistema de forças políticas, tornando difícil sua identificação. Não é incomum que a esquerda se mostre dividida em vários grupos, sem que se possa dizer qual deles é mais representativo ou autêntico. Também não são poucas as ocasiões em que a esquerda se expressa como uma força antagônica ao sistema social, ou como conciliatória no sistema político, não se descartando até mesmo uma combinação, às vezes surpreendente, entre ambas. Desnecessário dizer, portanto, que estamos diante de um universo de possibilidades quase infinito.
Em função da crise vivenciada pelo PT e do debate que está provocando, nota-se que não raro emergem equívocos de interpretação a respeito dos problemas de identidade da esquerda. Por vezes vemos predominar nas intervenções de intelectuais e políticos um reiterado dogmatismo, ao se sugerirem diversos invólucros para abrigar o que seria uma “verdadeira esquerda”, como uma espécie de Graal capaz de dirigir as massas que, em tese, estariam dispostas a se manter vinculadas ao PT ou ao que vier a emergir da sua crise.
Há problemas de diagnóstico no enfrentamento da crise do PT e dos destinos da esquerda brasileira. Além do corporativismo, do personalismo e do reconhecimento do que agora se chama de “reformismo fraco” promovido pelo lulismo, justificadamente levantados, há questionamentos mais amplos a respeito da visão totalitária presente em parcelas da esquerda, da sua inclinação ao adesismo e, por fim, do seu viés populista.

A retomada do tema do totalitarismo dá a impressão de um recuo no tempo. É curioso observar que a parcela da esquerda brasileira que há anos rechaça práticas do totalitarismo seja desconsiderada no debate, especialmente aquela que assumiu como central a perspectiva da “democracia como valor universal”. Imaginava-se que o PT também havia cumprido esse percurso, mas depois se percebeu que entre seus dirigentes havia mais retórica do que convicção nessa direção. De resto, felizmente, a esquerda que valida práticas totalitárias é, entre nós, residual. Surpreende, contudo, termos de retornar a tal ponto para pensarmos numa “reconstrução da esquerda”. Talvez esse seja um forte indicativo das limitações intelectuais que esse campo sofre para avaliar o fracasso do petismo e os desafios do futuro.
O mesmo se dá com tema do adesismo, uma ideia banal presente no imaginário esquerdista. Trata-se de uma definição de esquerda a partir do seu status antissistema, de sua eterna vocação anti-institucional. Suspeita-se da incorporação da esquerda ao sistema da democracia representativa e da afirmação de uma “esquerda de governo”, quer como líder de uma coalizão, quer como um dos partidos coligados de um governo democrática e constitucionalmente instituído. Esse fantasma martiriza a esquerda por se temer uma identificação com a social-democracia ou com um “reformismo” que busque soluções positivas por meio de reformas institucionais, de programas sociais universalistas e de transformações culturais democráticas e emancipadoras. Na velha linguagem, o que há é o temor de que a esquerda administre o capitalismo, como se essa fosse a questão definidora no nosso tempo. Novamente há um retorno a uma abordagem antiga, tornando inviável um diagnóstico mais preciso da crise e dos elementos teóricos que devem ser mobilizados para a reconstrução da esquerda, especialmente diante de um cenário de ruínas deixado pelo petismo e de um contexto mundial cheio de sobressaltos e riscos para o País.
O populismo, por fim, é um problema mais profundo. Trata-se de um conceito fracassado na interpretação da história latino-americana. Contudo o que chamamos hoje de populismo, vindo da esquerda ou da direita, ultrapassa suas origens, fronteiras e seus marcos históricos de referência, manifestando-se essencialmente, e em perspectiva, como uma política de rechaço à democracia. Para se afirmar como “antielitista” o populismo mobiliza o conceito de “democracia iliberal” para relativizar seu rechaço aos sistemas democráticos do nosso tempo. Caracterizado como ideologia ou apenas como uma retórica, o fato é que a contraposição entre populismo e democracia indica que não poderá haver uma esquerda democrática que compactue ou coqueteie com o populismo. As experiências recentes do bolivarianismo, que arrasaram a economia da Argentina e da Venezuela, comprovam tal evidência.
No Brasil, esse problema é visto de soslaio e se perde num escapismo que não consegue dar conta de explicar que as razões do fracasso do PT repousam mais no colapso do esquema mafioso de poder e de uma política econômica desastrosa do que da imposição de um “populismo orgânico”. O PT, de bom grado, deixou-se assenhorear por Lula e hoje vive para defendê-lo. Sendo impossível deslocar seu protagonismo, Lula passou a ser um poderoso obstáculo para que a esquerda, a partir do petismo, se reinvente no País.
O debate em torno do futuro da esquerda brasileira deve ser mais exigente e se pôr à altura dos desafios do nosso tempo, buscando um novo lugar no mundo para o Brasil, e não se pautar por um catálogo antigo dos pecados cometidos pela esquerda histórica.
O honesto perigoso está fazendo falta ao Brasil
“Achtung Baby” foi um dos álbuns de maior sucesso da banda de rock irlandesa U2. Numa de suas mais conhecidas canções, o primeiro verso chama a atenção: ‘You’redangerous, cause you’rehonest’. Traduzindo: ‘Você é perigoso, porque é honesto’. Sempre recordo desse verso quando reflito sobre alguns episódios que testemunhei ou acompanhei na vida pública. Em alguns círculos, a simples presença de uma pessoa honesta gera imenso desconforto. A honestidade causa constrangimentos, pois introduz um elemento estranho ao ambiente, inibindo conversações e atrapalhando negócios.
Pior: em muitos casos, para a maioria dos seus colegas, o honesto representa um mau exemplo, uma influência negativa e até mesmo um risco a ser contido, silenciado, isolado e, de preferência, eliminado.
Em certas situações, todavia, há tolerância com a honestidade, desde que ela seja inofensiva, ou seja, omissa, inerte, passiva, acomodada e contente. O honesto perigoso é o indignado, o inconformado, o ruidoso e, sobretudo, o independente.
Tenho externado muitas vezes a firme convicção de que a maioria dos cidadãos é honesta, assim como a maioria dos gestores, líderes sociais e dirigentes políticos. Contudo, reconheço que às vezes penso que o país estaria mais bem servido se houvesse um maior número de honestos perigosos.
De outro lado, vale lembrar que a honestidade é uma virtude necessária, porém absolutamente insuficiente. A cultura política tradicional ainda é bastante assombrada pelo mito do ‘rouba, mas faz’. Tal entendimento representa uma espécie de indulgência para com a corrupção, desde que sejam feitas obras, muitas obras, mesmo superfaturadas, desnecessárias ou inacabadas. Entre o gestor que é reconhecido como honesto, mas acusado de inoperante, e aquele corrupto com fama de empreendedor, ainda há uma expressiva parcela da opinião pública que repete a escolha da multidão de Jerusalém que, diante da opção oferecida por Pôncio Pilatos, preferiu libertar Barrabás.
A literatura política registra o caso de um ex-prefeito do Rio, intocável no quesito honestidade, mas que concluiu sua gestão com altos índices de impopularidade. Seus críticos diziam que ele tinha desmoralizado a honradez. Alguns dos seus sucessores, bem mais flexíveis no aspecto ético, foram aclamados como realizadores.
Assim como Jesus Cristo recomendou aos apóstolos que fossem simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, é necessário que os nossos honestos sejam perigosos, como na música do U2, mas também habilidosos para driblar as armadilhas dos lobos.
Pior: em muitos casos, para a maioria dos seus colegas, o honesto representa um mau exemplo, uma influência negativa e até mesmo um risco a ser contido, silenciado, isolado e, de preferência, eliminado.
Em certas situações, todavia, há tolerância com a honestidade, desde que ela seja inofensiva, ou seja, omissa, inerte, passiva, acomodada e contente. O honesto perigoso é o indignado, o inconformado, o ruidoso e, sobretudo, o independente.
Tenho externado muitas vezes a firme convicção de que a maioria dos cidadãos é honesta, assim como a maioria dos gestores, líderes sociais e dirigentes políticos. Contudo, reconheço que às vezes penso que o país estaria mais bem servido se houvesse um maior número de honestos perigosos.
De outro lado, vale lembrar que a honestidade é uma virtude necessária, porém absolutamente insuficiente. A cultura política tradicional ainda é bastante assombrada pelo mito do ‘rouba, mas faz’. Tal entendimento representa uma espécie de indulgência para com a corrupção, desde que sejam feitas obras, muitas obras, mesmo superfaturadas, desnecessárias ou inacabadas. Entre o gestor que é reconhecido como honesto, mas acusado de inoperante, e aquele corrupto com fama de empreendedor, ainda há uma expressiva parcela da opinião pública que repete a escolha da multidão de Jerusalém que, diante da opção oferecida por Pôncio Pilatos, preferiu libertar Barrabás.
A literatura política registra o caso de um ex-prefeito do Rio, intocável no quesito honestidade, mas que concluiu sua gestão com altos índices de impopularidade. Seus críticos diziam que ele tinha desmoralizado a honradez. Alguns dos seus sucessores, bem mais flexíveis no aspecto ético, foram aclamados como realizadores.
Assim como Jesus Cristo recomendou aos apóstolos que fossem simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, é necessário que os nossos honestos sejam perigosos, como na música do U2, mas também habilidosos para driblar as armadilhas dos lobos.
Amor bandido
Penso que nada prova melhor a extensão da encrenca em que estamos metidos do que o assíduo comparecimento da expressão "só isso não resolve" em todos os discursos e análises de conjuntura. E não importa se estamos falando de problemas sociais, políticos ou econômicos. Não faz diferença, tampouco, se o que está em discussão é projeto singelo ou pacote de espectro mais amplo, como o anunciado na última segunda-feira pelo governador Sartori. Tudo que se proponha no Brasil peca pela insuficiência.

O Estado é um ente gastador. Dotado de apetite voraz, consome todo o dinheiro que lhe seja proporcionado. Se, milagrosamente, revertêssemos o quadro atual e dona Receita se tornasse superior à dona Despesa, esta imediatamente dispararia em busca daquela, puxando-a pelos cabelos. São duas irmãs que não se dão bem, como a gente sabe, mas Despesa, em definitivo, não gosta de se sentir menor do que Receita. O Rio de Janeiro faz prova disso. Durante anos, foi um Estado privilegiado por acrescentar robustos royalties de petróleo às suas receitas tributárias. Resultado: o Rio nivelou sua despesa corrente num patamar ainda mais elevado. E agora soma às perdas advindas da recessão uma grande redução dos royalties que recebe. Quebrou mais do que os outros.
Em fins de 2005, Antonio Palocci estava alinhavando um plano para atingir e manter elevado superávit nos anos por vir. Jornais da época ajudam a lembrar o fato. O superávit primário já fora 4,5%, beirava os 5%, e o ministro queria manter a pressão sobre o gasto público. Dilma Rousseff, porém, como chefe da Casa Civil, fuzilou as intenções de longo prazo com uma frase que entrou para a História: "...despesa corrente é vida: ou você proíbe o povo de nascer, de morrer, de comer ou de adoecer, ou vai ter despesas correntes". Em dose errada, essa receita mata. A partir de então, o Brasil traçou seu rumo para um lugar de destaque no quadro de fracassos keynesianos e desenvolvimentistas. A economia afundou e o superávit virou déficit de 2,8% do PIB neste já histórico 2016.
O PIB real brasileiro está 7% abaixo do que era em 2013! Se somarmos a isso o que deveríamos ter crescido, caso mantivéssemos a média das últimas décadas (parcos 2,5% ao ano), constataremos que a perda efetiva se eleva a algo como 15% nesses três anos. Mas as despesas correntes, aquela peculiar forma de vida, continuaram crescendo. É o número que falta hoje, a grosso modo, no caixa de todos os governantes. Buraco dessa fundura não se preenche sequer em médio prazo. Precisaríamos prover condições que não temos para um crescimento padrão chinês.
Governos perdulários atendem demandas, colhem afetos e sorrisos. São vistos como benevolentes e amorosos. Mas é um amor bandido. Dá com uma das mãos o que, ali adiante, tomará com as duas, levando empregos, destroçando esperanças, comprometendo o futuro e incapacitando o Estado para o cumprimento de funções essenciais. Aprender dos próprios erros, pela pedagogia do desastre, é a mais sofrida aprendizagem. Mas sinto que está sendo bem-sucedida. Se Sartori dispusesse de tempo e submetesse seu pacote a um referendo, receberia amplo respaldo popular. A sociedade entendeu a lição na sala de aula da realidade.
O amor bandido faz da irresponsabilidade fiscal instrumento de sedução. Pulsa coraçõezinhos com ambas as mãos. Coleciona gratidões passageiras. E semeia tempestades cujos maiores danos incidem sobre os mais miseráveis entre os pagadores de impostos. No setor público, em suas mais importantes esferas, não há razoabilidade na pretensão de viver fora da crise. Não é justo que recebam primeiro os funcionários que ganham mais, nem que os poderes do Estado cobrem, em valor real, duodécimos de receita virtual. Quando um avião entra em zona de turbulência, não podem os passageiros da primeira classe pretender que sua cabine não sacoleje.
Percival Puggina

Em fins de 2005, Antonio Palocci estava alinhavando um plano para atingir e manter elevado superávit nos anos por vir. Jornais da época ajudam a lembrar o fato. O superávit primário já fora 4,5%, beirava os 5%, e o ministro queria manter a pressão sobre o gasto público. Dilma Rousseff, porém, como chefe da Casa Civil, fuzilou as intenções de longo prazo com uma frase que entrou para a História: "...despesa corrente é vida: ou você proíbe o povo de nascer, de morrer, de comer ou de adoecer, ou vai ter despesas correntes". Em dose errada, essa receita mata. A partir de então, o Brasil traçou seu rumo para um lugar de destaque no quadro de fracassos keynesianos e desenvolvimentistas. A economia afundou e o superávit virou déficit de 2,8% do PIB neste já histórico 2016.
O PIB real brasileiro está 7% abaixo do que era em 2013! Se somarmos a isso o que deveríamos ter crescido, caso mantivéssemos a média das últimas décadas (parcos 2,5% ao ano), constataremos que a perda efetiva se eleva a algo como 15% nesses três anos. Mas as despesas correntes, aquela peculiar forma de vida, continuaram crescendo. É o número que falta hoje, a grosso modo, no caixa de todos os governantes. Buraco dessa fundura não se preenche sequer em médio prazo. Precisaríamos prover condições que não temos para um crescimento padrão chinês.
Governos perdulários atendem demandas, colhem afetos e sorrisos. São vistos como benevolentes e amorosos. Mas é um amor bandido. Dá com uma das mãos o que, ali adiante, tomará com as duas, levando empregos, destroçando esperanças, comprometendo o futuro e incapacitando o Estado para o cumprimento de funções essenciais. Aprender dos próprios erros, pela pedagogia do desastre, é a mais sofrida aprendizagem. Mas sinto que está sendo bem-sucedida. Se Sartori dispusesse de tempo e submetesse seu pacote a um referendo, receberia amplo respaldo popular. A sociedade entendeu a lição na sala de aula da realidade.
O amor bandido faz da irresponsabilidade fiscal instrumento de sedução. Pulsa coraçõezinhos com ambas as mãos. Coleciona gratidões passageiras. E semeia tempestades cujos maiores danos incidem sobre os mais miseráveis entre os pagadores de impostos. No setor público, em suas mais importantes esferas, não há razoabilidade na pretensão de viver fora da crise. Não é justo que recebam primeiro os funcionários que ganham mais, nem que os poderes do Estado cobrem, em valor real, duodécimos de receita virtual. Quando um avião entra em zona de turbulência, não podem os passageiros da primeira classe pretender que sua cabine não sacoleje.
Percival Puggina
Temer reclamar das instituições é como comandante de navio esculachar o mar
Estreou em Brasília, na noite desta segunda-feria, um espetáculo político inédito. Nele, Michel Temer, no papel de si mesmo, vive o drama de um mandatário cofuso, que cospe no prato em que não consegue comer. O personagem deve sua presença no comando do Executivo à solidez das instituições. Em meio à crise, foi alçado ao topo da República como solução constitucional implementada pelo Legislativo, sob a supervisão do Judiciário. Súbito, vai à boca do palco para expectorar desaforos sobre as instituições que lhe asseguram o poder.
Dirigindo-se a uma plateia amiga, feita de empresários e investidores, Temer sapecou: ''Os senhores imaginam o capital estrangeiro como está ansioso para aplicar no Brasil. Aliás, os senhores sabem melhor do que eu. Mas é interessante que, de vez em quando, há uma certa instabilidade institucional com um fato ou outro. Como não temos instituições muito sólidas, qualquer fatozinho, me permitam a expressão, abala as instituições.''

O ‘fatozinho’ a que se refere Temer é o caso do ministro que foi apanhado com lanças em punho, guerreando contra o interesse público para salvar o negócio privado da compra de um apartamento milionário em Salvador. O episódio converteu-se num ‘fatozão’ no instante em que Temer decidiu transformar a agenda imobiliária do amigo Geddel Vieira Lima num processo de desmoralização de sua Presidência. Era uma crise localizada. Irradiou-se para o governo depois que Marcelo Calero deixou a pasta da Cultura batendo a porta.
''O investidor fica um pouco assustado, sendo o investidor nacional e muito maiormente o investidor estrangeiro”, disse Temer. “Mas essas instabilidades são passageiras e não podem ser levadas a sério, porque levado a sério tem de ser o país.'' Levando-se em conta que os brasileiros que não toleram brincadeiras com seu país rosnam para o governo nas redes sociais enquanto se preparam para voltar às ruas, Temer parece considerar que o Brasil, para tornar-se mais estável, precisa trocar de povo.
Esse povo que aí está não consegue compreender que Temer apenas repete em cena o velho enredo do gestor que, rendido às circunstâncias, promote o avanço econômico com os pés fincados no atraso político em que se misturam o patrimonialismo e a corrupção. De saco cheio, o povo se divide em dois grupos. Num, estão os brasileiros que acham que o governo é tocado por pessoas capazes de tudo. Noutro, encontram-se os patrícios que acreditam que a máquina pública é tocada por pessoas incapazes de todo. Nenhuma das duas alas está preparada para oferecer o país tranquilo que os investidores precisam.
Como não ficaria bem para um presidente da República esculhambar o povo do seu país, Temer reclama das instituições, que “não são muito sólidas”. Além de inédito, o espetáculo é confuso. Deve doer em Temer o destino que a história lhe reservou. Ao reclamar das instituições que o levaram à cabine de comando, o substituto constitucional da presidente que foi impedida fica numa posição parecida à de um comandante de navio que se queixa da existência do mar.
Dirigindo-se a uma plateia amiga, feita de empresários e investidores, Temer sapecou: ''Os senhores imaginam o capital estrangeiro como está ansioso para aplicar no Brasil. Aliás, os senhores sabem melhor do que eu. Mas é interessante que, de vez em quando, há uma certa instabilidade institucional com um fato ou outro. Como não temos instituições muito sólidas, qualquer fatozinho, me permitam a expressão, abala as instituições.''

''O investidor fica um pouco assustado, sendo o investidor nacional e muito maiormente o investidor estrangeiro”, disse Temer. “Mas essas instabilidades são passageiras e não podem ser levadas a sério, porque levado a sério tem de ser o país.'' Levando-se em conta que os brasileiros que não toleram brincadeiras com seu país rosnam para o governo nas redes sociais enquanto se preparam para voltar às ruas, Temer parece considerar que o Brasil, para tornar-se mais estável, precisa trocar de povo.
Esse povo que aí está não consegue compreender que Temer apenas repete em cena o velho enredo do gestor que, rendido às circunstâncias, promote o avanço econômico com os pés fincados no atraso político em que se misturam o patrimonialismo e a corrupção. De saco cheio, o povo se divide em dois grupos. Num, estão os brasileiros que acham que o governo é tocado por pessoas capazes de tudo. Noutro, encontram-se os patrícios que acreditam que a máquina pública é tocada por pessoas incapazes de todo. Nenhuma das duas alas está preparada para oferecer o país tranquilo que os investidores precisam.
Como não ficaria bem para um presidente da República esculhambar o povo do seu país, Temer reclama das instituições, que “não são muito sólidas”. Além de inédito, o espetáculo é confuso. Deve doer em Temer o destino que a história lhe reservou. Ao reclamar das instituições que o levaram à cabine de comando, o substituto constitucional da presidente que foi impedida fica numa posição parecida à de um comandante de navio que se queixa da existência do mar.
Universidade tradicional ou corporativa
Durante séculos, desde a criação da Universidade de Bolonha, nos acostumamos aos modelos de educação em que demandas tradicionais eram atendidas pela oferta de cursos convencionais, conduzindo a diplomas formais, sujeitos à legislação de cada país, e que habilitavam ao exercício profissional.
Com o advento da sociedade do conhecimento, resultado dos acelerados avanços da ciência e da criação de novas tecnologias, passamos a ter que preparar jovens para profissões que ainda não existem e para tecnologias que ainda não foram geradas. Por outro lado, as empresas são cada vez mais forçadas a incrementar a sua competitividade, para que permaneçam "vivas" num cenário de crescente seletividade.
Por isso, muitas empresas começaram a ver seus quadros técnicos como potenciais “alunos não convencionais”, que necessitavam de “cursos não formais” específicos que, mesmo sem oferecer certificados ou diplomas formais, os preparassem para o enfrentamento dos inúmeros desafios que se colocavam nas suas atividades diárias.
Assim, foram implantadas as universidades corporativas, com o objetivo de desenvolver as competências determinantes para o negócio da empresa.
A primeira surgiu nos Estados Unidos, nos anos 1920, numa ação pioneira da General Motors, que construiu uma escola noturna para familiarizar seus técnicos com as linhas de montagem da indústria automotiva. Sua iniciativa foi tão bem sucedida que, em 1997, se transformou numa universidade independente, a Kettering University.
Hoje, as universidades corporativas naquele país são em número próximo ao das universidades convencionais.
No Brasil, elas começaram nos anos 90. Suas características dificultam saber o número efetivamente em funcionamento, mas, certamente, devem ultrapassar as 400.
Apesar da educação não ser o principal objetivo das empresas que as criaram, elas acabam por agregar, a cada um de seus funcionários, as competências que vão assegurar a sua empregabilidade no futuro, na medida em que, quase sempre, os preparam para aprender a aprender, para a construção de um raciocínio lógico na identificação e na solução de problemas, para o conhecimento das tecnologias empregadas no projeto e na fabricação de seus produtos, para o trabalho em equipe e para o autogerenciamento da própria carreira.
Dessa forma, os egressos das empresas que oferecem programas corporativos poderão vir a ter grande vantagem na busca por uma nova função, noutra empresa. Entretanto, ainda não desenvolvemos no Brasil procedimentos que sejam capazes de certificar os saberes, as competências e as habilidades adquiridas nas empresas. Noutras economias, como na Norte-Americana, na Britânica e na Australiana, há mais de um século foram criadas instituições especializadas neste tipo de certificação, e com validade em todo o mundo.
Pode, então, o modelo das universidades corporativas ameaçar o das universidades convencionais, já secular?
Parece-me que não, na medida em que as primeiras têm seu foco nas necessidades do setor produtivo, e as últimas são caracterizadas por uma formação geral, privilegiando o avanço do conhecimento.
Dessa forma, muitas instituições estão preparando para dar continuidade ao avanço da ciência e poucas na atuação dentro das empresas. O resultado é que sobram graduados no mesmo ambiente em que faltam trabalhadores qualificados.
A oferta de cursos superiores de tecnologia é uma solução, ainda desprezada pelas grandes universidades. A melhor articulação universidade-empresa, como um todo, se bem conduzida, poderá resultar em progresso expressivo para o nosso desenvolvimento.
Como exemplos, a realização de projetos de investigação que permitam o aumento da competitividade, a oferta de programas de educação continuada e a utilização dos laboratórios universitários em ensaios relevantes para muitas empresas, e que dependem de laboratórios de alto custo. Levar a universidade ao setor produtivo será decisivo para a retomada do crescimento.
Com o advento da sociedade do conhecimento, resultado dos acelerados avanços da ciência e da criação de novas tecnologias, passamos a ter que preparar jovens para profissões que ainda não existem e para tecnologias que ainda não foram geradas. Por outro lado, as empresas são cada vez mais forçadas a incrementar a sua competitividade, para que permaneçam "vivas" num cenário de crescente seletividade.
 |
| Universidade de Bolonha, fundada em 1088, ainda em funcionamento |
Assim, foram implantadas as universidades corporativas, com o objetivo de desenvolver as competências determinantes para o negócio da empresa.
A primeira surgiu nos Estados Unidos, nos anos 1920, numa ação pioneira da General Motors, que construiu uma escola noturna para familiarizar seus técnicos com as linhas de montagem da indústria automotiva. Sua iniciativa foi tão bem sucedida que, em 1997, se transformou numa universidade independente, a Kettering University.
Hoje, as universidades corporativas naquele país são em número próximo ao das universidades convencionais.
No Brasil, elas começaram nos anos 90. Suas características dificultam saber o número efetivamente em funcionamento, mas, certamente, devem ultrapassar as 400.
Apesar da educação não ser o principal objetivo das empresas que as criaram, elas acabam por agregar, a cada um de seus funcionários, as competências que vão assegurar a sua empregabilidade no futuro, na medida em que, quase sempre, os preparam para aprender a aprender, para a construção de um raciocínio lógico na identificação e na solução de problemas, para o conhecimento das tecnologias empregadas no projeto e na fabricação de seus produtos, para o trabalho em equipe e para o autogerenciamento da própria carreira.
Dessa forma, os egressos das empresas que oferecem programas corporativos poderão vir a ter grande vantagem na busca por uma nova função, noutra empresa. Entretanto, ainda não desenvolvemos no Brasil procedimentos que sejam capazes de certificar os saberes, as competências e as habilidades adquiridas nas empresas. Noutras economias, como na Norte-Americana, na Britânica e na Australiana, há mais de um século foram criadas instituições especializadas neste tipo de certificação, e com validade em todo o mundo.
Pode, então, o modelo das universidades corporativas ameaçar o das universidades convencionais, já secular?
Parece-me que não, na medida em que as primeiras têm seu foco nas necessidades do setor produtivo, e as últimas são caracterizadas por uma formação geral, privilegiando o avanço do conhecimento.
Dessa forma, muitas instituições estão preparando para dar continuidade ao avanço da ciência e poucas na atuação dentro das empresas. O resultado é que sobram graduados no mesmo ambiente em que faltam trabalhadores qualificados.
A oferta de cursos superiores de tecnologia é uma solução, ainda desprezada pelas grandes universidades. A melhor articulação universidade-empresa, como um todo, se bem conduzida, poderá resultar em progresso expressivo para o nosso desenvolvimento.
Como exemplos, a realização de projetos de investigação que permitam o aumento da competitividade, a oferta de programas de educação continuada e a utilização dos laboratórios universitários em ensaios relevantes para muitas empresas, e que dependem de laboratórios de alto custo. Levar a universidade ao setor produtivo será decisivo para a retomada do crescimento.
Melhor com Temer ou sem Temer?
Muitas análises podem ser feitas acerca do governo do Presidente Temer.
Uns, pessimistas.
Acham que não há vontade política; o estilo é suave demais; idas e vindas nas decisões tomadas; vacilações; escolhas incorretas de auxiliares etc.
Outros, confiantes.
Reconhecem o equilíbrio do presidente; o desejo de acertar e confiam na opção que ele fez para governar nessa emergência nacional.
E qual foi a opção do Presidente Temer, ao assumir o governo?
Tinha dois caminhos básicos a seguir.
Mostraria “mão de ferro”; definiria rumos; exigiria postura do Congresso Nacional e faria escolhas de auxiliares com base em critérios pessoais de competência.
A outra alternativa seria a que ele optou.
Entendeu que, assumindo o governo num país democrático, deveria conviver com o Congresso Nacional e a classe política, como único meio de forçar os caminhos possíveis para as reformas necessárias.
No retrovisor, o presidente ainda enxergava o desastre do relacionamento da ex-presidente Dilma com a sua própria base política, dando no que deu.
Ontem, ao conceder entrevista à imprensa, após a saída do seu ministro político, Geddel Vieira Lima, o presidente Michel Temer deixou claro que assumirá a coordenação política do seu governo e deu a entender que é isso que sabe fazer.
Realmente, a sua história de vida tem a marca do diálogo congressual.
Eleito três vezes presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, antes de ser vice de Dilma Rousseff, assumiu a presidência da República interinamente por duas vezes: de 27 a 31 de janeiro de 1998 e em 15 de junho de 1999.
Por essa razão, na história do Brasil é um dos poucos Presidentes que adotou a postura de repartir o poder com a classe política, através dos partidos.
Mesmo com membros do Parlamento atingidos (alguns até no seu governo) pelas acusações notórias que permeiam a realidade do país, sem a colaboração do Congresso nada seria possível, salvo preparar a Nação para ingressar no autoritarismo, que mereceria a repulsa de todos.
Se o presidente não tivesse agido dessa forma, o pós Dilma seria melhor?
Claro que há imperfeições.
Porém, com o estilo agressivo do PT e seus aliados, de nada adiantaria a demonstração de força como meio de persuasão política.
Por outro lado, as deformações de alguns membros do Congresso Nacional não têm a digital do governo.
A causa remota foi a escolha popular equivocada.
Parece que, com a saída do ministro Geddel, o presidente fará realmente o que gosta.
Entender-se com os políticos; avançar e recuar; buscar consensos e dessa forma tentar chegar à aprovação do essencial, que são as reformas clamadas pela Nação.
Se ele conseguirá ou não, só o tempo dirá.
Mas é absolutamente consciente a estratégia de aproximar-se dos políticos e dos partidos, mesmo enfrentando o risco de acusações como “toma lá me dá cá”, ou fisiologismo.
Em toda democracia do mundo, a relação executivo e legislativo passa por concessões recíprocas.
Note-se o “radical” Trump já buscando adversários para ajudá-lo no Congresso e até recuando em certas posições.
Observe-se que o momento político nacional tem sinais de surrealismo.
Partido como o PT e aliados se opõem, esbravejam e usam todos os métodos para dificultar a aprovação de uma medida legal, que proíbe gastar mais do que o governo arrecada.
Por mais incrível quer pareça, todos eles são a favor da gastança sem controle.
É o caso de perguntar: melhor com o estilo Temer, ou sem Temer?
A resposta é de cada internauta.
Ney Lopes
Uns, pessimistas.
Acham que não há vontade política; o estilo é suave demais; idas e vindas nas decisões tomadas; vacilações; escolhas incorretas de auxiliares etc.
Outros, confiantes.
Reconhecem o equilíbrio do presidente; o desejo de acertar e confiam na opção que ele fez para governar nessa emergência nacional.
E qual foi a opção do Presidente Temer, ao assumir o governo?
Tinha dois caminhos básicos a seguir.
Mostraria “mão de ferro”; definiria rumos; exigiria postura do Congresso Nacional e faria escolhas de auxiliares com base em critérios pessoais de competência.
A outra alternativa seria a que ele optou.
No retrovisor, o presidente ainda enxergava o desastre do relacionamento da ex-presidente Dilma com a sua própria base política, dando no que deu.
Ontem, ao conceder entrevista à imprensa, após a saída do seu ministro político, Geddel Vieira Lima, o presidente Michel Temer deixou claro que assumirá a coordenação política do seu governo e deu a entender que é isso que sabe fazer.
Realmente, a sua história de vida tem a marca do diálogo congressual.
Eleito três vezes presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, antes de ser vice de Dilma Rousseff, assumiu a presidência da República interinamente por duas vezes: de 27 a 31 de janeiro de 1998 e em 15 de junho de 1999.
Por essa razão, na história do Brasil é um dos poucos Presidentes que adotou a postura de repartir o poder com a classe política, através dos partidos.
Mesmo com membros do Parlamento atingidos (alguns até no seu governo) pelas acusações notórias que permeiam a realidade do país, sem a colaboração do Congresso nada seria possível, salvo preparar a Nação para ingressar no autoritarismo, que mereceria a repulsa de todos.
Se o presidente não tivesse agido dessa forma, o pós Dilma seria melhor?
Claro que há imperfeições.
Porém, com o estilo agressivo do PT e seus aliados, de nada adiantaria a demonstração de força como meio de persuasão política.
Por outro lado, as deformações de alguns membros do Congresso Nacional não têm a digital do governo.
A causa remota foi a escolha popular equivocada.
Parece que, com a saída do ministro Geddel, o presidente fará realmente o que gosta.
Entender-se com os políticos; avançar e recuar; buscar consensos e dessa forma tentar chegar à aprovação do essencial, que são as reformas clamadas pela Nação.
Se ele conseguirá ou não, só o tempo dirá.
Mas é absolutamente consciente a estratégia de aproximar-se dos políticos e dos partidos, mesmo enfrentando o risco de acusações como “toma lá me dá cá”, ou fisiologismo.
Em toda democracia do mundo, a relação executivo e legislativo passa por concessões recíprocas.
Note-se o “radical” Trump já buscando adversários para ajudá-lo no Congresso e até recuando em certas posições.
Observe-se que o momento político nacional tem sinais de surrealismo.
Partido como o PT e aliados se opõem, esbravejam e usam todos os métodos para dificultar a aprovação de uma medida legal, que proíbe gastar mais do que o governo arrecada.
Por mais incrível quer pareça, todos eles são a favor da gastança sem controle.
É o caso de perguntar: melhor com o estilo Temer, ou sem Temer?
A resposta é de cada internauta.
Ney Lopes
Cem cientistas pedem recursos para evitar que asteroide destrua a Terra
“Se os dinossauros tivessem possuído uma agência espacial e investido na prevenção da colisão de um asteroide, hoje continuariam dominando a Terra”, brinca Javier Licandro, pesquisador do Instituto de Astrofísica das Canárias (IAC). A piada pretende ilustrar o momento em que se encontra o estudo dessa ameaça para a vida na Terra, tão explorada no cinema. “Temos certeza de que um asteroide voltará a colidir com o planeta. O que estamos fazendo para evitar isso?”, questiona. Licandro integra um grupo de mais de 100 cientistas, entre eles Stephen Hawking, que pedem à Europa o financiamento de uma missão que poderia ser decisiva. Atualmente, já existem planos para explorar os minerais dos asteroides e explicar à humanidade que esse corpo rochoso pode acabar conosco, mas ainda não sabemos como fazer mais do que os dinossauros para nos salvarmos.
Trata-se de uma missão conjunta das agências da Europa (ESA) e dos Estados Unidos (NASA), com o objetivo de estudar o que aconteceria com um asteroide perigoso se o atingíssemos para desviá-lo de sua trajetória. O projeto, denominado Avaliação de Impacto e Desvio de Asteroides (AIDA, na sigla em inglês) tem duas partes complementares: os norte-americanos atingem o asteroide e os europeus observam. O que os cientistas reivindicam numa carta à conferência ministerial da ESA é que esta agência financie a parte europeia, batizada de AIM (Missão de Impacto de Asteroides), que ainda está no ar. A decisão será tomada neste final de semana em Lucerna (Suíça).
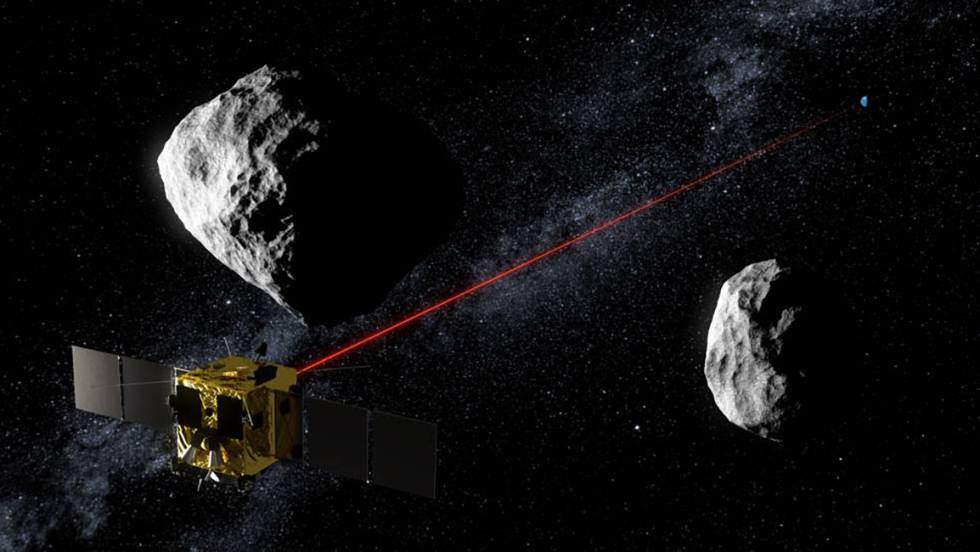
O alvo da missão é uma dupla de asteroides: o sistema binário Didymos, formado por um corpo maior, de 800 metros de diâmetro, e seu pequeno satélite, chamado coloquialmente de Didymoon, de 150 metros. A NASA enviará o DART, uma sonda-projétil de 300 quilos, para colidir com a Didymoon em 2020 e assim observar como intervenções desse tipo afetam a trajetória dos asteroides. Para analisar as consequências em detalhe, a AIM deverá ter chegado em maio deste ano para observar antes, durante e depois do impacto o sistema binário de asteroide e minilua. O impacto, a mais de 6 quilômetros por segundo, não pode significar um perigo para a Terra porque os asteroides não cruzarão a rota do nosso planeta, por mais que se altere sua trajetória.
Segundo Licandro, a missão europeia terá três eixos. O mais evidente é o já mencionado sobre segurança, ou seja, entender como proteger a Terra contra objetos potencialmente perigosos. O segundo eixo é o conhecimento sobre asteroides obtido a partir da observação do sistema binário, que dará pistas sobre a formação do universo. A missão também testará, pela primeira vez, um sistema de comunicação a laser desenvolvido pelo IAC. “É muito mais efetivo e rápido que os sistemas de rádio usados habitualmente”; diz Licandro.
Sem a AIM e sua comunicação a laser, ainda seria possível acompanhar o impacto da Terra, mas seria perdida grande parte da informação decorrente do choque do DART contra o asteroide. Essa comunicação via laser é uma grande oportunidade para que organismos e empresas espanholas desenvolvam a tecnologia. O IAC também fornecerá uma câmera térmica para a missão. Ao lado de Licandro, Julia de León e Miquel Serra-Ricart integram a equipe do IAC que também faz pressão para que a ESA aprove a missão.
Trata-se de uma missão conjunta das agências da Europa (ESA) e dos Estados Unidos (NASA), com o objetivo de estudar o que aconteceria com um asteroide perigoso se o atingíssemos para desviá-lo de sua trajetória. O projeto, denominado Avaliação de Impacto e Desvio de Asteroides (AIDA, na sigla em inglês) tem duas partes complementares: os norte-americanos atingem o asteroide e os europeus observam. O que os cientistas reivindicam numa carta à conferência ministerial da ESA é que esta agência financie a parte europeia, batizada de AIM (Missão de Impacto de Asteroides), que ainda está no ar. A decisão será tomada neste final de semana em Lucerna (Suíça).
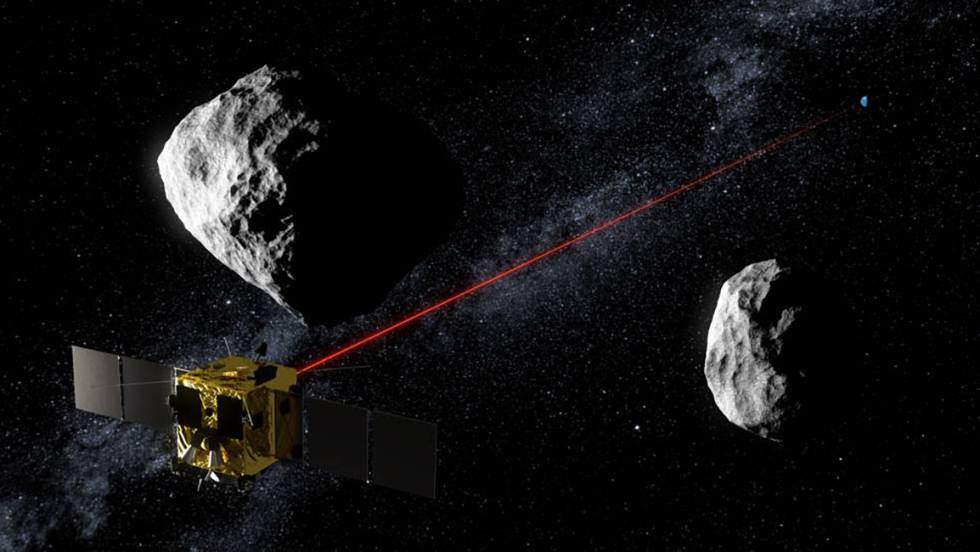
Segundo Licandro, a missão europeia terá três eixos. O mais evidente é o já mencionado sobre segurança, ou seja, entender como proteger a Terra contra objetos potencialmente perigosos. O segundo eixo é o conhecimento sobre asteroides obtido a partir da observação do sistema binário, que dará pistas sobre a formação do universo. A missão também testará, pela primeira vez, um sistema de comunicação a laser desenvolvido pelo IAC. “É muito mais efetivo e rápido que os sistemas de rádio usados habitualmente”; diz Licandro.
Sem a AIM e sua comunicação a laser, ainda seria possível acompanhar o impacto da Terra, mas seria perdida grande parte da informação decorrente do choque do DART contra o asteroide. Essa comunicação via laser é uma grande oportunidade para que organismos e empresas espanholas desenvolvam a tecnologia. O IAC também fornecerá uma câmera térmica para a missão. Ao lado de Licandro, Julia de León e Miquel Serra-Ricart integram a equipe do IAC que também faz pressão para que a ESA aprove a missão.
segunda-feira, 28 de novembro de 2016
Gargalhadas demoníacas e tirânicas
Uma foto possui a qualidade de falar aos olhos e à mente. Ela mostra o real sentido da palavra “evidência”: o que aparece de modo insofismável. No século 20 algumas fotografias mostraram ao mundo fatos graves e ridículos, terríveis e comoventes. Recordo algumas delas: a menina que foge do napalm, no Vietnã; o beijo dos enamorados após a 2.ª Guerra Mundial, nos EUA; o vestido de Marilyn Monroe que se ergue por virtude do vento; a figura de Trotsky cortada na foto por ordem de Stalin; o horror de corpos quase mortos nos campos nazistas. Tais imagens testemunham a brutalidade humana, mas também exibem instantes de frágil ternura, inteligência ou estupidez.
Em formas televisivas ou fílmicas, além da evidência existe a vantagem das figuras em movimento, inclusive e sobretudo no campo da face. Esta última tem sido um meio de estudos filosóficos, artísticos (especialmente no teatro), políticos importantes. Em momentos pouco felizes da ciência, como nas teses avançadas por Lombroso, a cara revelaria o caráter das pessoas, suas mazelas escondidas. Em outro sentido, Diderot, pai das Luzes democráticas, utilizou muito o livro de Le Brun sobre as paixões reveladas na face. Charles Darwin tem um contributo relevante para o tema. As tentativas de velar a linguagem do rosto, desde a mais remota vida em sociedade, encontram nas máscaras o seu grande instrumento. Um capítulo essencial do clássico Massa e Poder traz análises profundas de Elias Canetti sobre a maquiavélica dissimulação permitida ao poderoso mascarado.
Os bisonhos e incultos políticos brasileiros não controlam a técnica do mascaramento. A sua maioria exibe sem nenhum pudor o que lhe vai nas entranhas, confiante na impunidade trazida pelo indecente privilégio de foro.
No dia 23 de novembro último, O Estado de S. Paulo apresentou na primeira página uma foto estarrecedora. Deputados riem às escâncaras em companhia do então ministro Geddel Vieira Lima. Este proclamara que “não havia nada de imoral” em conversar sobre assuntos privados com um colega, em proveito próprio. O quadro exibido no jornal mostra explícito deboche das leis e do povo soberano. Temos nele uma visão completa das pessoas que dominam nossas instituições políticas. Segundo Milan Kundera, “o riso é o domínio do diabo”. Nem todo riso, no entanto. Existe, diz ainda o romancista, o riso dos anjos, movido pela admiração da bela ordem dada ao universo pelo ser divino. A gargalhada demoníaca mostra a quebra daquele ordenamento, o absurdo entronizado nas coisas mundanas (O Livro do Riso e do Esquecimento). A pândega dos deputados, a zombaria e o desprezo pelos cidadãos comuns, traz o selo do Coisa Ruim, do Não-sei-que-diga. Renan Calheiros piorou a dose ao reduzir o episódio a um caso de hermenêutica. Caolha como todas as demais por ele efetivadas, sobretudo no plano da ética pública.
Certa feita a imprensa trouxe notícias bem fundadas sobre o uso, na Câmara dos Deputados, de verbas para o bem-estar de prefeitos e hóspedes de parlamentares. Entre as comodidades e os serviços, a prostituição. Na semana em que a denúncia invadiu páginas de jornais e telas da TV, apareceu outra novidade: a Mesa da Câmara providenciava nova leva de cargos em comissão para servir aos parlamentares. Sem apurar o primeiro escândalo, veio o outro, urdido em silêncio. Um jornalista da TV Record entrevistou Inocêncio de Oliveira. Este negou, rindo muito, a existência de qualquer ato visando a criar cargos. Deu adeus aos brasileiros, virou as costas e seguiu adiante, rindo. Na tela, apareceu o documento oficial criando os cargos.
A mentira e o deboche suscitaram minha indignação. Escrevi um artigo intitulado, justamente, O prostíbulo risonho. Ele me valeu muito ódio dos chamados representantes do povo. Um deles me processou, com apoio de seus iguais. Na oitiva das testemunhas, um auxiliar do acusador assim falou ao jovem magistrado: “Gosto muito do professor Roberto Romano. Mas ele abusou da escrita. Imagine, Excelência, que o professor afirmou existir corrupção no Congresso Nacional!”. Nem o juiz pôde conter o riso, agora angélico.
As gargalhadas dos “nossos representantes” seriam apenas ridículas se não gerassem lágrimas de famílias brasileiras aos milhares A corrupção retira da economia, das políticas públicas, da vida nacional bilhões para lucro dos que deveriam zelar pelo bem comum. Desde a Grécia, o pensamento ético e jurídico ocidental define a prática de usar os bens coletivos em proveito próprio como tirania. O governante correto “guarda a piedade, a justiça, a fé. O outro não tem nem Deus, nem fé, nem lei. Um tudo faz para servir ao bem público e manutenção dos governados. Mas o outro tudo faz para seu lucro particular, vingança ou prazer. Um se esforça por enriquecer seus governados, o outro só eleva sua casa sobre a ruína dos dirigidos (…) um se alegra ao ser avisado em toda liberdade, e sabiamente corrigido, quando falha. O outro não suporta o homem grave, livre e virtuoso (…) um busca pessoas de bem para os cargos públicos. Mas o outro só emprega os piores ladrões para os utilizar como esponjas” (Jean Bodin, Os Seis Livros da República, capítulo IV).
Em A República, ao desenhar a tirania Platão afirma que o péssimo governante realiza uma purga invertida no corpo político: expulsa os cidadãos livres e bons e usa os salafrários como sua base política. Heinrich Heine, poeta lúcido, disse certa feita: “Quando penso na Alemanha, à noite, choro”.
Termino citando um baiano que merece respeito. Dada a desfaçatez exibida na política brasileira, Castro Alves retomaria seus versos candentes:
“Mas é infâmia demais! (...) Da etérea plaga/ Levantai-vos, heróis do Novo Mundo!/ Andrada! arranca esse pendão dos ares!/ Colombo! fecha a porta dos teus mares!”.Roberto Romano
Assinar:
Comentários (Atom)














