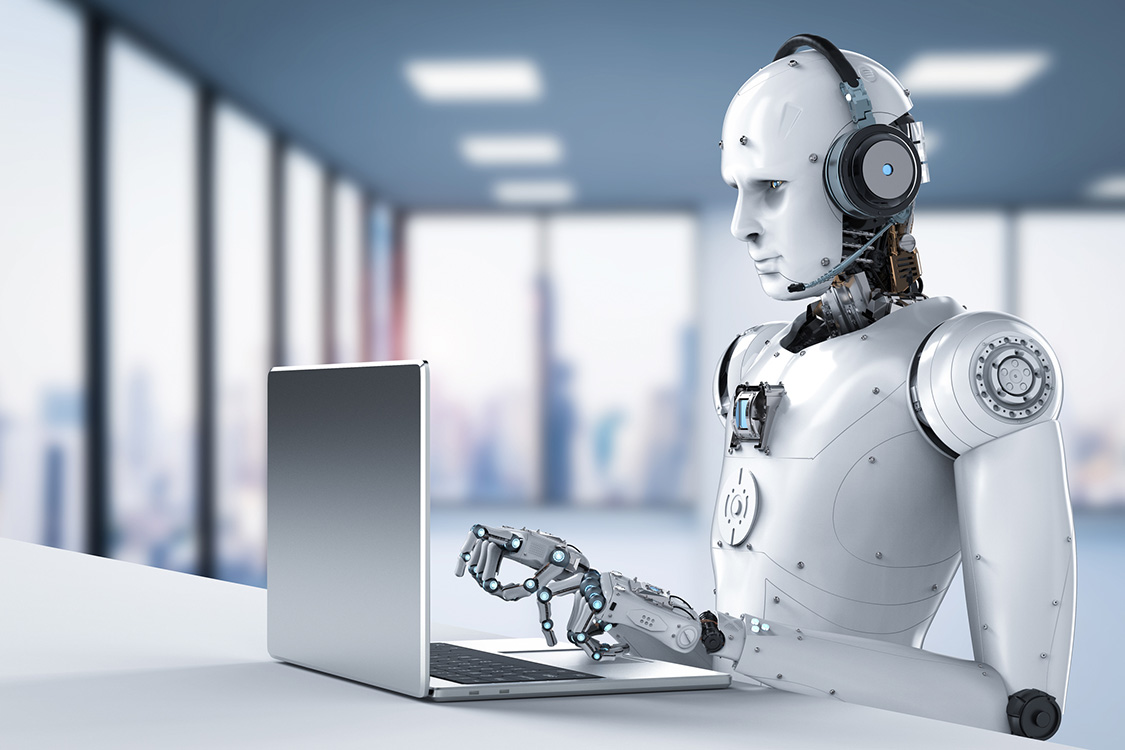segunda-feira, 31 de julho de 2023
Xingu, 50 anos à frente
Escrevo no Xingu, algo que, de certa forma, me parece o coração do Brasil. Um coração com algumas pontes de safena, sangue escasso e contaminado de um belo rio que corre pelas suas artérias. Como o grande coração do cacique Raoni, regido por um marca-passo.
A chamado do próprio Raoni, muitas etnias se reuniram aqui para discutir os problemas dos povos originários. Não são poucos.
Grande pesquisador da Amazônia, Paulo Moutinho me disse algo que não esquecerei: o futuro já chegou ao Xingu, a região está 50 anos adiante quanto aos efeitos do aquecimento global.
De fato, há rios secando, rios que se tornam intermitentes, e o belo Xingu também sofre com hidrelétricas, poluição do garimpo e da extensa plantação de soja.
Estamos entrando num dos mais severos El Niños da História. Temo pela Amazônia. Ouvi a história de um velho cacique para quem o barulho de folhas secas pisadas são uma novidade. Na infância ele nunca o ouviu; daí o medo de grandes queimadas.
Quando fui deputado, procuramos estudar o El Niño e indicar algumas medidas para atenuar seu impacto. Passou muito tempo, e parece que agora o El Niño vem que vem bravo.
Os jovens indígenas são combativos e manejam a internet. Raoni chamou um grande encontro no Xingu também para passar o bastão. Ele anda pelos 94 anos, e outros líderes também envelheceram. Os jovens e as mulheres parecem estar prontos para conduzir o processo. Aliás, as mulheres já estão no Ministério dos Povos Indígenas, na presidência da Funai e no Parlamento.
Sei que falar de indígenas nem sempre é fácil. No passado, os editores não gostavam, e os políticos associavam usar cocar a ter anos de azar.
Mas há algo que as pessoas precisam saber. No Xingu, por exemplo, 16 etnias evitam que os efeitos climáticos devastem mais a região com consequências para toda a humanidade.
Seria interessante pensar também como as pessoas que menos devastaram o planeta são as que mais sofrem, sobretudo vendo desaparecer a água, seu recurso vital. As mudanças climáticas são injustas, mas aqui no Xingu sentimos o peso dessa conclusão.
Algumas figuras, sobretudo a corrente política que esteve no poder, acham que os indígenas deveriam se integrar à sociedade.
Às vezes, os males que marcam seu corpo nascem do encontro conosco. Em alguns lugares, a cachaça destrói o fígado; em outros, os refrigerantes e biscoitos impulsionam a obesidade, diabetes e a pressão alta.
Lembro-me do romance do querido Antônio Callado em que o personagem Nando se preparava para uma romântica viagem revolucionária e se perguntava o que se leva na mala para o Xingu. Aconselharia uma dose de realismo, algum repelente e se preparar para o calor, que já é muito intenso no inverno. O curso da vida foi duro com o coração do Brasil.
Ainda bem que existem as imagens para mostrar como é bom passar por aqui. Elas mostram a beleza que ainda existe. Para mim, essas viagens são um encontro com o passado. Há 34 anos, participei do Encontro de Altamira, um protesto contra a construção da usina de Belo Monte. Raoni estava lá, documentei seu encontro com Sting, conheci Anita Roddick, dona da The Body Shop. Os sobreviventes de muitas lutas estão por aqui. Roberto Smeraldi, a quem conheci no enterro de Chico Mendes, e quase fomos espancados por fazendeiros no aeroporto de Rio Branco. O grande amigo dos indígenas Sydney Possuelo, a quem consulto regularmente. Acabo de falar com uma japonesa que ajuda os caiapós há 30 anos e mora em Tóquio. Talvez esse encontro seja para nós também apenas a renovação da esperança numa luta que, certamente, transcende os limites de nossa vida.
Não se pode falar em grandes vitórias. Apenas isto: o coração ainda bate.
A chamado do próprio Raoni, muitas etnias se reuniram aqui para discutir os problemas dos povos originários. Não são poucos.
Grande pesquisador da Amazônia, Paulo Moutinho me disse algo que não esquecerei: o futuro já chegou ao Xingu, a região está 50 anos adiante quanto aos efeitos do aquecimento global.
De fato, há rios secando, rios que se tornam intermitentes, e o belo Xingu também sofre com hidrelétricas, poluição do garimpo e da extensa plantação de soja.
Estamos entrando num dos mais severos El Niños da História. Temo pela Amazônia. Ouvi a história de um velho cacique para quem o barulho de folhas secas pisadas são uma novidade. Na infância ele nunca o ouviu; daí o medo de grandes queimadas.
Quando fui deputado, procuramos estudar o El Niño e indicar algumas medidas para atenuar seu impacto. Passou muito tempo, e parece que agora o El Niño vem que vem bravo.
Os jovens indígenas são combativos e manejam a internet. Raoni chamou um grande encontro no Xingu também para passar o bastão. Ele anda pelos 94 anos, e outros líderes também envelheceram. Os jovens e as mulheres parecem estar prontos para conduzir o processo. Aliás, as mulheres já estão no Ministério dos Povos Indígenas, na presidência da Funai e no Parlamento.
Sei que falar de indígenas nem sempre é fácil. No passado, os editores não gostavam, e os políticos associavam usar cocar a ter anos de azar.
Mas há algo que as pessoas precisam saber. No Xingu, por exemplo, 16 etnias evitam que os efeitos climáticos devastem mais a região com consequências para toda a humanidade.
Seria interessante pensar também como as pessoas que menos devastaram o planeta são as que mais sofrem, sobretudo vendo desaparecer a água, seu recurso vital. As mudanças climáticas são injustas, mas aqui no Xingu sentimos o peso dessa conclusão.
Algumas figuras, sobretudo a corrente política que esteve no poder, acham que os indígenas deveriam se integrar à sociedade.
Às vezes, os males que marcam seu corpo nascem do encontro conosco. Em alguns lugares, a cachaça destrói o fígado; em outros, os refrigerantes e biscoitos impulsionam a obesidade, diabetes e a pressão alta.
Lembro-me do romance do querido Antônio Callado em que o personagem Nando se preparava para uma romântica viagem revolucionária e se perguntava o que se leva na mala para o Xingu. Aconselharia uma dose de realismo, algum repelente e se preparar para o calor, que já é muito intenso no inverno. O curso da vida foi duro com o coração do Brasil.
Ainda bem que existem as imagens para mostrar como é bom passar por aqui. Elas mostram a beleza que ainda existe. Para mim, essas viagens são um encontro com o passado. Há 34 anos, participei do Encontro de Altamira, um protesto contra a construção da usina de Belo Monte. Raoni estava lá, documentei seu encontro com Sting, conheci Anita Roddick, dona da The Body Shop. Os sobreviventes de muitas lutas estão por aqui. Roberto Smeraldi, a quem conheci no enterro de Chico Mendes, e quase fomos espancados por fazendeiros no aeroporto de Rio Branco. O grande amigo dos indígenas Sydney Possuelo, a quem consulto regularmente. Acabo de falar com uma japonesa que ajuda os caiapós há 30 anos e mora em Tóquio. Talvez esse encontro seja para nós também apenas a renovação da esperança numa luta que, certamente, transcende os limites de nossa vida.
Não se pode falar em grandes vitórias. Apenas isto: o coração ainda bate.
Experimentos
Na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a criação de um Monumento Nacional em memória do menino negro Emmett Till e de sua mãe, Mamie Till-Mobley. Na verdade, serão três os monumentos que evocarão o assassinato de Emmett, com requintes de selvageria, por supremacistas brancos nos idos de 1955. O primeiro será erguido na igreja de Chicago onde o garoto fora velado; o segundo, na ravina do Rio Tallahatchie, no Mississippi, onde encontraram seu corpo brutalizado; e um terceiro, certamente o mais significativo, na entrada do tribunal onde os matadores confessos, dois irmãos graúdos, foram rapidamente absolvidos por um júri branco.
À época, a mãe-coragem de Emmett obrigara o país a encarar o que restara do filho: uma massa disforme e desumanizada exposta em caixão aberto, sem retoques. Como já relatado neste espaço, a atrocidade serviu de catalisador para o Movimento pelos Direitos Civis que galvanizaria o país na década seguinte.
Passaram-se quase 70 anos. Desde então, 12 presidentes ocuparam a Casa Branca. Ainda assim, Biden achou necessário explicar ao país o motivo de um memorial nacional para os dois corpos negros.
— Vivemos tempos em que se tenta banir livros, enterrar a História — disse o presidente. — Por isso queremos deixar bem claro e cristalino: embora a treva e o negacionismo possam esconder muita coisa, não conseguem apagar nada. Não devemos aprender somente aquilo que queremos saber. Devemos poder aprender o que é preciso saber.
Reparações históricas e desculpas oficiais costumam vir na rabeira da própria História. E com frequência nada reparam. Ainda assim, acabam compondo um retrato das feridas de cada nação. No caso atual, a iniciativa de Biden não deve ser descartada como mero artifício eleitoreiro visando ao pleito de 2024. Há também uma real preocupação com um surto de apagamento histórico em curso na América profunda e retrógrada. Quando governadores extremados como Ron DeSantis, da Flórida, ou Greg Abbott, do Texas, ordenam escolas e bibliotecas públicas a varrer das estantes clássicos da literatura negra e LGBTQIA+, um monumento nacional à coragem de Mamie Till chega em boa hora.
Para a população negra dos Estados Unidos, existe uma ferida coletiva que nenhuma reparação ainda conseguiu cicatrizar. Ela tem nome extenso: Estudo Tuskegee de Sífilis Não Tratada no Homem Negro. Trata-se do mais longo experimento não terapêutico em seres humanos da História da medicina. Ele durou de 1932 até 1972 e teve como propósito estudar os efeitos da sífilis em corpos negros. Por meio de concorridos convites divulgados em igrejas e plantações de algodão, o Instituto de Saúde Pública da época selecionou 600 homens, todos filhos ou netos de escravizados. A grande maioria nunca tinha se consultado com médico. No grupo, 399 estavam contaminados pela doença, e 201 eram sadios. Aos contaminados foi informado apenas serem portadores de “sangue ruim”. Como o estudo visava à observação da doença até o “ponto final” — a autópsia —, os doentes foram ficando cegos, dementes e morreram sem conhecer a penicilina, que a partir dos anos 1940 se tornou o tratamento de referência para sifilíticos. A família dos que morriam recebia US$ 50 para cobrir o enterro. A pesquisa só foi interrompida em 1972, quando o jornalismo da Associated Press revelou a história, levando o governo americano a pagar US$ 10 milhões em acordo coletivo com os sobreviventes.
Oito deles, já quase nonagenários, estavam no Salão Leste da Casa Branca em maio de 1997 quando o então presidente Bill Clinton pediu desculpas públicas pelo horror cometido. Em discurso marcante, falou em nome do povo americano:
— O que foi feito não pode ser desfeito. Mas podemos acabar com o silêncio, parar de desviar do assunto. Podemos olhá-los de frente para finalmente dizer que o que o governo dos Estados Unidos fez foi uma ignomínia, e eu peço desculpas.
Ainda assim, passado menos de um ano, nova barbárie experimental veio à luz, desta vez com cem meninos negros e hispânicos de Nova York arrebanhados por três instituições de renome científico. Todos eram irmãos caçulas de delinquentes juvenis e tinham idade entre 6 e 11 anos. O estudo pretendia demonstrar a correlação entre determinados marcadores biológicos e o comportamento violento em humanos. Para isso, aplicaram nas crianças injeções intravenosas de fenfluramina, substância posteriormente associada a danos à válvula mitral. Às mães que os levavam ao local do experimento foi oferecida uma recompensada de US$ 125 .
Tudo isso e muito mais faz parte do pesado histórico de abuso de corpos negros, até mesmo em nome da ciência. Não espanta, portanto, a rejeição quase atávica à obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19 manifestada pela população negra em tempos recentes. A retirada de circulação ou dificuldade de acesso a livros que narram essas vivências deveriam ser impensáveis em 2023. É sinal de uma sociedade adoecida pelo medo de livros.
À época, a mãe-coragem de Emmett obrigara o país a encarar o que restara do filho: uma massa disforme e desumanizada exposta em caixão aberto, sem retoques. Como já relatado neste espaço, a atrocidade serviu de catalisador para o Movimento pelos Direitos Civis que galvanizaria o país na década seguinte.
Passaram-se quase 70 anos. Desde então, 12 presidentes ocuparam a Casa Branca. Ainda assim, Biden achou necessário explicar ao país o motivo de um memorial nacional para os dois corpos negros.
— Vivemos tempos em que se tenta banir livros, enterrar a História — disse o presidente. — Por isso queremos deixar bem claro e cristalino: embora a treva e o negacionismo possam esconder muita coisa, não conseguem apagar nada. Não devemos aprender somente aquilo que queremos saber. Devemos poder aprender o que é preciso saber.
Reparações históricas e desculpas oficiais costumam vir na rabeira da própria História. E com frequência nada reparam. Ainda assim, acabam compondo um retrato das feridas de cada nação. No caso atual, a iniciativa de Biden não deve ser descartada como mero artifício eleitoreiro visando ao pleito de 2024. Há também uma real preocupação com um surto de apagamento histórico em curso na América profunda e retrógrada. Quando governadores extremados como Ron DeSantis, da Flórida, ou Greg Abbott, do Texas, ordenam escolas e bibliotecas públicas a varrer das estantes clássicos da literatura negra e LGBTQIA+, um monumento nacional à coragem de Mamie Till chega em boa hora.
Para a população negra dos Estados Unidos, existe uma ferida coletiva que nenhuma reparação ainda conseguiu cicatrizar. Ela tem nome extenso: Estudo Tuskegee de Sífilis Não Tratada no Homem Negro. Trata-se do mais longo experimento não terapêutico em seres humanos da História da medicina. Ele durou de 1932 até 1972 e teve como propósito estudar os efeitos da sífilis em corpos negros. Por meio de concorridos convites divulgados em igrejas e plantações de algodão, o Instituto de Saúde Pública da época selecionou 600 homens, todos filhos ou netos de escravizados. A grande maioria nunca tinha se consultado com médico. No grupo, 399 estavam contaminados pela doença, e 201 eram sadios. Aos contaminados foi informado apenas serem portadores de “sangue ruim”. Como o estudo visava à observação da doença até o “ponto final” — a autópsia —, os doentes foram ficando cegos, dementes e morreram sem conhecer a penicilina, que a partir dos anos 1940 se tornou o tratamento de referência para sifilíticos. A família dos que morriam recebia US$ 50 para cobrir o enterro. A pesquisa só foi interrompida em 1972, quando o jornalismo da Associated Press revelou a história, levando o governo americano a pagar US$ 10 milhões em acordo coletivo com os sobreviventes.
Oito deles, já quase nonagenários, estavam no Salão Leste da Casa Branca em maio de 1997 quando o então presidente Bill Clinton pediu desculpas públicas pelo horror cometido. Em discurso marcante, falou em nome do povo americano:
— O que foi feito não pode ser desfeito. Mas podemos acabar com o silêncio, parar de desviar do assunto. Podemos olhá-los de frente para finalmente dizer que o que o governo dos Estados Unidos fez foi uma ignomínia, e eu peço desculpas.
Ainda assim, passado menos de um ano, nova barbárie experimental veio à luz, desta vez com cem meninos negros e hispânicos de Nova York arrebanhados por três instituições de renome científico. Todos eram irmãos caçulas de delinquentes juvenis e tinham idade entre 6 e 11 anos. O estudo pretendia demonstrar a correlação entre determinados marcadores biológicos e o comportamento violento em humanos. Para isso, aplicaram nas crianças injeções intravenosas de fenfluramina, substância posteriormente associada a danos à válvula mitral. Às mães que os levavam ao local do experimento foi oferecida uma recompensada de US$ 125 .
Tudo isso e muito mais faz parte do pesado histórico de abuso de corpos negros, até mesmo em nome da ciência. Não espanta, portanto, a rejeição quase atávica à obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19 manifestada pela população negra em tempos recentes. A retirada de circulação ou dificuldade de acesso a livros que narram essas vivências deveriam ser impensáveis em 2023. É sinal de uma sociedade adoecida pelo medo de livros.
A aposta sobre a consciência que a Ciência perdeu
Dois homens fizeram, há 25 anos, uma aposta que poderia muito bem ter sido aquele "aposto que...", falado em conversas casuais, sem repercussões.
Mas estamos falando de duas figuras de renome em suas áreas: o filósofo australiano David Chalmers e o neurocientista teuto-americano Christof Koch.
O desafio foi sobre um dos assuntos intrigantes da existência: a consciência.
Koch e Chalmers concordaram em estabelecer uma série de estudos com pesquisadores colaboradores para testar ideias sobre como o cérebro gera consciência.
Parece muito complicado, mas Koch explicou o conceito de forma poética em uma entrevista à revista científica sueca Forskning & Framsteg: "São as pegadas da consciência deixadas no órgão da consciência, que é o cérebro".
O que eles querem descobrir, acrescentou, é "quais partes do cérebro são necessárias para realizar uma experiência consciente", o que ajudaria a finalmente entender como a consciência é alcançada.
Duas décadas e meia depois, o filósofo e o cientista se encontraram na 26ª reunião anual da Associação de Estudos Científicos da Consciência, realizada recentemente na Universidade de Nova York (EUA).
E foi então que se declarou o vencedor indiscutível da aposta.
David Chalmers e Christof Koch falaram com James Copnall, do programa Newsday do serviço mundial da BBC. O apresentador começou perguntando à dupla como tudo começou. Confira as perguntas e respostas:
Chalmers - Foi em 1998, em uma conferência em Bremen, na Alemanha, sobre os correlatos neurais da consciência, a ideia de que certas áreas do cérebro podem estar diretamente associadas à consciência.
Christof (Koch) ficou muito entusiasmado com essa ideia e apostou que em 25 anos teríamos identificado as áreas do cérebro que estão ligadas à consciência. Eu pensei que era um pouco otimista, então apostei que não.
Christof, o que você estava pensando? Por que você estava tão otimista?
Koch - Porque junto com Francis Crick, o biólogo molecular britânico que descobriu a estrutura helicoidal da molécula hereditária de DNA, havíamos pensado em um programa empírico em 1990 que, para nos afastarmos dos debates filosóficos sobre a consciência e a natureza da realidade e da mente e da alma, tudo isso, focaríamos nas marcas que a consciência deixa no cérebro.
Sabemos que o cérebro é o órgão da consciência, não o coração.
Sabemos que não envolve o cérebro inteiro, apenas partes dele: você pode perder partes do cerebelo ou da medula espinhal, por exemplo, mas ainda estar consciente.
Com argumentos como esse, pensamos em um programa empírico para fazer progresso empírico: um programa que fosse independente, no qual não importa de qual convicção filosófica particular você fosse. Idealista [conceito em que só vidas biológicas têm consciência] ou pampsiquista [todos os objetos, até os inanimados, têm alguma forma de consciência], você poderia avançar esta questão empírica.
Então a ideia era que, se podemos classificar o DNA, descobrir o que nossos genes significam, então por que não descobrir a consciência?
Koch - Precisamente.
Você aceitou que perdeu a aposta, mas o quão perto você acha que chegou de ganhar?
Koch - Bem, aprendemos muito nos últimos 25 anos.
Aprendemos mais sobre o cérebro na última década do que em toda a história da humanidade. Sabemos melhor como manipulá-lo, seja experimentalmente em laboratório ou tomando substâncias psicodélicas ou outras.
Assim, estamos começando a rastrear onde a consciência vive, por assim dizer, nas densas selvas do cérebro.
Mas não chegamos a um consenso entre a comunidade de neurocientistas, clínicos e psicólogos que estudam esse assunto.
Mas estamos falando de duas figuras de renome em suas áreas: o filósofo australiano David Chalmers e o neurocientista teuto-americano Christof Koch.
O desafio foi sobre um dos assuntos intrigantes da existência: a consciência.
Koch e Chalmers concordaram em estabelecer uma série de estudos com pesquisadores colaboradores para testar ideias sobre como o cérebro gera consciência.
Parece muito complicado, mas Koch explicou o conceito de forma poética em uma entrevista à revista científica sueca Forskning & Framsteg: "São as pegadas da consciência deixadas no órgão da consciência, que é o cérebro".
O que eles querem descobrir, acrescentou, é "quais partes do cérebro são necessárias para realizar uma experiência consciente", o que ajudaria a finalmente entender como a consciência é alcançada.
Duas décadas e meia depois, o filósofo e o cientista se encontraram na 26ª reunião anual da Associação de Estudos Científicos da Consciência, realizada recentemente na Universidade de Nova York (EUA).
E foi então que se declarou o vencedor indiscutível da aposta.
David Chalmers e Christof Koch falaram com James Copnall, do programa Newsday do serviço mundial da BBC. O apresentador começou perguntando à dupla como tudo começou. Confira as perguntas e respostas:
Chalmers - Foi em 1998, em uma conferência em Bremen, na Alemanha, sobre os correlatos neurais da consciência, a ideia de que certas áreas do cérebro podem estar diretamente associadas à consciência.
Christof (Koch) ficou muito entusiasmado com essa ideia e apostou que em 25 anos teríamos identificado as áreas do cérebro que estão ligadas à consciência. Eu pensei que era um pouco otimista, então apostei que não.
Christof, o que você estava pensando? Por que você estava tão otimista?
Koch - Porque junto com Francis Crick, o biólogo molecular britânico que descobriu a estrutura helicoidal da molécula hereditária de DNA, havíamos pensado em um programa empírico em 1990 que, para nos afastarmos dos debates filosóficos sobre a consciência e a natureza da realidade e da mente e da alma, tudo isso, focaríamos nas marcas que a consciência deixa no cérebro.
Sabemos que o cérebro é o órgão da consciência, não o coração.
Sabemos que não envolve o cérebro inteiro, apenas partes dele: você pode perder partes do cerebelo ou da medula espinhal, por exemplo, mas ainda estar consciente.
Com argumentos como esse, pensamos em um programa empírico para fazer progresso empírico: um programa que fosse independente, no qual não importa de qual convicção filosófica particular você fosse. Idealista [conceito em que só vidas biológicas têm consciência] ou pampsiquista [todos os objetos, até os inanimados, têm alguma forma de consciência], você poderia avançar esta questão empírica.
Então a ideia era que, se podemos classificar o DNA, descobrir o que nossos genes significam, então por que não descobrir a consciência?
Koch - Precisamente.
Você aceitou que perdeu a aposta, mas o quão perto você acha que chegou de ganhar?
Koch - Bem, aprendemos muito nos últimos 25 anos.
Aprendemos mais sobre o cérebro na última década do que em toda a história da humanidade. Sabemos melhor como manipulá-lo, seja experimentalmente em laboratório ou tomando substâncias psicodélicas ou outras.
Assim, estamos começando a rastrear onde a consciência vive, por assim dizer, nas densas selvas do cérebro.
Mas não chegamos a um consenso entre a comunidade de neurocientistas, clínicos e psicólogos que estudam esse assunto.
David, como filósofo, você acha que é possível que a consciência seja simplesmente incognoscível?
Chalmers - Bem, há um gigantesco mistério filosófico aqui: é o problema filosófico mente-corpo.
Como os processos físicos no corpo e no cérebro lhe dão uma mente.
Como a consciência existe em primeiro lugar.
Isso é o que chamamos de problema difícil da consciência, e é um mistério filosófico e científico muito profundo.
Acho importante ressaltar que essa aposta não era sobre por que a consciência existe. Tratava-se deliberadamente de uma questão científica mais administrável: quais áreas do cérebro estão mais intimamente associadas à consciência.
E acho que, em princípio, essa é uma questão para a qual deveríamos estar em posição de descobrir a resposta a qualquer momento.
Koch - Discordo, James, de sua pergunta sobre se a consciência será para sempre incognoscível [inacessível à inteligência humana].
Não! Temos um conhecimento muito íntimo da consciência porque é o nosso mundo, o que você vê, as vozes que você ouve agora são uma experiência consciente.
Portanto, estamos intimamente familiarizados com isso. Na verdade, estamos mais familiarizados com a consciência do que com qualquer outra coisa.
O que pode permanecer incognoscível é, como diz David, por que estamos conscientes, como surge a consciência de um órgão como o cérebro?
No entanto, no centro de nossa existência neste mundo está a consciência.
David, depois de todos esses anos, Christof te pagou o vinho... Valeu a pena esperar?
Chalmers - Sim. A aposta era que quem ganhasse receberia uma caixa de bom vinho e no final Christof cedeu e me deu 6 garrafas de vinho.
Acabamos por beber um excelente Madeira 1978.
Além disso, decidimos fazer outra aposta por mais 25 anos. Então nos encontraremos novamente em 2048 para ver se descobrimos os correlatos neurais da consciência até então.
Christof, sua confiança sobre esse caminho não foi afetada, então você terá uma nova chance.
Koch - Sim, a tecnologia está melhorando, especialmente com empresas como a Neuralink de Elon Musk e outras tecnologias relacionadas, estamos melhorando em intervir diretamente no cérebro.
Na verdade, agradeci o fato de ter perdido a batalha, obviamente, mas acho que todos nós ganhamos a guerra pela Ciência: todos nós aprendemos muito sobre a base neurológica da consciência, e isso é progresso.
É assim que a Ciência funciona.
Vinte e cinco anos atrás, vocês eram jovens pioneiros brilhantes em seu campo. O que os jovens nesse patamar estão pensando hoje? A consciência da inteligência artificial em 25 anos, talvez?
Chalmers - Podemos fazer uma IA (inteligência artificial) consciente? Esse é um desafio muito grande para os próximos anos.
É também uma questão filosófica: devemos construir uma IA consciente? Seria conveniente ou poderia ter consequências ruins para nós ou para a IA?
De qualquer forma, acho que a IA é o maior desafio de nossos tempos.
Koch - As máquinas podem ser conscientes? Não sabemos. É uma questão em aberto.
Chalmers - Bem, há um gigantesco mistério filosófico aqui: é o problema filosófico mente-corpo.
Como os processos físicos no corpo e no cérebro lhe dão uma mente.
Como a consciência existe em primeiro lugar.
Isso é o que chamamos de problema difícil da consciência, e é um mistério filosófico e científico muito profundo.
Acho importante ressaltar que essa aposta não era sobre por que a consciência existe. Tratava-se deliberadamente de uma questão científica mais administrável: quais áreas do cérebro estão mais intimamente associadas à consciência.
E acho que, em princípio, essa é uma questão para a qual deveríamos estar em posição de descobrir a resposta a qualquer momento.
Koch - Discordo, James, de sua pergunta sobre se a consciência será para sempre incognoscível [inacessível à inteligência humana].
Não! Temos um conhecimento muito íntimo da consciência porque é o nosso mundo, o que você vê, as vozes que você ouve agora são uma experiência consciente.
Portanto, estamos intimamente familiarizados com isso. Na verdade, estamos mais familiarizados com a consciência do que com qualquer outra coisa.
O que pode permanecer incognoscível é, como diz David, por que estamos conscientes, como surge a consciência de um órgão como o cérebro?
No entanto, no centro de nossa existência neste mundo está a consciência.
David, depois de todos esses anos, Christof te pagou o vinho... Valeu a pena esperar?
Chalmers - Sim. A aposta era que quem ganhasse receberia uma caixa de bom vinho e no final Christof cedeu e me deu 6 garrafas de vinho.
Acabamos por beber um excelente Madeira 1978.
Além disso, decidimos fazer outra aposta por mais 25 anos. Então nos encontraremos novamente em 2048 para ver se descobrimos os correlatos neurais da consciência até então.
Christof, sua confiança sobre esse caminho não foi afetada, então você terá uma nova chance.
Koch - Sim, a tecnologia está melhorando, especialmente com empresas como a Neuralink de Elon Musk e outras tecnologias relacionadas, estamos melhorando em intervir diretamente no cérebro.
Na verdade, agradeci o fato de ter perdido a batalha, obviamente, mas acho que todos nós ganhamos a guerra pela Ciência: todos nós aprendemos muito sobre a base neurológica da consciência, e isso é progresso.
É assim que a Ciência funciona.
Vinte e cinco anos atrás, vocês eram jovens pioneiros brilhantes em seu campo. O que os jovens nesse patamar estão pensando hoje? A consciência da inteligência artificial em 25 anos, talvez?
Chalmers - Podemos fazer uma IA (inteligência artificial) consciente? Esse é um desafio muito grande para os próximos anos.
É também uma questão filosófica: devemos construir uma IA consciente? Seria conveniente ou poderia ter consequências ruins para nós ou para a IA?
De qualquer forma, acho que a IA é o maior desafio de nossos tempos.
Koch - As máquinas podem ser conscientes? Não sabemos. É uma questão em aberto.
sábado, 29 de julho de 2023
Democracia? Tanto faz
Com o sombrio título "A recessão democrática na América Latina", o Latinobarómetro acaba de publicar seu informe de 2023. A cada ano, desde 1995, o instituto chileno, dirigido pela economista Marta Lagos, toma o pulso político da opinião pública em 18 países da região. A ideia é aferir as atitudes em relação à democracia, suas instituições e aos governos que dão ou deixam de dar vida a seus princípios e regras.
Trata-se de um acervo precioso que proporciona uma visão comparada de como evoluíram as percepções dos cidadãos de cada país nas três décadas do grande experimento democrático fora dos Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental.
A pesquisa confirma esperadas variações por países. Mas, na média, aponta declínio do apreço pela democracia, em quaisquer circunstâncias; insatisfação com seu funcionamento no país do entrevistado; aumento da indiferença pela forma do regime. Também mostra a percepção de que os partidos funcionam mal, podendo ser dispensados sem grande prejuízo para o sistema.
Os resultados para o Brasil dão o que pensar. Depois de uma queda muito significativa do apoio à democracia, entre 2017 e 2020, a proporção daqueles que a consideram sempre melhor do que as alternativas voltou ao nível anterior. É relativamente baixo e estável —em torno dos 30%. Também ficou do mesmo tamanho a minoria dos cerca de 15% que acham que uma ditadura, em certas circunstâncias, pode ser uma boa solução. O maior contingente continua formado pelos brasileiros para os quais dá tudo no mesmo. E não chegam a 1/3 os satisfeitos com a maneira como sistema opera no país. Sete em cada 10 acreditam que os partidos políticos deixam a desejar.
Nada de novo na existência de um número expressivo de brasileiros relativamente indiferentes quanto ao tipo de regime político, descontentes com seu funcionamento e descrentes dos partidos: repete-se com pouca variação ao longo das três décadas em que o Latinobarómetro faz essa medição. Mudou para melhor no auge do otimismo com relação ao governo do PT, em 2010-2011, e despencou sob o governo Temer e o desastre que se lhe seguiu nas urnas de 2018. É notável que a disputa política renhida, a polarização ideológica e a agitação febril das redes dos tempos de Bolsonaro tenham mexido apenas circunstancialmente com aquelas atitudes básicas que parecem enraizadas nas mentes e corações dos brasileiros.
Como ontem, a democracia há de funcionar no país com poucos democratas convictos e muitos cidadãos indiferentes e desconfiados de suas instituições. Grande é, assim, a responsabilidade das lideranças.
Trata-se de um acervo precioso que proporciona uma visão comparada de como evoluíram as percepções dos cidadãos de cada país nas três décadas do grande experimento democrático fora dos Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental.
A pesquisa confirma esperadas variações por países. Mas, na média, aponta declínio do apreço pela democracia, em quaisquer circunstâncias; insatisfação com seu funcionamento no país do entrevistado; aumento da indiferença pela forma do regime. Também mostra a percepção de que os partidos funcionam mal, podendo ser dispensados sem grande prejuízo para o sistema.
Os resultados para o Brasil dão o que pensar. Depois de uma queda muito significativa do apoio à democracia, entre 2017 e 2020, a proporção daqueles que a consideram sempre melhor do que as alternativas voltou ao nível anterior. É relativamente baixo e estável —em torno dos 30%. Também ficou do mesmo tamanho a minoria dos cerca de 15% que acham que uma ditadura, em certas circunstâncias, pode ser uma boa solução. O maior contingente continua formado pelos brasileiros para os quais dá tudo no mesmo. E não chegam a 1/3 os satisfeitos com a maneira como sistema opera no país. Sete em cada 10 acreditam que os partidos políticos deixam a desejar.
Nada de novo na existência de um número expressivo de brasileiros relativamente indiferentes quanto ao tipo de regime político, descontentes com seu funcionamento e descrentes dos partidos: repete-se com pouca variação ao longo das três décadas em que o Latinobarómetro faz essa medição. Mudou para melhor no auge do otimismo com relação ao governo do PT, em 2010-2011, e despencou sob o governo Temer e o desastre que se lhe seguiu nas urnas de 2018. É notável que a disputa política renhida, a polarização ideológica e a agitação febril das redes dos tempos de Bolsonaro tenham mexido apenas circunstancialmente com aquelas atitudes básicas que parecem enraizadas nas mentes e corações dos brasileiros.
Como ontem, a democracia há de funcionar no país com poucos democratas convictos e muitos cidadãos indiferentes e desconfiados de suas instituições. Grande é, assim, a responsabilidade das lideranças.
Queimadas deixam ar nocivo para 20 milhões de brasileiros
Queimadas e incêndios florestais já tornam a qualidade do ar nociva aos moradores da região da Amazônia Legal e do Centro-Oeste em pelo menos metade dos dias do ano. Segundo estudo publicado nesta sexta-feira (28/07), esse tipo de poluição afeta cerca de 20 milhões de brasileiros – 10% da população do país e mais da metade dentre os que vivem nessas regiões analisadas.
O estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat), da Fundação Oswaldo Cruz do Piauí, da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Universidade de São Paulo (USP) a partir de dados obtidos do satélite do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo ao longo de uma década – de 2010 a 2019 – e publicado no periódico científico Cadernos de Saúde Pública.
Considerou-se como índice alto de poluente quando a medição indicou um nível superior a 15 microgramas de material particulado – os resíduos da queima, dispersos no ar – por metro cúbico. Assim, seguiu-se a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que indica que níveis acima disso já representam risco ao ser humano.
"Usamos a referência da OMS porque para a legislação brasileira definida pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente o limite é de 60 microgramas por metro cúbico. E [para isso] não há base científica", diz uma das autoras da pesquisa, a doutora em saúde pública Eliane Ignotti, professora na Unemat. "Lembramos que há vários estudos, inclusive no Brasil, em que são observados impactos à saúde com limites muito mais baixos."
"É interessante observar que em muitas localidades (...) estes níveis elevados de poluição atingem 100% dos dias no período de estiagem", acrescenta outra das autoras, a também doutora em saúde pública Beatriz Alves de Oliveira, pesquisadora na Fundação Oswaldo Cruz.
Se a pesquisa identificou que mais da metade da população das regiões está exposta a níveis acima do patamar considerável aceitável pela OMS em pelo menos metade do ano, ao analisar os pontos mais excessivos os números são ainda mais preocupantes.
"Estamos lidando com dados estimados, que alcançam frequentemente níveis acima de 200 microgramas por metro cúbico, até 800, 1.000", salienta Ignotti. Ela afirma que "estamos falando de níveis extremamente elevados quando comparados aos limites recomendados pela OMS".
Os autores do estudo alertam para os riscos à saúde pública. "O percentual de dias com má qualidade do ar é um indicador de exposição à poluição atmosférica que identifica as áreas potenciais de risco para a saúde humana a região", explica a professora.
Entre os problemas mencionados pelos pesquisadores estão "o aumento do número de óbitos e internação por doenças cardiopulmonares, o aumento de atendimentos ambulatoriais, o aumento de prevalência de asma, baixo peso ao nascer e até de câncer de pulmão".
Ou seja, além de piorar a qualidade de vida da população, isso significa também aumentar a demanda e criar sobrecarga no sistema de saúde. "Milhares de internações e de óbitos poderiam ser evitados se os níveis de poluição não fossem os verificados nessa região", diz ela.
Quarenta cigarros
A reportagem da DW consultou especialistas alheios ao estudo para tentar mensurar o impacto dessa poluição tanto nas populações quanto no ecossistema da região.
Chefe do Laboratório de Patologia Ambiental e Experimental do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a bióloga e fisiopatologista Mariana Veras corrobora que os riscos são muito altos para a saúde humana quando pessoas são expostas a níveis altos de poluentes com frequência.
"Há efeitos leves, como uma irritação nos olhos, garganta, tosse, e também efeitos muito graves, como maior incidência de infarto, acidente vascular cerebral, bronquite, agravamento de asma e doenças que se desenvolvem com situações de longo prazo", comenta. "Hoje há estudos que mostram associações de poluição do ar e maior risco de Alzheimer, diabetes, obesidade e outras doenças crônicas."
Publicada em 2021, uma pesquisa coordenada pela Universidade Monash, da Austrália, com participação de cientistas da USP, apontou que incêndios florestais já são a causa de hospitalizações de 47 mil brasileiros por ano. Crianças e idosos estão entre os mais afetados.
Veras recorda de um estudo realizado anos atrás por seu laboratório buscando comparar os danos causados pela poluição de São Paulo, cujo ar tem uma média de 25 microgramas de partículas do tipo por metro cúbico, com os malefícios do cigarro. "Concluímos que duas horas no trânsito [da capital paulista] equivalem a fumar dois cigarros", conta. Ou seja: um cigarro por hora de exposição. "Mas quem mora perto de queimadas tem uma concentração [de partículas poluentes no ar] muito maior."
Fazendo uma analogia, nos casos extremos de localidades da Amazônia e do Centro-Oeste onde a poluição chega a 1.000 microgramas por metro cúbico, isso significaria fumar 40 cigarros a cada hora de exposição.
A especialista explica que as partículas de poluição decorrentes de queimadas e incêndios florestais têm um potencial de danos ao organismo que pode ser ainda pior do que a poluição das cidades, composta por outros materiais. "São características da composição, principalmente do que a gente chama de material particulado, formado pela parte incompleta da combustão da biomassa, da madeira, da floresta. São partículas muito pequenininhas, capazes de entrar em nosso pulmões, chegar nas regiões mais profundas. Apresentam mais risco para a saúde", diz.
Pesquisador do Instituto Ambiental de Estocolmo, o biólogo Mairon Bastos Lima também vê com preocupação o impacto que essa poluição decorrente do fogo nas florestas pode causar nos próprios ecossistemas da Amazônia Legal e do centro-oeste.
As consequências vão do desequilíbrio ambiental a prejuízos para a agricultura. "Mais estudos são necessários para compreender melhor esses impactos, mas é seguro dizer que tamanha quantidade de fumaça e poluição não é inócua", argumenta.
"Por exemplo, pode haver mortandade de certos insetos, com consequências ainda pouco compreendidas. Alguns insetos, como as abelhas, são chave para processos de polinização, além da produção de mel", diz. "Por outro lado, há famílias de insetos chamados de pirófilos por gostarem da fumaça e cujos números se elevam nessas situações. Esses insetos podem incluir tipos de gafanhotos, com consequências [danosas] para a agricultura."
Lima, que atualmente está em pesquisa de campo no Pará, contar ter ouvido de locais que o aumento das queimadas parece estar relacionado ao crescimento das populações de potó, um inseto que pode causar queimaduras severas na pele de humanos. "Mas ainda estamos no escuro em relação a isso, precisamos de mais estudos", salienta.
Onde já há certezas são em pesquisas que mostram, lembra Lima, que a recorrência de fumaça "reduz a resiliência da floresta, isto é, sua habilidade de se regenerar". "E já sabemos que o desmatamento e as queimadas afetam negativamente o regime de chuvas na Amazônia e no seu entorno, e que as chuvas são essenciais para a regeneração do bioma. É o ciclo vicioso que está nos levando para o chamado ponto de não-retorno na Amazônia, quando esse ecossistema já não gerará chuva suficiente para sua própria manutenção", acrescenta.
"Estamos brincando com fogo em todos os sentidos do termo, pois as consequências disso seriam catastróficas. É fundamental que deixemos de ser inconsequentes", alerta o biólogo.
O estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat), da Fundação Oswaldo Cruz do Piauí, da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Universidade de São Paulo (USP) a partir de dados obtidos do satélite do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo ao longo de uma década – de 2010 a 2019 – e publicado no periódico científico Cadernos de Saúde Pública.
Considerou-se como índice alto de poluente quando a medição indicou um nível superior a 15 microgramas de material particulado – os resíduos da queima, dispersos no ar – por metro cúbico. Assim, seguiu-se a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que indica que níveis acima disso já representam risco ao ser humano.
"Usamos a referência da OMS porque para a legislação brasileira definida pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente o limite é de 60 microgramas por metro cúbico. E [para isso] não há base científica", diz uma das autoras da pesquisa, a doutora em saúde pública Eliane Ignotti, professora na Unemat. "Lembramos que há vários estudos, inclusive no Brasil, em que são observados impactos à saúde com limites muito mais baixos."
"É interessante observar que em muitas localidades (...) estes níveis elevados de poluição atingem 100% dos dias no período de estiagem", acrescenta outra das autoras, a também doutora em saúde pública Beatriz Alves de Oliveira, pesquisadora na Fundação Oswaldo Cruz.
Se a pesquisa identificou que mais da metade da população das regiões está exposta a níveis acima do patamar considerável aceitável pela OMS em pelo menos metade do ano, ao analisar os pontos mais excessivos os números são ainda mais preocupantes.
"Estamos lidando com dados estimados, que alcançam frequentemente níveis acima de 200 microgramas por metro cúbico, até 800, 1.000", salienta Ignotti. Ela afirma que "estamos falando de níveis extremamente elevados quando comparados aos limites recomendados pela OMS".
Os autores do estudo alertam para os riscos à saúde pública. "O percentual de dias com má qualidade do ar é um indicador de exposição à poluição atmosférica que identifica as áreas potenciais de risco para a saúde humana a região", explica a professora.
Entre os problemas mencionados pelos pesquisadores estão "o aumento do número de óbitos e internação por doenças cardiopulmonares, o aumento de atendimentos ambulatoriais, o aumento de prevalência de asma, baixo peso ao nascer e até de câncer de pulmão".
Ou seja, além de piorar a qualidade de vida da população, isso significa também aumentar a demanda e criar sobrecarga no sistema de saúde. "Milhares de internações e de óbitos poderiam ser evitados se os níveis de poluição não fossem os verificados nessa região", diz ela.
Quarenta cigarros
A reportagem da DW consultou especialistas alheios ao estudo para tentar mensurar o impacto dessa poluição tanto nas populações quanto no ecossistema da região.
Chefe do Laboratório de Patologia Ambiental e Experimental do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a bióloga e fisiopatologista Mariana Veras corrobora que os riscos são muito altos para a saúde humana quando pessoas são expostas a níveis altos de poluentes com frequência.
"Há efeitos leves, como uma irritação nos olhos, garganta, tosse, e também efeitos muito graves, como maior incidência de infarto, acidente vascular cerebral, bronquite, agravamento de asma e doenças que se desenvolvem com situações de longo prazo", comenta. "Hoje há estudos que mostram associações de poluição do ar e maior risco de Alzheimer, diabetes, obesidade e outras doenças crônicas."
Publicada em 2021, uma pesquisa coordenada pela Universidade Monash, da Austrália, com participação de cientistas da USP, apontou que incêndios florestais já são a causa de hospitalizações de 47 mil brasileiros por ano. Crianças e idosos estão entre os mais afetados.
Veras recorda de um estudo realizado anos atrás por seu laboratório buscando comparar os danos causados pela poluição de São Paulo, cujo ar tem uma média de 25 microgramas de partículas do tipo por metro cúbico, com os malefícios do cigarro. "Concluímos que duas horas no trânsito [da capital paulista] equivalem a fumar dois cigarros", conta. Ou seja: um cigarro por hora de exposição. "Mas quem mora perto de queimadas tem uma concentração [de partículas poluentes no ar] muito maior."
Fazendo uma analogia, nos casos extremos de localidades da Amazônia e do Centro-Oeste onde a poluição chega a 1.000 microgramas por metro cúbico, isso significaria fumar 40 cigarros a cada hora de exposição.
A especialista explica que as partículas de poluição decorrentes de queimadas e incêndios florestais têm um potencial de danos ao organismo que pode ser ainda pior do que a poluição das cidades, composta por outros materiais. "São características da composição, principalmente do que a gente chama de material particulado, formado pela parte incompleta da combustão da biomassa, da madeira, da floresta. São partículas muito pequenininhas, capazes de entrar em nosso pulmões, chegar nas regiões mais profundas. Apresentam mais risco para a saúde", diz.
Pesquisador do Instituto Ambiental de Estocolmo, o biólogo Mairon Bastos Lima também vê com preocupação o impacto que essa poluição decorrente do fogo nas florestas pode causar nos próprios ecossistemas da Amazônia Legal e do centro-oeste.
As consequências vão do desequilíbrio ambiental a prejuízos para a agricultura. "Mais estudos são necessários para compreender melhor esses impactos, mas é seguro dizer que tamanha quantidade de fumaça e poluição não é inócua", argumenta.
"Por exemplo, pode haver mortandade de certos insetos, com consequências ainda pouco compreendidas. Alguns insetos, como as abelhas, são chave para processos de polinização, além da produção de mel", diz. "Por outro lado, há famílias de insetos chamados de pirófilos por gostarem da fumaça e cujos números se elevam nessas situações. Esses insetos podem incluir tipos de gafanhotos, com consequências [danosas] para a agricultura."
Lima, que atualmente está em pesquisa de campo no Pará, contar ter ouvido de locais que o aumento das queimadas parece estar relacionado ao crescimento das populações de potó, um inseto que pode causar queimaduras severas na pele de humanos. "Mas ainda estamos no escuro em relação a isso, precisamos de mais estudos", salienta.
Onde já há certezas são em pesquisas que mostram, lembra Lima, que a recorrência de fumaça "reduz a resiliência da floresta, isto é, sua habilidade de se regenerar". "E já sabemos que o desmatamento e as queimadas afetam negativamente o regime de chuvas na Amazônia e no seu entorno, e que as chuvas são essenciais para a regeneração do bioma. É o ciclo vicioso que está nos levando para o chamado ponto de não-retorno na Amazônia, quando esse ecossistema já não gerará chuva suficiente para sua própria manutenção", acrescenta.
"Estamos brincando com fogo em todos os sentidos do termo, pois as consequências disso seriam catastróficas. É fundamental que deixemos de ser inconsequentes", alerta o biólogo.
Mendigando pão
Então, grupos de homens molhados saíam das tendas e dos barracões superlotados, homens, cujas roupas eram farrapos encharcados e cujos sapatos se haviam transformado numa papa lodosa. Caminhavam na água, que saltava sob os seus passos e iam às cidades, às vendas das redondezas, às comissões de socorro, a implorar comida, a mendigar, humilhando-se a solicitar auxílio, mentindo e tentando roubar. E entre os mendigos e os humilhados, uma raiva desesperada começou a tomar forma. Nas pequenas cidades, a compaixão pelos homens encharcados transformou-se em indignação, e a indignação, despertada pela gente faminta, transformou-se em medo. E então os xerifes reuniam turmas de policiais, emitiam pedidos urgentes de rifles, de gases lacrimogêneos e de munições. E os homens famintos enchiam as ruas para onde davam as traseiras dos estabelecimentos, mendigando pão, mendigando verduras podres e roubando o que podiam.
John Steinbeck, "As vinhas da ira"
John Steinbeck, "As vinhas da ira"
O que Bolsonaro fez com o dinheiro que recebeu para pagar multas
Era uma vez um presidente da República que jamais se envergonhou de ficar com o dinheiro dos outros. Assim construiu sua fortuna desde os primeiros mandatos como deputado federal.
No princípio era o verbo, isto é, a verba. Ela estava no princípio com Bolsonaro, subtraída dos salários de funcionários do seu gabinete. Tudo foi feito por ele; e nada foi feito sem ele.
Uma vez derrotado ao tentar se reeleger, Bolsonaro pensou em dar um golpe para permanecer no poder. Como lhe faltou apoio, teve outra ideia: tomar dinheiro alheio para viver confortavelmente.
Primeiro, fez com que o PL, com dinheiro público, lhe pagasse as contas – salário equivalente ao de ministro da mais alta Corte do país; aluguel do palacete onde mora; despesas com viagens.
Não satisfeito, empregou a mulher no partido com bom salário e o direito às mesmas vantagens. Mas isso lhe pareceu pouco. Então, teve outra ideia: pedir doações para pagar suas dívidas.
Sim, ele as tem. Só de multas por não usar máscaras de proteção à época da pandemia da Covid-19, ele deve ao Estado de São Paulo R$ 936.839,70. Deve também a outros estados.
O apelo por doações foi atendido por bolsonaristas aflitos com a situação do seu guia e mestre. Entre janeiro e 4 do mês em curso, ele recebeu pouco mais de R$ 17 milhões. Espera novas doações.
E o que fez com o dinheiro? Pagou as multas e devolveu o resto? Pagou as multas e doou a sobra – e que sobra! – para entidades de caridade? Não. Fez o que achou melhor para seu bolso.
Não pagou as multas. E, segundo relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, investiu R$ 17 milhões em fundos de renda fixa. Na Justiça, aposta em anular as multas.
Os filhos amestrados, à sua imagem e semelhança, donos de mandatos eletivos conseguidos à sombra dele, naturalmente saíram em defesa do pai, alvo de mais uma infâmia.
Não contestaram as informações vazadas, mas vitimaram Bolsonaro. Além de classificá-lo como o melhor presidente da República que o país já teve. Foi o pior desde o fim da ditadura.
Foi também o que mais enriqueceu com a política.
No princípio era o verbo, isto é, a verba. Ela estava no princípio com Bolsonaro, subtraída dos salários de funcionários do seu gabinete. Tudo foi feito por ele; e nada foi feito sem ele.
Uma vez derrotado ao tentar se reeleger, Bolsonaro pensou em dar um golpe para permanecer no poder. Como lhe faltou apoio, teve outra ideia: tomar dinheiro alheio para viver confortavelmente.
Primeiro, fez com que o PL, com dinheiro público, lhe pagasse as contas – salário equivalente ao de ministro da mais alta Corte do país; aluguel do palacete onde mora; despesas com viagens.
Não satisfeito, empregou a mulher no partido com bom salário e o direito às mesmas vantagens. Mas isso lhe pareceu pouco. Então, teve outra ideia: pedir doações para pagar suas dívidas.
Sim, ele as tem. Só de multas por não usar máscaras de proteção à época da pandemia da Covid-19, ele deve ao Estado de São Paulo R$ 936.839,70. Deve também a outros estados.
O apelo por doações foi atendido por bolsonaristas aflitos com a situação do seu guia e mestre. Entre janeiro e 4 do mês em curso, ele recebeu pouco mais de R$ 17 milhões. Espera novas doações.
E o que fez com o dinheiro? Pagou as multas e devolveu o resto? Pagou as multas e doou a sobra – e que sobra! – para entidades de caridade? Não. Fez o que achou melhor para seu bolso.
Não pagou as multas. E, segundo relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, investiu R$ 17 milhões em fundos de renda fixa. Na Justiça, aposta em anular as multas.
Os filhos amestrados, à sua imagem e semelhança, donos de mandatos eletivos conseguidos à sombra dele, naturalmente saíram em defesa do pai, alvo de mais uma infâmia.
Não contestaram as informações vazadas, mas vitimaram Bolsonaro. Além de classificá-lo como o melhor presidente da República que o país já teve. Foi o pior desde o fim da ditadura.
Foi também o que mais enriqueceu com a política.
sexta-feira, 28 de julho de 2023
Descobrimento
Abancado à escrivaninha em São Paulo
Na minha casa da rua Lopes Chaves
De supetão senti um friúme por dentro.
Fiquei trêmulo, muito comovido
Com o livro palerma olhando pra mim.
Não vê que me lembrei que lá no Norte, meu Deus!
muito longe de mim
Na escuridão ativa da noite que caiu
Um homem pálido magro de cabelo escorrendo nos olhos,
Depois de fazer uma pele com a borracha do dia,
Faz pouco se deitou, está dormindo.
Esse homem é brasileiro que nem eu.
Mário de Andrade, "Antologia Poética"
Na minha casa da rua Lopes Chaves
De supetão senti um friúme por dentro.
Fiquei trêmulo, muito comovido
Com o livro palerma olhando pra mim.
Não vê que me lembrei que lá no Norte, meu Deus!
muito longe de mim
Na escuridão ativa da noite que caiu
Um homem pálido magro de cabelo escorrendo nos olhos,
Depois de fazer uma pele com a borracha do dia,
Faz pouco se deitou, está dormindo.
Esse homem é brasileiro que nem eu.
Mário de Andrade, "Antologia Poética"
Brasil, país das desigualdades
Já não somos campeões mundiais de futebol. Mas, em outros temas, somos imbatíveis e, ao que tudo indica, continuaremos assim sendo: nas desigualdades sociais; na injustiça tributária (pobres pagam mais impostos do que os ricos); nos privilégios concedidos a algumas verdadeiras castas de agentes públicos (os parlamentares, os juízes, os generais); na sonegação de impostos pelos ricos; e na exclusão do povo da democracia.
Recentemente, foi aprovada na Câmara dos Deputados uma reforma tributária, que dizem ser a primeira parte da reforma do governo Lula. Essa reforma objetivou apenas tornar o sistema mais eficiente e transparente, mas não mais justo e igualitário. Facilitará apenas o processo de cobrança de impostos indiretos, incidente sobre o consumo e na produção de bens e serviços.
No entanto, a criação do IVA, uma inovação necessária, deve ser comemorada com cautela, vez que ela contempla, sobretudo, os interesses de empresários. Além disso, a reforma criará três alíquotas: uma geral, uma reduzida e outra zero, destinada a itens como medicamentos e produtos da cesta básica.
Infelizmente, esta reforma em vias de aprovação pelo Congresso – vai ser agora discutida pelo Senado Federal – não enfrenta um dos maiores problemas de tributação que é a sonegação de impostos pelos mais ricos. De acordo com o placar Sonegômetro, criado pelo Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional (Sinprofaz), o prejuízo do Brasil com a sonegação fiscal, em 2022, ultrapassou os R$ 626,8 bilhões. Os estudos indicam que a arrecadação brasileira poderia se expandir em 23% se a evasão tributária fosse interrompida no País.
Esta evasão poderia ser facilmente resolvida, caso os empresários e negociantes em geral fossem taxados de acordo com o padrão de vida que ostentam. É injustificável que um cidadão que reside em mansão, com vários carros na garagem, possa continuar declarando um pró-labore de um ou dois salários mínimos por mês para não pagar nada de imposto de renda. Enquanto isso, um empregado público ou privado com padrão semelhante paga mais de cem mil reais de imposto de renda por ano, já retido na fonte.
Por enquanto os ricos continuam ilesos. A criação de novas alíquotas do Imposto de Renda, a retomada da taxação sobre lucros e dividendos, a criação de um imposto sobre as grandes fortunas e uma maior taxação sobre o patrimônio foram convenientemente deixados para um segundo momento. É aí que se aloja, desde longo tempo, a grande injustiça tributária que se pratica no País.
Sem desconhecer algumas sinalizações positivas da atual reforma, a exemplo da isenção de impostos sobre os produtos da cesta básica, cujo rol de produtos ainda será definido, bem como o chamado cashback (devolução de impostos para os mais pobres), cujo mecanismo também ainda não está definido, ela não contemplou nenhum item que afete o bolso dos mais favorecidos.
O imposto sobre exportações, por exemplo, continuará a não ser cobrado. Essa medida é positiva para a sociedade no caso dos produtos industrializados, cuja elaboração gera empregos e renda internamente. Mas é injusta para atividades que exportam as chamadas commodities (matérias-primas), a exemplo dos minérios e dos produtos agropecuários, que geram poucos empregos e quase nenhuma renda para o País. Mas esses setores jamais serão taxados, vez que contam com poderosas bancadas parlamentares.
A votação expressiva, que essa reforma obteve na Câmara dos Deputados, foi positiva no sentido de demonstrar que o ex-presidente, o inelegível, não tem a liderança dos partidos de oposição como ele pensava.
Esqueceu-se ele, ou entende pouco da realidade, que o grupo de apoio ao seu desgoverno manteve-se ao seu lado por interesse, vez que são majoritariamente fisiológicos. Agora que a “chave do cofre” mudou de mão, grande parte dos seus integrantes já debandou para o lado do atual governo.
Como políticos fisiológicos, não sabem atuar na oposição. Querem sempre estar ao lado de quem tem condições de favorecê-los: liberação de emendas, indicação de apadrinhados para cargos, participação nos orçamentos de órgãos públicos etc.
A segunda etapa será, sem dúvida, bem mais difícil de ser aprovada, pois deverá contemplar alterações no imposto direto, que incide sobre o patrimônio e a renda (imposto de renda, heranças, grandes fortunas e patrimônio). Esta sim deverá incluir proposta para taxar, com mais ênfase, o andar de cima – os mais favorecidos. Por isso, não deverá ser tão celebrada como a atual, pois a maioria dos atuais parlamentares são ricos ou prepostos de ricos.
Recentemente, foi aprovada na Câmara dos Deputados uma reforma tributária, que dizem ser a primeira parte da reforma do governo Lula. Essa reforma objetivou apenas tornar o sistema mais eficiente e transparente, mas não mais justo e igualitário. Facilitará apenas o processo de cobrança de impostos indiretos, incidente sobre o consumo e na produção de bens e serviços.
No entanto, a criação do IVA, uma inovação necessária, deve ser comemorada com cautela, vez que ela contempla, sobretudo, os interesses de empresários. Além disso, a reforma criará três alíquotas: uma geral, uma reduzida e outra zero, destinada a itens como medicamentos e produtos da cesta básica.
Infelizmente, esta reforma em vias de aprovação pelo Congresso – vai ser agora discutida pelo Senado Federal – não enfrenta um dos maiores problemas de tributação que é a sonegação de impostos pelos mais ricos. De acordo com o placar Sonegômetro, criado pelo Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional (Sinprofaz), o prejuízo do Brasil com a sonegação fiscal, em 2022, ultrapassou os R$ 626,8 bilhões. Os estudos indicam que a arrecadação brasileira poderia se expandir em 23% se a evasão tributária fosse interrompida no País.
Esta evasão poderia ser facilmente resolvida, caso os empresários e negociantes em geral fossem taxados de acordo com o padrão de vida que ostentam. É injustificável que um cidadão que reside em mansão, com vários carros na garagem, possa continuar declarando um pró-labore de um ou dois salários mínimos por mês para não pagar nada de imposto de renda. Enquanto isso, um empregado público ou privado com padrão semelhante paga mais de cem mil reais de imposto de renda por ano, já retido na fonte.
Por enquanto os ricos continuam ilesos. A criação de novas alíquotas do Imposto de Renda, a retomada da taxação sobre lucros e dividendos, a criação de um imposto sobre as grandes fortunas e uma maior taxação sobre o patrimônio foram convenientemente deixados para um segundo momento. É aí que se aloja, desde longo tempo, a grande injustiça tributária que se pratica no País.
Sem desconhecer algumas sinalizações positivas da atual reforma, a exemplo da isenção de impostos sobre os produtos da cesta básica, cujo rol de produtos ainda será definido, bem como o chamado cashback (devolução de impostos para os mais pobres), cujo mecanismo também ainda não está definido, ela não contemplou nenhum item que afete o bolso dos mais favorecidos.
O imposto sobre exportações, por exemplo, continuará a não ser cobrado. Essa medida é positiva para a sociedade no caso dos produtos industrializados, cuja elaboração gera empregos e renda internamente. Mas é injusta para atividades que exportam as chamadas commodities (matérias-primas), a exemplo dos minérios e dos produtos agropecuários, que geram poucos empregos e quase nenhuma renda para o País. Mas esses setores jamais serão taxados, vez que contam com poderosas bancadas parlamentares.
A votação expressiva, que essa reforma obteve na Câmara dos Deputados, foi positiva no sentido de demonstrar que o ex-presidente, o inelegível, não tem a liderança dos partidos de oposição como ele pensava.
Esqueceu-se ele, ou entende pouco da realidade, que o grupo de apoio ao seu desgoverno manteve-se ao seu lado por interesse, vez que são majoritariamente fisiológicos. Agora que a “chave do cofre” mudou de mão, grande parte dos seus integrantes já debandou para o lado do atual governo.
Como políticos fisiológicos, não sabem atuar na oposição. Querem sempre estar ao lado de quem tem condições de favorecê-los: liberação de emendas, indicação de apadrinhados para cargos, participação nos orçamentos de órgãos públicos etc.
A segunda etapa será, sem dúvida, bem mais difícil de ser aprovada, pois deverá contemplar alterações no imposto direto, que incide sobre o patrimônio e a renda (imposto de renda, heranças, grandes fortunas e patrimônio). Esta sim deverá incluir proposta para taxar, com mais ênfase, o andar de cima – os mais favorecidos. Por isso, não deverá ser tão celebrada como a atual, pois a maioria dos atuais parlamentares são ricos ou prepostos de ricos.
Faltou cuidado
Se o Brasil tivesse sido cuidado com mais cuidado, não se chegaria a esse monstro a que chegamos por quatro anosFernanda Montenegro
O bolsonarismo era apenas uma bolha de sabão
O chamado bolsonarismo não passou de uma miragem que está murchando como uma bolha de sabão. O Brasil precisa varrê-lo do mapa político porque foi mais uma farsa do que a criação de uma nova extrema-direita.
Acreditar que o capitão reformado Jair Bolsonaro, que passou por oito partidos no Congresso e não conseguiu aprovar uma única lei ao longo de sua carreira, pudesse aparecer como um novo político capaz de deixar sua marca é quase um escárnio.
O bolsonarismo deve desaparecer do mapa político porque considerar que Bolsonaro deveria ser visto como o criador de uma nova corrente política à la Mussolini, Hitler, Lenin ou Mao, seria patético.
Agora, o capitão sem história que se alimentava da ilusão de que os militares iriam acompanhá-lo em seu desejo de liderar uma nova ditadura, carregando-os de privilégios tão bizarros quanto toneladas de Viagra e milhares de próteses penianas, não é mais nada. Ele também não pode se candidatar novamente nos próximos oito anos.
Diante desse isolamento do ex-presidente extremista que certamente não entrará para a história como um novo Napoleão, redobra a importância do novo governo de centro-esquerda de Lula, que tenta dialogar até mesmo com a extrema-direita não golpista.
Fica cada vez mais claro que Lula não poderá mais governar apenas com a esquerda e talvez nem mesmo com o centro. Vai precisar, como tenta, abrir um diálogo com todas as forças políticas, excluindo apenas a direita nazifascista.
Quem hoje critica Lula, a começar pelo seu partido, o PT, não entende que o astuto sindicalista percebeu que a velha esquerda sozinha dificilmente terá forças para governar um país tão complexo como o Brasil – um continente inteiro com mil facetas e no qual a pior extrema direita tenta se impor.
Se Lula, com efeito, está conseguindo governar e demolir o bolsonarismo, é porque, pela primeira vez em seu terceiro mandato, criou um governo não de esquerda pura, mas com elementos do centro e até da direita dita “civilizada”, mais econômica do que ideológica.
O Brasil voltará a ocupar o lugar que hoje lhe cabe no mundo devido ao seu tamanho e suas indiscutíveis riquezas, se todas as correntes políticas que não sejam fascistas ou nostálgicas de golpes militares, se unirem em um programa comum contra a injustiça, o racismo e as tentações extremistas de minorias que se alimentam mais de barulho do que de nozes.
Foi um período negro, fora da curva o dos últimos quatro anos, pelo que urge regressar aos trilhos da normalidade democrática capaz de dialogar sem se envergonhar e ser respeitado pelos países ditos “normais”, onde nem a esquerda quer dizer comunismo nem a direita nazismo ou fascismo.
Tudo isso com mais razão ainda porque o mundo, como um todo, está entrando em um momento de alta tensão transformadora, cheio de incógnitas e ansiedades que exigem não apenas maior responsabilidade global, mas também um grupo de novos estrategistas democráticos e esclarecidos, e de estadistas capazes de dar respostas democráticas aos perigos reais que nos espreitam.
Diante dessa realidade e da importância do Brasil e do continente americano nesse momento de quebra de paradigmas, continuar falando do bolsonarismo como algo novo e importante nascido na política, e mais global, soaria no mínimo infantil. Não, Bolsonaro nem é Trump. É um extremista sem originalidade que até os militares mais próximos a ele se recusaram a seguir, que acabaram por abandoná-lo e hoje dialogam abertamente com Lula.
Acreditar que o capitão reformado Jair Bolsonaro, que passou por oito partidos no Congresso e não conseguiu aprovar uma única lei ao longo de sua carreira, pudesse aparecer como um novo político capaz de deixar sua marca é quase um escárnio.
O bolsonarismo deve desaparecer do mapa político porque considerar que Bolsonaro deveria ser visto como o criador de uma nova corrente política à la Mussolini, Hitler, Lenin ou Mao, seria patético.
Bolsonaro não inventou nada de novo. Simplesmente uniu na mesma lixeira o pior e o mais baixo da política, mas sem nenhuma originalidade, nem para o mal. O sociólogo Zé Celso, sob o título “A fuga do verme”, afirma no jornal Folha de São Paulo que “Bolsonaro sobrevive como uma comunidade noturna onde não há necessidade de abrir os olhos nem a consciência”. E acrescenta: “O que os analistas políticos chamam de “bolsonarismo” é apenas um conglomerado de clichês de extrema-direita. Nada mais”.
Agora, o capitão sem história que se alimentava da ilusão de que os militares iriam acompanhá-lo em seu desejo de liderar uma nova ditadura, carregando-os de privilégios tão bizarros quanto toneladas de Viagra e milhares de próteses penianas, não é mais nada. Ele também não pode se candidatar novamente nos próximos oito anos.
Diante desse isolamento do ex-presidente extremista que certamente não entrará para a história como um novo Napoleão, redobra a importância do novo governo de centro-esquerda de Lula, que tenta dialogar até mesmo com a extrema-direita não golpista.
Fica cada vez mais claro que Lula não poderá mais governar apenas com a esquerda e talvez nem mesmo com o centro. Vai precisar, como tenta, abrir um diálogo com todas as forças políticas, excluindo apenas a direita nazifascista.
Quem hoje critica Lula, a começar pelo seu partido, o PT, não entende que o astuto sindicalista percebeu que a velha esquerda sozinha dificilmente terá forças para governar um país tão complexo como o Brasil – um continente inteiro com mil facetas e no qual a pior extrema direita tenta se impor.
Se Lula, com efeito, está conseguindo governar e demolir o bolsonarismo, é porque, pela primeira vez em seu terceiro mandato, criou um governo não de esquerda pura, mas com elementos do centro e até da direita dita “civilizada”, mais econômica do que ideológica.
O Brasil voltará a ocupar o lugar que hoje lhe cabe no mundo devido ao seu tamanho e suas indiscutíveis riquezas, se todas as correntes políticas que não sejam fascistas ou nostálgicas de golpes militares, se unirem em um programa comum contra a injustiça, o racismo e as tentações extremistas de minorias que se alimentam mais de barulho do que de nozes.
Foi um período negro, fora da curva o dos últimos quatro anos, pelo que urge regressar aos trilhos da normalidade democrática capaz de dialogar sem se envergonhar e ser respeitado pelos países ditos “normais”, onde nem a esquerda quer dizer comunismo nem a direita nazismo ou fascismo.
Tudo isso com mais razão ainda porque o mundo, como um todo, está entrando em um momento de alta tensão transformadora, cheio de incógnitas e ansiedades que exigem não apenas maior responsabilidade global, mas também um grupo de novos estrategistas democráticos e esclarecidos, e de estadistas capazes de dar respostas democráticas aos perigos reais que nos espreitam.
Diante dessa realidade e da importância do Brasil e do continente americano nesse momento de quebra de paradigmas, continuar falando do bolsonarismo como algo novo e importante nascido na política, e mais global, soaria no mínimo infantil. Não, Bolsonaro nem é Trump. É um extremista sem originalidade que até os militares mais próximos a ele se recusaram a seguir, que acabaram por abandoná-lo e hoje dialogam abertamente com Lula.
quinta-feira, 27 de julho de 2023
Algo que a IA deve saber sobre jornalismo
O jornalismo vive de factos e vive para publicar aqueles que são relevantes. Mas o jornalismo não é um conjunto seleccionado de factos. Um conjunto seleccionado de factos, se ordenados de uma certa forma, pode ser uma enciclopédia. O jornalismo não é uma enciclopédia.
O jornalismo também não é um produto ou uma plataforma.
Qualquer pessoa pode escrever textos, publicar fotografias e vídeos, e lançar sites, newsletters, podcasts ou aplicações. Mas, para que isso seja jornalismo, é preciso que sejam seguidas práticas específicas e que os objectivos sejam, genericamente, os de informar o público, escrutinar os poderes, ajudar a compreender o mundo. Não vale a pena alongarmo-nos no assunto – para os interessados, a minha colega Bárbara Reis, numa newsletter aqui ao lado, escreve sobre o tema.
O que interessa para esta newsletter é a forma como a tecnologia de inteligência artificial generativa (os famosos chatbots) pode vir a afectar o jornalismo; e, por consequência, afectar o espaço público, o que implica as escolhas que fazemos, do consumo ao voto.
A ideia de que o jornalismo não é o acto de filtrar um repositório de factos, e de combinar os resultados obtidos para criar um produto, é uma ideia útil para esta discussão.
Na semana passada, a Google fez um tour pelos jornais americanos para apresentar ferramentas de inteligência artificial que acredita serem úteis nas redacções. A empresa tem estado a promover o Bard, a sua plataforma de inteligência artificial conversacional, concorrente do ChatGPT. Por seu lado, os media (escaldados com o impacto que as tecnologias de informação tiveram no último quarto de século, em particular no que diz respeito ao negócio) estão em estado de alerta, entre o medo de perderem a próxima grande inovação e o receio de se voltarem a queimar.
Não é claro em que consistem as ferramentas apresentadas pela Google aos jornais. Mas, pelo que apurou um artigo do New York Times, são uma espécie de assistente digital que poderá ser usado por jornalistas; não são ferramentas para escrever e publicar artigos automaticamente. “Muito simplesmente, estas ferramentas não pretendem, e não podem substituir o papel essencial que os jornalistas têm a fazer reportagem, criar e verificar os seus artigos”, disse uma porta-voz da Google.
É uma afirmação factual e politicamente correcta. Mas há uma passagem do artigo que me despertou a atenção e me deu uma sensação de déjà-vu: “Alguns executivos que viram a apresentação da Google descreveram-na como perturbadora (…) Duas pessoas afirmaram que parecia que [a empresa] dava por garantido o esforço que é posto a produzir artigos rigorosos e bem-feitos”.
É um equívoco frequente.
Ao longo dos anos em que escrevi sobre empresas de tecnologia e startups, uma pergunta que ouvi várias vezes vinda de pessoas do sector foi: “Onde é que vocês vão buscar a informação?”
A resposta não cabia nos poucos minutos de conversa de circunstância em que estava a preparar o telemóvel para gravar a entrevista. É impossível explicar de passagem o papel das agências noticiosas, da comunicação institucional, das conversas, das fontes que se cultivam pessoalmente, das reportagens no terreno, dos documentos obtidos a custo, às vezes nos tribunais. Também é difícil explicar de passagem que, em muitos casos, obter a informação é a parte mais trabalhosa e demorada – o conceito de informação escassa não é imediato para quem vive em hiperabundância de informação e de dados.
Quem fazia a pergunta eram pessoas afastadas da bolha que sabe como as redacções funcionam; alguns eram empreendedores pós-universitários que estavam a falar com um jornalista pela primeira vez. A impressão com que fiquei daquelas curtas conversas era que os meus interlocutores achavam que a informação relatada num trabalho jornalístico estava (na maioria dos casos, pelo menos) pronta a ser obtida num documento ou base de dados.
Também por essa altura, uma mão-cheia de startups teve conversas comigo sobre uma qualquer ideia que tinham para o jornalismo. As ideias não eram boas e julgo que nenhuma das startups vingou, excepto talvez uma, que acabou por pegar no que tinha desenvolvido e virar-se para outros sectores.
Aquelas perguntas sobre a origem da informação e as ideias bem intencionadas das startups tinham um ponto em comum: a concepção do jornalismo como um produto que resulta da agregação de factos disponíveis e obtidos sem grande esforço. Este processo de transformação de factos em produto final (que para estas pessoas parecia constituir a essência do trabalho jornalístico) poderia ser melhorada, ou parcialmente automatizada, com recurso a uma qualquer tecnologia. Era uma mistura de ignorância e de tecno-solucionismo.
A inteligência artificial, em particular aquela que produz textos indistinguíveis dos produzidos por humanos, vai fazer o seu caminho nas redacções. A publicação de textos escritos por máquinas nem sequer é algo novo: algumas agências noticiosas e jornais, por exemplo, fazem-no há anos para temas como os mercados financeiros e os resultados de empresas, embora de forma mais rudimentar.
É difícil antever o quanto se poderão embrenhar estas tecnologias nos media. É possível que o entusiasmo recente se esvazie. Mas o contrário não é uma hipótese a descartar, se os resultados das primeiras experiências forem promissores, em particular no que diz respeito à espinhosa questão de ajudar o jornalismo a fazer dinheiro.
Em todo o caso, quem desenvolve tecnologias de inteligência artificial e se propõe aplicá-las ao funcionamento das redacções tem a obrigação mínima de saber o que é e como funciona o jornalismo. Caso contrário, vamos andar todos a perder tempo e a desperdiçar esforços.
O jornalismo também não é um produto ou uma plataforma.
Qualquer pessoa pode escrever textos, publicar fotografias e vídeos, e lançar sites, newsletters, podcasts ou aplicações. Mas, para que isso seja jornalismo, é preciso que sejam seguidas práticas específicas e que os objectivos sejam, genericamente, os de informar o público, escrutinar os poderes, ajudar a compreender o mundo. Não vale a pena alongarmo-nos no assunto – para os interessados, a minha colega Bárbara Reis, numa newsletter aqui ao lado, escreve sobre o tema.
O que interessa para esta newsletter é a forma como a tecnologia de inteligência artificial generativa (os famosos chatbots) pode vir a afectar o jornalismo; e, por consequência, afectar o espaço público, o que implica as escolhas que fazemos, do consumo ao voto.
Na semana passada, a Google fez um tour pelos jornais americanos para apresentar ferramentas de inteligência artificial que acredita serem úteis nas redacções. A empresa tem estado a promover o Bard, a sua plataforma de inteligência artificial conversacional, concorrente do ChatGPT. Por seu lado, os media (escaldados com o impacto que as tecnologias de informação tiveram no último quarto de século, em particular no que diz respeito ao negócio) estão em estado de alerta, entre o medo de perderem a próxima grande inovação e o receio de se voltarem a queimar.
Não é claro em que consistem as ferramentas apresentadas pela Google aos jornais. Mas, pelo que apurou um artigo do New York Times, são uma espécie de assistente digital que poderá ser usado por jornalistas; não são ferramentas para escrever e publicar artigos automaticamente. “Muito simplesmente, estas ferramentas não pretendem, e não podem substituir o papel essencial que os jornalistas têm a fazer reportagem, criar e verificar os seus artigos”, disse uma porta-voz da Google.
É uma afirmação factual e politicamente correcta. Mas há uma passagem do artigo que me despertou a atenção e me deu uma sensação de déjà-vu: “Alguns executivos que viram a apresentação da Google descreveram-na como perturbadora (…) Duas pessoas afirmaram que parecia que [a empresa] dava por garantido o esforço que é posto a produzir artigos rigorosos e bem-feitos”.
É um equívoco frequente.
Ao longo dos anos em que escrevi sobre empresas de tecnologia e startups, uma pergunta que ouvi várias vezes vinda de pessoas do sector foi: “Onde é que vocês vão buscar a informação?”
A resposta não cabia nos poucos minutos de conversa de circunstância em que estava a preparar o telemóvel para gravar a entrevista. É impossível explicar de passagem o papel das agências noticiosas, da comunicação institucional, das conversas, das fontes que se cultivam pessoalmente, das reportagens no terreno, dos documentos obtidos a custo, às vezes nos tribunais. Também é difícil explicar de passagem que, em muitos casos, obter a informação é a parte mais trabalhosa e demorada – o conceito de informação escassa não é imediato para quem vive em hiperabundância de informação e de dados.
Quem fazia a pergunta eram pessoas afastadas da bolha que sabe como as redacções funcionam; alguns eram empreendedores pós-universitários que estavam a falar com um jornalista pela primeira vez. A impressão com que fiquei daquelas curtas conversas era que os meus interlocutores achavam que a informação relatada num trabalho jornalístico estava (na maioria dos casos, pelo menos) pronta a ser obtida num documento ou base de dados.
Também por essa altura, uma mão-cheia de startups teve conversas comigo sobre uma qualquer ideia que tinham para o jornalismo. As ideias não eram boas e julgo que nenhuma das startups vingou, excepto talvez uma, que acabou por pegar no que tinha desenvolvido e virar-se para outros sectores.
Aquelas perguntas sobre a origem da informação e as ideias bem intencionadas das startups tinham um ponto em comum: a concepção do jornalismo como um produto que resulta da agregação de factos disponíveis e obtidos sem grande esforço. Este processo de transformação de factos em produto final (que para estas pessoas parecia constituir a essência do trabalho jornalístico) poderia ser melhorada, ou parcialmente automatizada, com recurso a uma qualquer tecnologia. Era uma mistura de ignorância e de tecno-solucionismo.
A inteligência artificial, em particular aquela que produz textos indistinguíveis dos produzidos por humanos, vai fazer o seu caminho nas redacções. A publicação de textos escritos por máquinas nem sequer é algo novo: algumas agências noticiosas e jornais, por exemplo, fazem-no há anos para temas como os mercados financeiros e os resultados de empresas, embora de forma mais rudimentar.
É difícil antever o quanto se poderão embrenhar estas tecnologias nos media. É possível que o entusiasmo recente se esvazie. Mas o contrário não é uma hipótese a descartar, se os resultados das primeiras experiências forem promissores, em particular no que diz respeito à espinhosa questão de ajudar o jornalismo a fazer dinheiro.
Em todo o caso, quem desenvolve tecnologias de inteligência artificial e se propõe aplicá-las ao funcionamento das redacções tem a obrigação mínima de saber o que é e como funciona o jornalismo. Caso contrário, vamos andar todos a perder tempo e a desperdiçar esforços.
Por que Neruda é comunista
Em fins de 1943 chegava de novo a Santiago. Instalei-me em minha própria casa, adquirida a longo prazo pelo sistema de financiamento. Neste lar de grandes árvores juntei meus livros e comecei outra vez a difícil vida.
Procurei de novo a formosura de minha pátria, a forte beleza da natureza, o encanto das mulheres, o trabalho de meus companheiros e a inteligência de meus compatriotas.O país não tinha mudado. Campos, aldeias adormecidas, pobreza terrível das regiões mineiras e a gente elegante ocupando seu Country Club. O jeito era escolher.
Minha decisão causou-me perseguições e minutos estelares. Que poeta podia arrepender-se?
Curzio Malaparte, que me entrevistou anos depois do que vou relatar, disse-o bem em seu artigo: “Não sou comunista, mas se fosse poeta chileno, o seria, como Pablo Neruda é. Há que tomar partido aqui, por causa dos Cadillacs ou por causa da gente sem escola e sem sapatos.”
Esta gente sem escola e sem sapatos elegeu-me senador da república a 4 de março de 1945. Ficarei sempre orgulhoso por terem votado em mim milhares de chilenos da região mais dura do Chile, região da grande mineração, de cobre e salitre.
Era difícil e áspero caminhar pelo pampa. Há meio século não chove nessas regiões e o deserto marcou a fisionomia dos mineiros. São homens de rostos queimados; toda sua expressão de solidão e de abandono concentra-se nos olhos de escura intensidade. Subir do deserto até a cordilheira, entrar em cada casa pobre, conhecer as tarefas desumanas, e sentir-se depositário das esperanças do homem ilhado e submergido não é uma responsabilidade qualquer. No entanto minha poesia abriu o caminho de comunicação e pude andar e circular e ser recebido como um irmão imorredouro por meus compatriotas de vida dura.
Não me lembro se foi em Paris ou em Praga que me sobreveio uma pequena dúvida sobre o enciclopedismo de meus amigos aí presentes. Quase todos eles eram escritores ou, no mínimo, estudantes.
– Estamos falando muito no Chile – disse-lhes – seguramente porque eu sou chileno. Mas vocês sabem alguma coisa de meu longínquo país? Por exemplo: em que veículos nos transportamos? De elefante, de automóvel, de trem, de avião, de bicicleta, de camelo, de trenó?
A resposta muito a sério da maioria foi: de elefante.
No Chile não há elefantes nem camelos. Mas compreendo que pareça enigmático um país que nasce no gelado Polo Sul e que chega até as depressões salgadas e desertas onde não chove há um século. Tive que percorrer esses desertos durante anos como senador eleito pelos habitantes daqueles ermos, como representante de inumeráveis trabalhadores do salitre e do cobre que nunca usaram colarinho nem gravata.
Entrar naquelas planícies, enfrentar aqueles areais, é entrar na Lua. Essa espécie de planeta vazio guarda a grande riqueza de meu país, mas é preciso tirar da terra seca e dos montes de pedra o adubo branco e o mineral vermelho. Em poucos lugares do mundo a vida é tão dura e ao mesmo tempo tão desprovida de qualquer indulgência para vivê-la. Custa sacrifícios indizíveis transportar a água, conservar uma planta que dê a flor mais humilde, criar um cachorro, um coelho, um porco.
Venho do outro extremo da república. Nasci em terras verdes, de grandes arvoredos selváticos. Tive uma infância de chuva e neve. Só o fato de enfrentar aquele deserto lunar significava um sobressalto em minha existência. Representar no parlamento aqueles homens, o seu isolamento, suas terras titânicas, era também uma empresa difícil. A terra nua, sem uma só erva, sem uma gota de água, é um segredo imenso e esquivo. Sob os bosques, junto aos rios, tudo fala ao ser humano. O deserto, ao contrário, é incomunicativo. Eu não entendia seu idioma, quer dizer, seu silêncio.
Pablo Neruda, "Confesso que vivi"
Virtudes de morte
Triste um país que pune um político não pelos seus erros ou defeitos, mas por suas virtudesJair Bolsonaro
Afinal, Bolsonaro reconhece a derrota, mas chama Lula de jumento
No ato de filiação ao PL do vereador negro e que se diz “meio viado” Fernando Holiday, Bolsonaro chamou Lula de “jumento” e “analfabeto”, e acusou Fernando Haddad, ministro da Fazenda, de nunca ter trabalhado na vida. Foi aplaudido pelos bolsonaristas que lotaram a Câmara Municipal de São Paulo.
Haddad é advogado, professor, foi ministro da Educação duas vezes e prefeito de São Paulo. É razoável que em algum momento de sua vida tenha trabalhado. Se por “jumento”, Bolsonaro quis dizer que Lula é burro, além de analfabeto, pegou muito mal para ele, derrotado na eleição passada por um burro e analfabeto.
Como isso pode ter acontecido? A não ser que o burro e analfabeto seja Bolsonaro, que sempre se gabou de nunca ter lido um livro inteiro, nem mesmo as memórias do coronel torturador Brilhante Ulstra. Bolsonaro mal sabe articular as palavras. Lula leu antes de ser preso, e bastante nos 580 dias em que ficou preso.
Lula disputou seis eleições presidenciais e é o único brasileiro que se elegeu três vezes presidente pelo voto popular. Bolsonaro é o único presidente que não conseguiu se reeleger. Sem ofensa ao jumento e aos seus parentes próximos, o burro e o asno: quem mais poderia se parecer com eles? Lula ou Bolsonaro?
Em seu discurso, Bolsonaro, finalmente, reconheceu que perdeu a eleição para Lula:
“Eu não esperava perder as eleições”.
Não falou em fraude. Mas seus fãs responderam de imediato:
“Mas o senhor não perdeu”.
Bolsonaro completou para vitimar-se:
“Triste um país que pune um político não pelos seus defeitos ou erros, mas por suas virtudes. Eu fui punido no TSE [Tribunal Superior Eleitoral] por virtude. Vontade de ser presidente novamente, não é verdade? Eu queria ir para a praia, mas entendo que é uma missão.”
Como presidente, foi à praia muitas vezes e trabalhou pouco. Não foi punido por suas virtudes, por sinal escassas, mas porque abusou do poder político, tentou desacreditar o processo eleitoral e enfraqueceu a democracia. Deu gás aos golpistas, e só não deu um golpe porque lhe faltou apoio militar.
Virou um assalariado do PL de Valdemar Costa Neto a zanzar por aí para justificar o que lhe pagam.
Haddad é advogado, professor, foi ministro da Educação duas vezes e prefeito de São Paulo. É razoável que em algum momento de sua vida tenha trabalhado. Se por “jumento”, Bolsonaro quis dizer que Lula é burro, além de analfabeto, pegou muito mal para ele, derrotado na eleição passada por um burro e analfabeto.
Como isso pode ter acontecido? A não ser que o burro e analfabeto seja Bolsonaro, que sempre se gabou de nunca ter lido um livro inteiro, nem mesmo as memórias do coronel torturador Brilhante Ulstra. Bolsonaro mal sabe articular as palavras. Lula leu antes de ser preso, e bastante nos 580 dias em que ficou preso.
Lula disputou seis eleições presidenciais e é o único brasileiro que se elegeu três vezes presidente pelo voto popular. Bolsonaro é o único presidente que não conseguiu se reeleger. Sem ofensa ao jumento e aos seus parentes próximos, o burro e o asno: quem mais poderia se parecer com eles? Lula ou Bolsonaro?
Em seu discurso, Bolsonaro, finalmente, reconheceu que perdeu a eleição para Lula:
“Eu não esperava perder as eleições”.
Não falou em fraude. Mas seus fãs responderam de imediato:
“Mas o senhor não perdeu”.
Bolsonaro completou para vitimar-se:
“Triste um país que pune um político não pelos seus defeitos ou erros, mas por suas virtudes. Eu fui punido no TSE [Tribunal Superior Eleitoral] por virtude. Vontade de ser presidente novamente, não é verdade? Eu queria ir para a praia, mas entendo que é uma missão.”
Como presidente, foi à praia muitas vezes e trabalhou pouco. Não foi punido por suas virtudes, por sinal escassas, mas porque abusou do poder político, tentou desacreditar o processo eleitoral e enfraqueceu a democracia. Deu gás aos golpistas, e só não deu um golpe porque lhe faltou apoio militar.
Virou um assalariado do PL de Valdemar Costa Neto a zanzar por aí para justificar o que lhe pagam.
terça-feira, 25 de julho de 2023
Os reivindinhos
O narcisismo galopante do nosso tempo não vai andar a trote tão cedo. O melhor, por enquanto, será examiná-lo à procura das vantagens que possa ter.
Claro que o narcisismo que incomoda nunca é o nosso: é sempre o dos outros. Mesmo assim, o narcisismo dos outros é como um daqueles muros cravados de vidros partidos: é um obstáculo, é uma chatice, é um desperdício de tempo e de latim, mas arranja-se sempre maneira de transpô-lo.
A generalização da vaidade, depois de séculos de insegurança geral, é uma espécie de triunfo. Não é fácil convencer uma população inteira de que é fantástica. Não é fácil convencer toda a gente de que, para conseguir o impossível, basta ter um sonho e a vontade para o tornar realidade.
Mas o que é melhor: começar inseguro e, ao longo da vida, ir acumulando provas de que não se é mau de todo, ou começar convencido e ir desbastando na vaidade, à medida que se vai revelando um tanto ou quanto exagerada?
Para já, o narcisismo tem a grande vantagem de ajudar os jovens a defender-se das manipulações dos mais sabidos. O narcisista é saudavelmente céptico e difícil de convencer. Põe logo à cabeça a pergunta fundamental, que é: “O que este quer?” E parte logo da conclusão correcta: que aquilo que ele quer é diferente daquilo que quero, mesmo que eu não saiba o que é.
Queixam-se os velhos de todo o mundo que os jovens sofrem de entitlement, de achar que têm direito a tudo e mais alguma coisa, só pelo facto de existirem.
Ora, há milénios que isto é assim, sendo apenas mais uma variante do “eles não querem é trabalhar” e do “eles não sabem o que custa” e do “cresce e aparece”.
É difícil traduzir entitlement e entitled. Proponho os reivindinhos.
Os jovens de hoje em dia portam-se como reizinhos muito bem-vindos que reivindicam logo, sem ter de levantar uma palha, mordomias e vassalagens – como se fosse um direito natural, concedido à nascença aos nobérrimos bebezinhos.
Mas como são todos reivindinhos a concorrência é ferocíssima.
Claro que o narcisismo que incomoda nunca é o nosso: é sempre o dos outros. Mesmo assim, o narcisismo dos outros é como um daqueles muros cravados de vidros partidos: é um obstáculo, é uma chatice, é um desperdício de tempo e de latim, mas arranja-se sempre maneira de transpô-lo.
A generalização da vaidade, depois de séculos de insegurança geral, é uma espécie de triunfo. Não é fácil convencer uma população inteira de que é fantástica. Não é fácil convencer toda a gente de que, para conseguir o impossível, basta ter um sonho e a vontade para o tornar realidade.
Mas o que é melhor: começar inseguro e, ao longo da vida, ir acumulando provas de que não se é mau de todo, ou começar convencido e ir desbastando na vaidade, à medida que se vai revelando um tanto ou quanto exagerada?
Para já, o narcisismo tem a grande vantagem de ajudar os jovens a defender-se das manipulações dos mais sabidos. O narcisista é saudavelmente céptico e difícil de convencer. Põe logo à cabeça a pergunta fundamental, que é: “O que este quer?” E parte logo da conclusão correcta: que aquilo que ele quer é diferente daquilo que quero, mesmo que eu não saiba o que é.
Queixam-se os velhos de todo o mundo que os jovens sofrem de entitlement, de achar que têm direito a tudo e mais alguma coisa, só pelo facto de existirem.
Ora, há milénios que isto é assim, sendo apenas mais uma variante do “eles não querem é trabalhar” e do “eles não sabem o que custa” e do “cresce e aparece”.
É difícil traduzir entitlement e entitled. Proponho os reivindinhos.
Os jovens de hoje em dia portam-se como reizinhos muito bem-vindos que reivindicam logo, sem ter de levantar uma palha, mordomias e vassalagens – como se fosse um direito natural, concedido à nascença aos nobérrimos bebezinhos.
Mas como são todos reivindinhos a concorrência é ferocíssima.
Todos nós hoje nos desabituamos do trabalho de verificar
Todos nós hoje nos desabituamos, ou antes nos desembaraçamos alegremente, do penoso trabalho de verificar. É com impressões fluídas que formamos as nossas maciças conclusões. Para julgar em Política o facto mais complexo, largamente nos contentamos com um boato, mal escutado a uma esquina, numa manhã de vento. Para apreciar em Literatura o livro mais profundo, atulhado de ideias novas, que o amor de extensos anos fortemente encadeou—apenas nos basta folhear aqui e além uma página, através do fumo escurecedor do charuto. Principalmente para condenar, a nossa ligeireza é fulminante. Com que soberana facilidade declaramos—«Este é uma besta! Aquele é um maroto!» Para proclamar—«É um génio!» ou «É um santo!» oferecemos uma resistência mais considerada. Mas ainda assim, quando uma boa digestão ou a macia luz dum céu de Maio nos inclinam à benevolência, também concedemos bizarramente, e só com lançar um olhar distraído sobre o eleito, a coroa ou a auréola, e aí empurramos para a popularidade um maganão enfeitado de louros ou nimbado de raios. Assim passamos o nosso bendito dia a estampar rótulos definitivos no dorso dos homens e das coisas. Não há ação individual ou coletiva, personalidade ou obra humana, sobre que não estejamos prontos a promulgar rotundamente uma opinião bojuda E a opinião tem sempre, e apenas, por base aquele pequenino lado do fato, do homem, da obra, que perpassou num relance ante os nossos olhos escorregadios e fortuitos. Por um gesto julgamos um carácter: por um carácter avaliamos um povo.
Eça de Queirós, "A Correspondência de Fradique Mendes"
Eça de Queirós, "A Correspondência de Fradique Mendes"
Quilombo é hoje!
"Essa pátria nunca me foi gentil”.
Foi esse o breve e certeiro comentário que dona Marilda de Souza Francisco fez ao ouvir o hino nacional tocado solenemente em uma das mais importantes instituições arquivísticas do país. Na ocasião, dona Marilda compunha a mesa de conferencistas que falavam sobre um interessante projeto histórico e arqueológico que está sendo realizado em conjunto entre movimento social negro, universidades públicas federais, entidades do Estado e instituições internacionais na tentativa de localizar aquele que seria um dos últimos navios negreiros que chegaram ilegalmente no Brasil, e que naufragou na costa de Angra dos Reis (RJ) no início da década de 1850.
A história é interessantíssima, e torcemos para que essa iniciativa conjunta possa revelar mais detalhes desse navio, de quem eram os africanos e africanas que foram sequestrados em Moçambique, e do Brasil que manteve o tráfico ilegal de escravizados por décadas, contrariando as suas próprias leis.
Mas, para mim, não resta dúvida que o que há de mais importante nessa história é o fato dela ter chegado até nós por meio da tradição oral que estruturou a memória e as histórias dos homens e mulheres que viviam no Quilombo Santa Rita do Bracuí, em Angra dos Reis.
Por muitos anos, os mais velhos contavam sobre as fazendas de engorda da família Souza Breve, fazendas essas que serviam para receber os africanos ilegalmente escravizados e garantir que eles e elas receberiam um tratamento adequado para melhorarem de saúde depois da travessia atlântica, chegando em boas condições de saúde nas fazendas de café que a família tinha no Vale do Paraíba fluminense. Sim. Fazendas no plural. Porque os Souza Breve eram proprietários de milhares de escravizados e dezenas de fazendas na região, além de atuarem no tráfico ilegal de africanos escravizados.
E foi escutando as histórias dos mais velhos que dona Marilda Francisco começou a perceber que havia um grande fundo de verdade naquilo que mais parecia conto de assombração. E essa não era a única história contada pelos mais velhos. O conhecimento que permeava a vida dos moradores do Quilombo do Bracuí eram ecos de histórias que o Brasil, essa pátria que nada tem de gentil, escolheu esquecer.
Mas dona Marilda, junto com outros moradores do quilombo, decidiu que essa história precisava ser conhecida e escutada. E, assim como outras mulheres negras e quilombolas, ela teceu – em meio à coletividade da qual faz parte – uma outra interpretação do que é o Brasil de ontem e de hoje. Uma interpretação que parte do quilombo!
Não é a primeira nem a última vez que uma liderança quilombola se ergueu contra uma ideia muito bem estruturada de Brasil. Também não é coincidência que hoje, 25 de julho, é a data na qual comemoramos o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Há 250 anos, num outro 25 de julho, morria Tereza de Benguela, uma mulher negra que foi líder política e militar de Quariterê, um dos mais importantes quilombos da região central do Brasil Colônia. Sua história de luta e resistência ao sistema escravista, bem como de construção de um outro tipo de comunidade, ecoa nas histórias de outras mulheres negras que fizeram e continuam fazendo do quilombo não só um lugar de pertencimento, mas também uma forma de enxergar o mundo.
E por mais que haja uma série de particularidades que precisam ser (re)conhecidas quando tratamos de comunidades quilombolas – que ainda sofrem inúmeras dificuldades para terem suas terras demarcadas, e muitas vezes são impedidos de exercerem sua cidadania de forma plena – não podemos fugir da realidade que dona Marilda colocou tão bem: o Brasil nunca foi uma pátria gentil aos quilombolas, porque as histórias e trajetórias que esses quilombolas contam colocam em xeque a ideia de um pais pacífico, harmonioso e sem racismo.
Não foi por acaso que importantes intelectuais negros fizeram do quilombo um conceito-chave para interpretar o Brasil e sua história. Aqui, lembro de Maria Beatriz Nascimento, que se estivesse viva teria completado 81 anos no último dia 17 de julho. Essa historiadora (que não à toa teve pouco reconhecimento em vida) sistematizou uma análise do Brasil que partia das vozes e saberes de mulheres como dona Marilda e Tereza de Benguela, apresentando a todo momento que por trás daquele país forjado pelas instituições do Estado, existiam quilombos pulsantes, que criavam outros sentidos de nação e de luta por liberdade. Como bem disse Antônio Bispo dos Santos no seu livro A terra dá, a terra quer: "as nossas vidas não têm fim” (p.102).
E essas são histórias que não devem ser reconhecidas e engavetadas na caixa "das histórias quilombolas” como uma espécie de subcapítulo da "história negra no Brasil”. Não que isso seja pouco, mas essa classificação muitas vezes nos engessa e faz com que percamos a dimensão real daquilo que era dito e contado. Estamos tratando da história do Brasil. E também estamos reconhecendo que durante séculos parte dessa história foi contada por pessoas específicas, ignorando propositadamente todo um mar de vidas, trajetórias e lutas. E o pior, essa ideia deturpada de Brasil fez com que muitos de nós imaginemos que o quilombo é algo perdido no passado.
Como o movimento negro diz há tanto tempo: o quilombo também é hoje.
Foi esse o breve e certeiro comentário que dona Marilda de Souza Francisco fez ao ouvir o hino nacional tocado solenemente em uma das mais importantes instituições arquivísticas do país. Na ocasião, dona Marilda compunha a mesa de conferencistas que falavam sobre um interessante projeto histórico e arqueológico que está sendo realizado em conjunto entre movimento social negro, universidades públicas federais, entidades do Estado e instituições internacionais na tentativa de localizar aquele que seria um dos últimos navios negreiros que chegaram ilegalmente no Brasil, e que naufragou na costa de Angra dos Reis (RJ) no início da década de 1850.
A história é interessantíssima, e torcemos para que essa iniciativa conjunta possa revelar mais detalhes desse navio, de quem eram os africanos e africanas que foram sequestrados em Moçambique, e do Brasil que manteve o tráfico ilegal de escravizados por décadas, contrariando as suas próprias leis.
Mas, para mim, não resta dúvida que o que há de mais importante nessa história é o fato dela ter chegado até nós por meio da tradição oral que estruturou a memória e as histórias dos homens e mulheres que viviam no Quilombo Santa Rita do Bracuí, em Angra dos Reis.
Por muitos anos, os mais velhos contavam sobre as fazendas de engorda da família Souza Breve, fazendas essas que serviam para receber os africanos ilegalmente escravizados e garantir que eles e elas receberiam um tratamento adequado para melhorarem de saúde depois da travessia atlântica, chegando em boas condições de saúde nas fazendas de café que a família tinha no Vale do Paraíba fluminense. Sim. Fazendas no plural. Porque os Souza Breve eram proprietários de milhares de escravizados e dezenas de fazendas na região, além de atuarem no tráfico ilegal de africanos escravizados.
E foi escutando as histórias dos mais velhos que dona Marilda Francisco começou a perceber que havia um grande fundo de verdade naquilo que mais parecia conto de assombração. E essa não era a única história contada pelos mais velhos. O conhecimento que permeava a vida dos moradores do Quilombo do Bracuí eram ecos de histórias que o Brasil, essa pátria que nada tem de gentil, escolheu esquecer.
Mas dona Marilda, junto com outros moradores do quilombo, decidiu que essa história precisava ser conhecida e escutada. E, assim como outras mulheres negras e quilombolas, ela teceu – em meio à coletividade da qual faz parte – uma outra interpretação do que é o Brasil de ontem e de hoje. Uma interpretação que parte do quilombo!
Não é a primeira nem a última vez que uma liderança quilombola se ergueu contra uma ideia muito bem estruturada de Brasil. Também não é coincidência que hoje, 25 de julho, é a data na qual comemoramos o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Há 250 anos, num outro 25 de julho, morria Tereza de Benguela, uma mulher negra que foi líder política e militar de Quariterê, um dos mais importantes quilombos da região central do Brasil Colônia. Sua história de luta e resistência ao sistema escravista, bem como de construção de um outro tipo de comunidade, ecoa nas histórias de outras mulheres negras que fizeram e continuam fazendo do quilombo não só um lugar de pertencimento, mas também uma forma de enxergar o mundo.
E por mais que haja uma série de particularidades que precisam ser (re)conhecidas quando tratamos de comunidades quilombolas – que ainda sofrem inúmeras dificuldades para terem suas terras demarcadas, e muitas vezes são impedidos de exercerem sua cidadania de forma plena – não podemos fugir da realidade que dona Marilda colocou tão bem: o Brasil nunca foi uma pátria gentil aos quilombolas, porque as histórias e trajetórias que esses quilombolas contam colocam em xeque a ideia de um pais pacífico, harmonioso e sem racismo.
Não foi por acaso que importantes intelectuais negros fizeram do quilombo um conceito-chave para interpretar o Brasil e sua história. Aqui, lembro de Maria Beatriz Nascimento, que se estivesse viva teria completado 81 anos no último dia 17 de julho. Essa historiadora (que não à toa teve pouco reconhecimento em vida) sistematizou uma análise do Brasil que partia das vozes e saberes de mulheres como dona Marilda e Tereza de Benguela, apresentando a todo momento que por trás daquele país forjado pelas instituições do Estado, existiam quilombos pulsantes, que criavam outros sentidos de nação e de luta por liberdade. Como bem disse Antônio Bispo dos Santos no seu livro A terra dá, a terra quer: "as nossas vidas não têm fim” (p.102).
E essas são histórias que não devem ser reconhecidas e engavetadas na caixa "das histórias quilombolas” como uma espécie de subcapítulo da "história negra no Brasil”. Não que isso seja pouco, mas essa classificação muitas vezes nos engessa e faz com que percamos a dimensão real daquilo que era dito e contado. Estamos tratando da história do Brasil. E também estamos reconhecendo que durante séculos parte dessa história foi contada por pessoas específicas, ignorando propositadamente todo um mar de vidas, trajetórias e lutas. E o pior, essa ideia deturpada de Brasil fez com que muitos de nós imaginemos que o quilombo é algo perdido no passado.
Como o movimento negro diz há tanto tempo: o quilombo também é hoje.
Por que nem o jornalismo nem a poesia podem morrer
Chame do que você quiser. No papel ou na tela, lido ou ouvido, o jornalismo continuará existindo enquanto o ser humano não perder a curiosidade de ser informado ou o gosto de ser surpreendido.
O jornalismo, como a poesia, não pode morrer porque, como dizia o filósofo e Prêmio Nobel de Literatura François Mauriac , eles são “a oração matinal do homem secular”. A curiosidade existe até nos animais. Se não, pergunte aos meus gatos Nana e Babel.
Nosso mundo, com o advento da inteligência artificial (IA), vive um momento de crise existencial que eu não chamaria de extinção, mas sim de transferência do tempo. Uma mudança tão ou mais profunda do que quando surgiu a escrita, a roda, o motor, a eletricidade, o pouso na lua ou a energia atômica. E agora o mundo digital.
Das tabuinhas de barro da antiga Mesopotâmia aos pergaminhos, ou da revolução da escrita no papel com Gutenberg, o ser humano sentiu a necessidade de ler e aprender, de satisfazer a sua curiosidade, de decifrar o mistério. E continuará a fazê-lo em qualquer suporte que seja.
Um dia talvez possamos ler o jornal na parede do nosso quarto ou na palma da mão. Os suportes vão mudar, mas a nossa curiosidade de saber e interpretar as notícias, ler a vida, vai continuar intacta.
Às vezes me perguntam se não me arrependo de já ter trabalhado por mais de meio século em um jornal. Não, porque o jornalismo, hoje tão criticado, foi e será sempre, com todas as suas possíveis alterações, o pão de cada dia do Homo sapiens. Dizem que as redes vão matá-lo com suas notícias falsas, sua falsa liberdade de expressão, sua rapidez em dar notícias que os jornais não podem pegar porque precisam, se forem reais, verificar sua veracidade.
É curioso e sintomático que, quando alguém nos dá uma notícia importante hoje, imediatamente nos perguntemos onde a leu ou ouviu. Se foi nas redes ou num jornal ou rádio em cuja seriedade confiamos.
Aos jovens estudantes de jornalismo que hoje me perguntam se tal profissão ou ofício vale a pena, respondo que sim. Que talvez valha mais do que nunca, já que a notícia, a não manipulada, passa ainda incólume pelos jornais tradicionais, seja qual for o seu suporte, e diria mesmo a sua ideologia.
Neste momento acompanho a dura e triste guerra da Rússia na Ucrânia através das crônicas e análises de meus colegas que a vivenciam heroicamente no campo de batalha. Confio na sua seriedade e profissionalismo e que não tentarão enganar-me, o que nem sempre nas redes que não só são politizadas como tantas vezes explicitamente manipuladas.
Ao jornalista como tal, se é verdade que está preso às regras internas do seu Caderno de Estilo, muitas vezes é oferecida a oportunidade de experimentar a realidade em primeira mão. O jornalismo pode ser arriscado, mas também pode ser recompensador.
Depois de quase meio século de jornalismo tradicional e como correspondente deste jornal na Itália, no Vaticano e no Brasil, o que me permitiu várias vezes viajar pelo mundo, muitos insistem em eu escreva minhas memórias. Sempre recusei porque fazem parte do trabalho da minha profissão. E cada vida é uma história que merece ser contada.
Hoje, porém, queria contar um dos momentos do início da minha profissão que mais me marcou. Foi em 1980, durante o terremoto ocorrido na Itália, na Campânia e na Basilicata, com o triste saldo de 3.000 mortos, 7.500 feridos e 280.000 desabrigados, num lençol de território.
O fundador e então diretor deste jornal, Juan Luis Cebrián, me aconselhou a não ir ao local do terremoto por causa do perigo que representava. Eu o desobedeci. Eu estava em Roma, a duzentos quilômetros de Nápoles, de onde deveria ter voado para o local da tragédia ainda crua.
Minha decepção foi, ao chegar em Nápoles, não haver possibilidade de voar até o local do terremoto. Finalmente consegui um lugar em um helicóptero militar, mas sem radar e, portanto, perigoso. Eles enfatizaram para mim o quão perigoso era. Eu aceitei ir. Isso me permitiu experimentar os últimos tremores do terremoto por algumas horas, ouvir os gritos dos enterrados vivos e as casas desmoronar diante dos meus olhos. Além de observar o desespero das famílias que se procuravam como num gigantesco inferno na carne.
Na volta, o piloto do helicóptero militar me perguntou se eu poderia carregar no colo um menino de quatro anos que morrera no terremoto, e cuja família não fora encontrada.
O cadáver da criança viajava de joelhos, esperando chegar ao aeroporto de Nápoles e entregá-lo às autoridades que se encarregariam de encontrar sua família. Por respeito à criatura que nem em meus sonhos podereia esquecer, nunca quis escrever a história.
Hoje, às vésperas do meu 91º aniversário e de mais de meio século de jornalismo, gostaria, porém, como melhor presente, ter aqui, para almoçar ao lado de minha família e amigos, aquele menininho que pensei estar carregando morto de joelhos. Sim, porque o melhor da história é que depois descobri que no aeroporto os médicos que examinaram o menino descobriram que ele estava vivo. Ele havia sido salvo.
O jornalismo também é isso e por isso não pode morrer. Como os poetas não poderão morrer ou deixar de criar se não quisermos que o nosso mundo realmente se apague.
Somos feitos não só de lama bíblica, mas também do eterno desejo de que a notícia seja contada, ainda que às vezes doa com o eterno decálogo das clássicas perguntas: o quê, quem, como, quando, onde e por quê. Sim, mas sem mentir.
O jornalismo, como a poesia, não pode morrer porque, como dizia o filósofo e Prêmio Nobel de Literatura François Mauriac , eles são “a oração matinal do homem secular”. A curiosidade existe até nos animais. Se não, pergunte aos meus gatos Nana e Babel.
Nosso mundo, com o advento da inteligência artificial (IA), vive um momento de crise existencial que eu não chamaria de extinção, mas sim de transferência do tempo. Uma mudança tão ou mais profunda do que quando surgiu a escrita, a roda, o motor, a eletricidade, o pouso na lua ou a energia atômica. E agora o mundo digital.
Das tabuinhas de barro da antiga Mesopotâmia aos pergaminhos, ou da revolução da escrita no papel com Gutenberg, o ser humano sentiu a necessidade de ler e aprender, de satisfazer a sua curiosidade, de decifrar o mistério. E continuará a fazê-lo em qualquer suporte que seja.
Um dia talvez possamos ler o jornal na parede do nosso quarto ou na palma da mão. Os suportes vão mudar, mas a nossa curiosidade de saber e interpretar as notícias, ler a vida, vai continuar intacta.
Às vezes me perguntam se não me arrependo de já ter trabalhado por mais de meio século em um jornal. Não, porque o jornalismo, hoje tão criticado, foi e será sempre, com todas as suas possíveis alterações, o pão de cada dia do Homo sapiens. Dizem que as redes vão matá-lo com suas notícias falsas, sua falsa liberdade de expressão, sua rapidez em dar notícias que os jornais não podem pegar porque precisam, se forem reais, verificar sua veracidade.
É curioso e sintomático que, quando alguém nos dá uma notícia importante hoje, imediatamente nos perguntemos onde a leu ou ouviu. Se foi nas redes ou num jornal ou rádio em cuja seriedade confiamos.
Aos jovens estudantes de jornalismo que hoje me perguntam se tal profissão ou ofício vale a pena, respondo que sim. Que talvez valha mais do que nunca, já que a notícia, a não manipulada, passa ainda incólume pelos jornais tradicionais, seja qual for o seu suporte, e diria mesmo a sua ideologia.
Neste momento acompanho a dura e triste guerra da Rússia na Ucrânia através das crônicas e análises de meus colegas que a vivenciam heroicamente no campo de batalha. Confio na sua seriedade e profissionalismo e que não tentarão enganar-me, o que nem sempre nas redes que não só são politizadas como tantas vezes explicitamente manipuladas.
Ao jornalista como tal, se é verdade que está preso às regras internas do seu Caderno de Estilo, muitas vezes é oferecida a oportunidade de experimentar a realidade em primeira mão. O jornalismo pode ser arriscado, mas também pode ser recompensador.
Depois de quase meio século de jornalismo tradicional e como correspondente deste jornal na Itália, no Vaticano e no Brasil, o que me permitiu várias vezes viajar pelo mundo, muitos insistem em eu escreva minhas memórias. Sempre recusei porque fazem parte do trabalho da minha profissão. E cada vida é uma história que merece ser contada.
Hoje, porém, queria contar um dos momentos do início da minha profissão que mais me marcou. Foi em 1980, durante o terremoto ocorrido na Itália, na Campânia e na Basilicata, com o triste saldo de 3.000 mortos, 7.500 feridos e 280.000 desabrigados, num lençol de território.
O fundador e então diretor deste jornal, Juan Luis Cebrián, me aconselhou a não ir ao local do terremoto por causa do perigo que representava. Eu o desobedeci. Eu estava em Roma, a duzentos quilômetros de Nápoles, de onde deveria ter voado para o local da tragédia ainda crua.
Minha decepção foi, ao chegar em Nápoles, não haver possibilidade de voar até o local do terremoto. Finalmente consegui um lugar em um helicóptero militar, mas sem radar e, portanto, perigoso. Eles enfatizaram para mim o quão perigoso era. Eu aceitei ir. Isso me permitiu experimentar os últimos tremores do terremoto por algumas horas, ouvir os gritos dos enterrados vivos e as casas desmoronar diante dos meus olhos. Além de observar o desespero das famílias que se procuravam como num gigantesco inferno na carne.
Na volta, o piloto do helicóptero militar me perguntou se eu poderia carregar no colo um menino de quatro anos que morrera no terremoto, e cuja família não fora encontrada.
O cadáver da criança viajava de joelhos, esperando chegar ao aeroporto de Nápoles e entregá-lo às autoridades que se encarregariam de encontrar sua família. Por respeito à criatura que nem em meus sonhos podereia esquecer, nunca quis escrever a história.
Hoje, às vésperas do meu 91º aniversário e de mais de meio século de jornalismo, gostaria, porém, como melhor presente, ter aqui, para almoçar ao lado de minha família e amigos, aquele menininho que pensei estar carregando morto de joelhos. Sim, porque o melhor da história é que depois descobri que no aeroporto os médicos que examinaram o menino descobriram que ele estava vivo. Ele havia sido salvo.
O jornalismo também é isso e por isso não pode morrer. Como os poetas não poderão morrer ou deixar de criar se não quisermos que o nosso mundo realmente se apague.
Somos feitos não só de lama bíblica, mas também do eterno desejo de que a notícia seja contada, ainda que às vezes doa com o eterno decálogo das clássicas perguntas: o quê, quem, como, quando, onde e por quê. Sim, mas sem mentir.
sábado, 22 de julho de 2023
Tolerar os intolerantes?
Terminei a coluna anterior enaltecendo a tolerância, e alguns leitores me recriminaram por não ter levado em conta o paradoxo da tolerância. A referência aqui é ao filósofo Karl Popper, que escreveu: "Tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos tolerância ilimitada até mesmo para aqueles que são intolerantes, se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante contra a investida dos intolerantes, então os tolerantes serão destruídos, e a tolerância junto com eles".
A passagem é muito citada, mas raramente em seu devido contexto. Uma boa providência é conferir a frase seguinte à supramencionada, que reza: "Com essa formulação, eu não insinuo, por exemplo, que devemos sempre suprimir o enunciado de filosofias intolerantes; contanto que possamos combatê-las por meio de argumentos racionais e mantê-las sob controle pela opinião pública, a supressão seria certamente insensata".
Mais importante, os dois trechos constam de uma nota de rodapé de "A Sociedade Aberta e Seus Inimigos", obra que pode ser descrita como um louvor à democracia liberal e, portanto, à tolerância e à liberdade de expressão.
No fundo, Popper diz o óbvio. Afirma que a democracia precisa defender-se, recorrendo até à força, se necessário, daqueles que tentam suprimi-la. A questão difícil, para a qual não há solução sem considerar a situação política do momento, é quando se torna necessário adotar a força ou a censura, que devem ser sempre a "ultima ratio", nunca a primeira opção.
A democracia brasileira esteve sob risco no governo anterior, o que, a meu ver, justificou decisões menos ortodoxas do STF. Mas o perigo é cadente. E não dá para viver uma exceção eterna. Numa daquelas reviravoltas bem ao gosto dos filósofos, acho que dá até para dizer que são os intolerantes que vencem se conseguem fazer com que a democracia abra mão da tolerância e das liberdades.
A passagem é muito citada, mas raramente em seu devido contexto. Uma boa providência é conferir a frase seguinte à supramencionada, que reza: "Com essa formulação, eu não insinuo, por exemplo, que devemos sempre suprimir o enunciado de filosofias intolerantes; contanto que possamos combatê-las por meio de argumentos racionais e mantê-las sob controle pela opinião pública, a supressão seria certamente insensata".
Mais importante, os dois trechos constam de uma nota de rodapé de "A Sociedade Aberta e Seus Inimigos", obra que pode ser descrita como um louvor à democracia liberal e, portanto, à tolerância e à liberdade de expressão.
No fundo, Popper diz o óbvio. Afirma que a democracia precisa defender-se, recorrendo até à força, se necessário, daqueles que tentam suprimi-la. A questão difícil, para a qual não há solução sem considerar a situação política do momento, é quando se torna necessário adotar a força ou a censura, que devem ser sempre a "ultima ratio", nunca a primeira opção.
A democracia brasileira esteve sob risco no governo anterior, o que, a meu ver, justificou decisões menos ortodoxas do STF. Mas o perigo é cadente. E não dá para viver uma exceção eterna. Numa daquelas reviravoltas bem ao gosto dos filósofos, acho que dá até para dizer que são os intolerantes que vencem se conseguem fazer com que a democracia abra mão da tolerância e das liberdades.
Como se perdem as causas
O pior que pode acontecer a uma causa justa é cair em mãos erradas. E, no entanto, nada mais comum do que raposas se voluntariarem, desinteressadamente, para tomar conta de galinheiros.
Não há bem maior para a sociedade do que o cidadão de bem. É aquela pessoa honesta, com princípios éticos, cumpridora dos seus deveres. Mas repare em quem levanta a bandeira da defesa dessa brava gente: há grandes chances de encontrar, como na nossa História recente, alguém ligado a esquemas de corrupção, apologia da violência, desdém pelo próximo.
O politicamente correto — questão de avanço civilizacional, de respeito às diferenças e à dignidade da pessoa humana — foi parar nas garras de canceladores, censores, intolerantes — que só não queimam livros porque pega mal. Mas interditam o debate, restringem a livre circulação de ideias, aniquilam reputações (vai uma Revolução Cultural chinesa aí?).
Autodeclarados antifascistas se valem de métodos clássicos do fascismo. Desumanizam os adversários, com o cuidado de mudar os verbos — trocam “eliminar” por “extirpar” — e quase ninguém nota (ou finge não notar).
Não raro a tutela dos valores cristãos está a cargo de pedófilos (ou dos que os acobertam) e aproveitadores (devotos do “templo é dinheiro”, do “vinde a mim os dízimos”). Com espantosa frequência, descobrem-se predadores e charlatães travestidos de líderes espirituais.
Fanáticos tomam para si a defesa dos direitos animais (e dane-se o bicho-homem), da pauta ambiental (e dá-lhe vandalizar obras de arte, pichar patrimônio público). Só o que conseguem é criar um clima ruim para os que efetivamente se importam com o planeta e seus habitantes — independentemente de reino, classe, família, gênero ou espécie.
Dois bons exemplos desse tipo de perversão foram notícia por estes dias.
O ex-deputado Jean Wyllys, inúmeras vezes vítima de homofobia, retornou ao Brasil, e uma das suas primeiras manifestações foi homofóbica. No que deveria ser uma crítica às escolas cívico-militares, dispensou os argumentos e partiu para a ofensa. Dezenove governadores decidiram manter esse tipo de instituição: o único atacado foi Eduardo Leite, por sua orientação sexual. A mensagem era clara: homossexuais seriam seres privados de discernimento e reféns de alguma parafilia. À exceção, claro, dos que partilhem da mesma ideologia do acusador.
Na seara racial, a treta coube a Itamar Vieira Junior, autor de “Torto arado” (mais de 400 mil exemplares vendidos).
Uma das premissas do movimento antirracista é estabelecer que não existe superioridade racial (o ideal seria provar que não existem raças, mas aí era querer demais). Há militantes, entretanto, que se empenham em caracterizar africanos e seus descendentes como pessoas diferenciadas, que não podem ser alvo de críticas senão por parte dos seus iguais (na cor). Sobrou para José Eduardo Agualusa, que alertou Itamar sobre essa armadilha, em delicado artigo publicado no GLOBO.
Reflexão virou whitesplaining; chegada de novas vozes ao debate, pacto de branquitude. Como se uma avaliação pudesse ser reduzida à cor da pele de quem a faz e de quem a recebe.
Millôr alertava sobre duvidar de todo idealista que lucra com o seu ideal. Deveríamos nos precaver é dos que deturpam o ideal alheio.
Não há bem maior para a sociedade do que o cidadão de bem. É aquela pessoa honesta, com princípios éticos, cumpridora dos seus deveres. Mas repare em quem levanta a bandeira da defesa dessa brava gente: há grandes chances de encontrar, como na nossa História recente, alguém ligado a esquemas de corrupção, apologia da violência, desdém pelo próximo.
O politicamente correto — questão de avanço civilizacional, de respeito às diferenças e à dignidade da pessoa humana — foi parar nas garras de canceladores, censores, intolerantes — que só não queimam livros porque pega mal. Mas interditam o debate, restringem a livre circulação de ideias, aniquilam reputações (vai uma Revolução Cultural chinesa aí?).
Autodeclarados antifascistas se valem de métodos clássicos do fascismo. Desumanizam os adversários, com o cuidado de mudar os verbos — trocam “eliminar” por “extirpar” — e quase ninguém nota (ou finge não notar).
Não raro a tutela dos valores cristãos está a cargo de pedófilos (ou dos que os acobertam) e aproveitadores (devotos do “templo é dinheiro”, do “vinde a mim os dízimos”). Com espantosa frequência, descobrem-se predadores e charlatães travestidos de líderes espirituais.
Fanáticos tomam para si a defesa dos direitos animais (e dane-se o bicho-homem), da pauta ambiental (e dá-lhe vandalizar obras de arte, pichar patrimônio público). Só o que conseguem é criar um clima ruim para os que efetivamente se importam com o planeta e seus habitantes — independentemente de reino, classe, família, gênero ou espécie.
Dois bons exemplos desse tipo de perversão foram notícia por estes dias.
O ex-deputado Jean Wyllys, inúmeras vezes vítima de homofobia, retornou ao Brasil, e uma das suas primeiras manifestações foi homofóbica. No que deveria ser uma crítica às escolas cívico-militares, dispensou os argumentos e partiu para a ofensa. Dezenove governadores decidiram manter esse tipo de instituição: o único atacado foi Eduardo Leite, por sua orientação sexual. A mensagem era clara: homossexuais seriam seres privados de discernimento e reféns de alguma parafilia. À exceção, claro, dos que partilhem da mesma ideologia do acusador.
Na seara racial, a treta coube a Itamar Vieira Junior, autor de “Torto arado” (mais de 400 mil exemplares vendidos).
Uma das premissas do movimento antirracista é estabelecer que não existe superioridade racial (o ideal seria provar que não existem raças, mas aí era querer demais). Há militantes, entretanto, que se empenham em caracterizar africanos e seus descendentes como pessoas diferenciadas, que não podem ser alvo de críticas senão por parte dos seus iguais (na cor). Sobrou para José Eduardo Agualusa, que alertou Itamar sobre essa armadilha, em delicado artigo publicado no GLOBO.
Reflexão virou whitesplaining; chegada de novas vozes ao debate, pacto de branquitude. Como se uma avaliação pudesse ser reduzida à cor da pele de quem a faz e de quem a recebe.
Millôr alertava sobre duvidar de todo idealista que lucra com o seu ideal. Deveríamos nos precaver é dos que deturpam o ideal alheio.
A democracia e seu equilíbrio
Não é difícil entender por que a democracia corre riscos. Nossa época é de transição. Estão a mudar o modo de produção, a organização do trabalho, os empregos, as formas de comunicação. Algumas mudanças já se sedimentaram, como no terreno da produção e circulação de informações, turbinadas pelas redes e pelas modalidades várias de autocomunicação de massas. A vida social sofre os espasmos dessas modificações: se desorganiza, se fragmenta, converte-se num território de indivíduos soltos que problematizam a participação política e despejam demandas no espaço público, exigindo sempre mais investimentos e direitos.
Como regime, a democracia está hoje submetida à desconfiança dos cidadãos, insatisfeitos com as respostas que obtêm dos governos. Está, também, sendo maltratada pelas correntes de extrema direita, que a violentam e a descaracterizam, e pelos populistas de variados tipos, que pouco se preocupam com fortalecê-la e protegê-la, ávidos que são pelos aplausos das multidões. Os grandes interesses econômicos, por sua vez, além de explorar a população, buscam manipular os institutos democráticos. Os personagens centrais da democracia representativa – os partidos, os parlamentares, os governantes – nem sempre vão além de proclamações em favor da democracia, deixando de adotar medidas que a blindem contra os ataques dos que a desprezam e a façam funcionar de maneira efetiva.
Apesar disso, a democracia continua respirando como valor. Vista como um sistema dedicado a viabilizar a participação política em condições de igualdade mínima – mediante o voto –, de liberdade, de direitos humanos e de vigência plena do Estado de Direito, a democracia permanece como horizonte ético e moral do mundo contemporâneo. Em nossas sociedades, a democracia é uma condição de possibilidade: sem ela, os cidadãos não são incentivados a defender sua privacidade em consonância com a pluralidade social. Deixam de interagir com os diversos pedaços da sociedade, que necessitam de procedimentos democráticos para se reaproximarem. A democratização do social vibra em todos os espaços organizados: nas escolas, nas famílias, nas empresas, nos esportes, na cultura, na política. Só freia sua marcha impetuosa diante das organizações fundamentalistas e de hierarquia rígida.
Há uma crise de autoridade por toda parte e a violência se esparrama, travando a recomposição social, que necessita de diálogo, temperança, paciência e serenidade argumentativa. É falsa a ideia de que autocratas obtêm submissão e obediência. Em sociedades complexas como as nossas, o máximo que conseguem é usar a intimidação e a ameaça para convencer parte da população a segui-los vida afora. Reprimem e estigmatizam os que a eles se opõem, num esforço para isolá-los do conjunto social. Autocracias populistas podem se reproduzir por longos períodos, caírem ao menor tropeço de seus líderes ou serem sugadas por crises não administradas. Em qualquer um dos casos, produzem estragos na política e no convívio social, deixando marcas que ferem a democracia e o Estado de Direito.
Nos regimes democráticos, combinam-se o conflito e o consenso, a liberdade e a ordem. A desobediência civil faz parte de suas regras, assim como o protesto e a luta social. O que conta são os procedimentos: pressionar, denunciar, reivindicar, mas não perder de vista o diálogo, a negociação e a civilidade.
O diálogo, afinal, é a trava de sustentação da democracia. É ele que garante a consideração das diversas opiniões e das demandas mais justas e emergenciais. Em vez da razão instrumental e da razão dos mais fortes, o diálogo instala a razão reflexiva, valorizadora do pensamento crítico, da ponderação e da análise dos argumentos. Com isso, desnuda as tentativas de fazer com que o poder possa tudo, como se estivesse à margem de considerações éticas ou morais. A razão reflexiva também facilita a navegação no mar de informações e desinformações com que temos de lidar, ajudando a que cada um consiga separar o lixo e neutralizar os ruídos tóxicos.
A democracia vigora sempre em equilíbrio dinâmico, que precisa ser continuamente alimentado. Está sempre em construção, não é um sistema perfeito. Quando o equilíbrio falta, o conflito se converte em guerra ou polarização paralisante, os interesses ficam exacerbados, como se não quisessem ou não soubessem se recompor. Crises se sucedem sem solução, criando condições para a emergência de lideranças autoritárias, salvadores da pátria, tida como ameaçada. É neste ponto que estacionamos hoje.
O equilíbrio requerido pela democracia não deriva somente de boas instituições e de governantes bem-intencionados. A prevalência do diálogo não é uma conquista de intelectuais ou de políticos falastrões: é algo que precisa se enraizar na vida social, modelar corações e mentes, infiltrar-se nas famílias, nas escolas, na cultura, na corrente sanguínea de cada cidadão. Ou seja, é algo que depende de educação, de práticas reflexivas e de empenho cívico.
Como regime, a democracia está hoje submetida à desconfiança dos cidadãos, insatisfeitos com as respostas que obtêm dos governos. Está, também, sendo maltratada pelas correntes de extrema direita, que a violentam e a descaracterizam, e pelos populistas de variados tipos, que pouco se preocupam com fortalecê-la e protegê-la, ávidos que são pelos aplausos das multidões. Os grandes interesses econômicos, por sua vez, além de explorar a população, buscam manipular os institutos democráticos. Os personagens centrais da democracia representativa – os partidos, os parlamentares, os governantes – nem sempre vão além de proclamações em favor da democracia, deixando de adotar medidas que a blindem contra os ataques dos que a desprezam e a façam funcionar de maneira efetiva.
Apesar disso, a democracia continua respirando como valor. Vista como um sistema dedicado a viabilizar a participação política em condições de igualdade mínima – mediante o voto –, de liberdade, de direitos humanos e de vigência plena do Estado de Direito, a democracia permanece como horizonte ético e moral do mundo contemporâneo. Em nossas sociedades, a democracia é uma condição de possibilidade: sem ela, os cidadãos não são incentivados a defender sua privacidade em consonância com a pluralidade social. Deixam de interagir com os diversos pedaços da sociedade, que necessitam de procedimentos democráticos para se reaproximarem. A democratização do social vibra em todos os espaços organizados: nas escolas, nas famílias, nas empresas, nos esportes, na cultura, na política. Só freia sua marcha impetuosa diante das organizações fundamentalistas e de hierarquia rígida.
Há uma crise de autoridade por toda parte e a violência se esparrama, travando a recomposição social, que necessita de diálogo, temperança, paciência e serenidade argumentativa. É falsa a ideia de que autocratas obtêm submissão e obediência. Em sociedades complexas como as nossas, o máximo que conseguem é usar a intimidação e a ameaça para convencer parte da população a segui-los vida afora. Reprimem e estigmatizam os que a eles se opõem, num esforço para isolá-los do conjunto social. Autocracias populistas podem se reproduzir por longos períodos, caírem ao menor tropeço de seus líderes ou serem sugadas por crises não administradas. Em qualquer um dos casos, produzem estragos na política e no convívio social, deixando marcas que ferem a democracia e o Estado de Direito.
Nos regimes democráticos, combinam-se o conflito e o consenso, a liberdade e a ordem. A desobediência civil faz parte de suas regras, assim como o protesto e a luta social. O que conta são os procedimentos: pressionar, denunciar, reivindicar, mas não perder de vista o diálogo, a negociação e a civilidade.
O diálogo, afinal, é a trava de sustentação da democracia. É ele que garante a consideração das diversas opiniões e das demandas mais justas e emergenciais. Em vez da razão instrumental e da razão dos mais fortes, o diálogo instala a razão reflexiva, valorizadora do pensamento crítico, da ponderação e da análise dos argumentos. Com isso, desnuda as tentativas de fazer com que o poder possa tudo, como se estivesse à margem de considerações éticas ou morais. A razão reflexiva também facilita a navegação no mar de informações e desinformações com que temos de lidar, ajudando a que cada um consiga separar o lixo e neutralizar os ruídos tóxicos.
A democracia vigora sempre em equilíbrio dinâmico, que precisa ser continuamente alimentado. Está sempre em construção, não é um sistema perfeito. Quando o equilíbrio falta, o conflito se converte em guerra ou polarização paralisante, os interesses ficam exacerbados, como se não quisessem ou não soubessem se recompor. Crises se sucedem sem solução, criando condições para a emergência de lideranças autoritárias, salvadores da pátria, tida como ameaçada. É neste ponto que estacionamos hoje.
O equilíbrio requerido pela democracia não deriva somente de boas instituições e de governantes bem-intencionados. A prevalência do diálogo não é uma conquista de intelectuais ou de políticos falastrões: é algo que precisa se enraizar na vida social, modelar corações e mentes, infiltrar-se nas famílias, nas escolas, na cultura, na corrente sanguínea de cada cidadão. Ou seja, é algo que depende de educação, de práticas reflexivas e de empenho cívico.
Assinar:
Comentários (Atom)