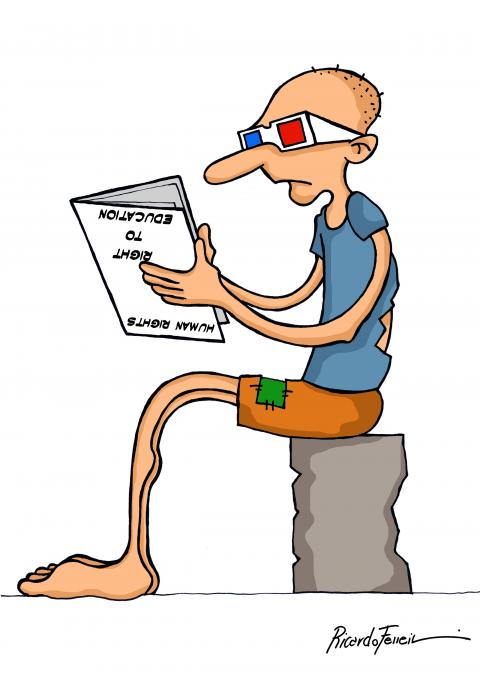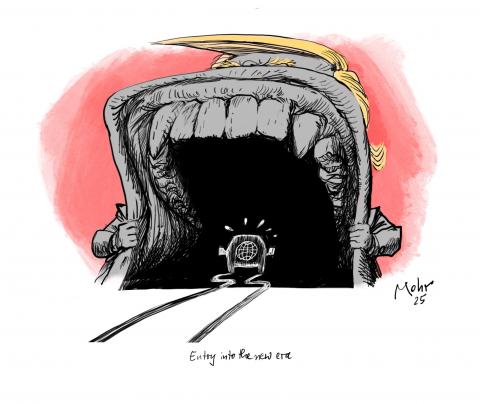quinta-feira, 29 de janeiro de 2026
A destruidora implacável
A miséria destrói tudo na vida; rende-a infecciosa, hedionda e espectral. Existe a palidez aristocrática e a palidez da miséria: a primeira vem de um refinamento, a segunda de uma mumificação. Pois a miséria faz de todos um fantasma, ela cria sombras da vida e aparições estranhas, formas crepusculares como se saídas de um incêndio cósmico. Não há o menor traço de purificação em suas convulsões; somente o ódio, o desgosto e o azedume da carne. A miséria não concebe nada mais do que a doença numa alma inocente e angelical - e sua humildade não é imaculada; ela é venenosa, cruel e vingativa, e o compromisso ao que ela conduz esconde chagas e sofrimentos aguçados.
Não quero uma revolta relativa contra a injustiça. Admito apenas a revolta eterna, pois eterna é a miséria da humanidade.
Emil Cioran, "Nos cumes do desespero"
Não quero uma revolta relativa contra a injustiça. Admito apenas a revolta eterna, pois eterna é a miséria da humanidade.
Emil Cioran, "Nos cumes do desespero"
Gaza abandonada enquanto o genocídio persiste
Um colega, editor de um veículo de comunicação de grande circulação que deu destaque a Gaza durante os dois anos do genocídio, expressou recentemente sua frustração com o fato de Gaza não ser mais um foco principal nas notícias.
Ele quase não precisava dizer isso. É evidente que Gaza já foi relegada à margem da cobertura jornalística — não apenas pela grande mídia ocidental, conhecida há muito tempo por seu viés estrutural a favor de Israel, mas também por veículos frequentemente descritos, com razão ou não, como "pró-Palestina".
À primeira vista, essa retirada pode parecer rotineira. Gaza durante o auge do genocídio exigia atenção constante; Gaza depois do genocídio, nem tanto.
Mas essa suposição desmorona sob análise, porque o genocídio em Gaza não terminou .
Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, quase 500 palestinos foram mortos e centenas ficaram feridos desde o chamado cessar-fogo declarado em outubro de 2025, apesar das repetidas alegações de que os massacres em larga escala haviam cessado. Esses não são incidentes isolados ou “violações”; são a continuação das mesmas políticas letais dos últimos dois anos.
Além do número diário de mortos, existe uma devastação em uma escala quase incompreensível. Mais de 71.000 palestinos foram mortos desde outubro de 2023, com bairros inteiros arrasados, infraestrutura destruída e a vida civil tornada praticamente impossível.
Para compreender a profundidade da crise em Gaza, é preciso confrontar uma realidade brutal: bem mais de um milhão de pessoas permanecem deslocadas, vivendo em tendas e abrigos improvisados que desabam sob tempestades de inverno, inundações ou ventos fortes. Bebês morreram congelados . Famílias são arrastadas de um refúgio temporário para outro, presas em um ciclo de exposição e medo.
Sob as ruínas de Gaza jazem milhares de corpos ainda enterrados sob os escombros, inacessíveis devido à destruição de máquinas pesadas, estradas e serviços de emergência por Israel. Acredita-se que milhares de outros estejam enterrados em valas comuns, aguardando exumação e sepultamento digno.
Entretanto, centenas de corpos permanecem espalhados em áreas a leste da chamada Linha Amarela, uma fronteira que supostamente separa as zonas militares das “áreas seguras” palestinas. Israel nunca respeitou essa linha. Foi uma ficção desde o início, usada para criar a aparência de contenção enquanto a violência continuava por toda parte.
Do ponto de vista de Israel, a guerra nunca realmente parou. Apenas os palestinos são obrigados a respeitar o cessar-fogo — movidos pelo medo de que qualquer resposta, por menor que seja, seja usada como justificativa para a retomada de massacres, totalmente endossados pelo governo dos EUA e seus aliados ocidentais.
A matança apenas diminuiu. Somente em 15 de janeiro, ataques israelenses mataram 16 palestinos, incluindo mulheres e crianças, em Gaza, apesar da ausência de qualquer confronto militar. Contudo, enquanto o número diário de mortes permanecer abaixo do limiar psicológico de um massacre — menos de 100 corpos por dia — Gaza discretamente desaparece das manchetes.
Hoje, mais de dois milhões de palestinos estão confinados a cerca de 45% dos já minúsculos 365 quilômetros quadrados de Gaza, com apenas uma pequena quantidade de ajuda humanitária chegando, sem acesso confiável à água potável e com um sistema de saúde praticamente inoperante. A economia de Gaza está praticamente aniquilada. Até mesmo os pescadores são impedidos de acessar o mar ou têm sua atividade restrita a menos de um quilômetro da costa, transformando um meio de subsistência secular em um risco diário de morte.
A educação foi reduzida à mera sobrevivência. As crianças estudam em tendas ou em edifícios parcialmente destruídos, já que quase todas as escolas e universidades em Gaza foram danificadas ou destruídas pelos bombardeios israelenses.
Israel também não abandonou a retórica que lançou as bases ideológicas para o genocídio. Altos funcionários israelenses continuam a articular visões de devastação permanente e limpeza étnica — uma linguagem que desumaniza os palestinos enquanto enquadra a destruição como política, uma necessidade estratégica.
Mas por que Israel está determinado a manter Gaza à beira do colapso? Por que obstrui a estabilização e atrasa o avanço para a segunda fase do acordo de cessar-fogo?
A resposta é direta: Israel busca preservar a opção de limpeza étnica. Altos funcionários defenderam abertamente a ocupação permanente, a engenharia demográfica e a negação do retorno dos palestinos às suas áreas destruídas a leste da Linha Amarela.
E a mídia?
Por sua vez, a mídia ocidental começou a reabilitar a imagem de Israel, reinserindo-a nas narrativas globais como se o extermínio coletivo nunca tivesse ocorrido. Mais preocupante ainda, até mesmo parte da chamada mídia "pró-Palestina" parece estar seguindo em frente — como se o genocídio fosse uma tarefa temporária, em vez de uma emergência moral contínua.
Poder-se-ia tentar justificar essa negligência apontando para crises em outros lugares — Venezuela, Irã, Iêmen, Síria, Groenlândia. Mas esse argumento desmorona a menos que Gaza tenha realmente se recuperado da catástrofe, o que não aconteceu.
Israel conseguiu, em um grau perigoso, desumanizar sistematicamente os palestinos por meio de assassinatos em massa. Quando a violência atinge proporções genocidas, a violência em menor escala — porém ainda letal — torna-se normalizada. A morte lenta dos sobreviventes passa a ser um ruído de fundo.
É assim que os palestinos são mortos duas vezes: primeiro por meio do genocídio e depois por meio do apagamento — por meio do silêncio, da distração e da retirada gradual da atenção de seu sofrimento coletivo contínuo.
A Palestina e seu povo devem permanecer no centro da solidariedade moral e política. Isso não é um ato de caridade, nem uma expressão de alinhamento ideológico. É o mínimo que se deve a uma população que o mundo já negligenciou — e continua a negligenciar — todos os dias.
O silêncio agora não é neutralidade; é cumplicidade.
Ele quase não precisava dizer isso. É evidente que Gaza já foi relegada à margem da cobertura jornalística — não apenas pela grande mídia ocidental, conhecida há muito tempo por seu viés estrutural a favor de Israel, mas também por veículos frequentemente descritos, com razão ou não, como "pró-Palestina".
À primeira vista, essa retirada pode parecer rotineira. Gaza durante o auge do genocídio exigia atenção constante; Gaza depois do genocídio, nem tanto.
Mas essa suposição desmorona sob análise, porque o genocídio em Gaza não terminou .
Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, quase 500 palestinos foram mortos e centenas ficaram feridos desde o chamado cessar-fogo declarado em outubro de 2025, apesar das repetidas alegações de que os massacres em larga escala haviam cessado. Esses não são incidentes isolados ou “violações”; são a continuação das mesmas políticas letais dos últimos dois anos.
Além do número diário de mortos, existe uma devastação em uma escala quase incompreensível. Mais de 71.000 palestinos foram mortos desde outubro de 2023, com bairros inteiros arrasados, infraestrutura destruída e a vida civil tornada praticamente impossível.
Para compreender a profundidade da crise em Gaza, é preciso confrontar uma realidade brutal: bem mais de um milhão de pessoas permanecem deslocadas, vivendo em tendas e abrigos improvisados que desabam sob tempestades de inverno, inundações ou ventos fortes. Bebês morreram congelados . Famílias são arrastadas de um refúgio temporário para outro, presas em um ciclo de exposição e medo.
Sob as ruínas de Gaza jazem milhares de corpos ainda enterrados sob os escombros, inacessíveis devido à destruição de máquinas pesadas, estradas e serviços de emergência por Israel. Acredita-se que milhares de outros estejam enterrados em valas comuns, aguardando exumação e sepultamento digno.
Entretanto, centenas de corpos permanecem espalhados em áreas a leste da chamada Linha Amarela, uma fronteira que supostamente separa as zonas militares das “áreas seguras” palestinas. Israel nunca respeitou essa linha. Foi uma ficção desde o início, usada para criar a aparência de contenção enquanto a violência continuava por toda parte.
Do ponto de vista de Israel, a guerra nunca realmente parou. Apenas os palestinos são obrigados a respeitar o cessar-fogo — movidos pelo medo de que qualquer resposta, por menor que seja, seja usada como justificativa para a retomada de massacres, totalmente endossados pelo governo dos EUA e seus aliados ocidentais.
A matança apenas diminuiu. Somente em 15 de janeiro, ataques israelenses mataram 16 palestinos, incluindo mulheres e crianças, em Gaza, apesar da ausência de qualquer confronto militar. Contudo, enquanto o número diário de mortes permanecer abaixo do limiar psicológico de um massacre — menos de 100 corpos por dia — Gaza discretamente desaparece das manchetes.
Hoje, mais de dois milhões de palestinos estão confinados a cerca de 45% dos já minúsculos 365 quilômetros quadrados de Gaza, com apenas uma pequena quantidade de ajuda humanitária chegando, sem acesso confiável à água potável e com um sistema de saúde praticamente inoperante. A economia de Gaza está praticamente aniquilada. Até mesmo os pescadores são impedidos de acessar o mar ou têm sua atividade restrita a menos de um quilômetro da costa, transformando um meio de subsistência secular em um risco diário de morte.
A educação foi reduzida à mera sobrevivência. As crianças estudam em tendas ou em edifícios parcialmente destruídos, já que quase todas as escolas e universidades em Gaza foram danificadas ou destruídas pelos bombardeios israelenses.
Israel também não abandonou a retórica que lançou as bases ideológicas para o genocídio. Altos funcionários israelenses continuam a articular visões de devastação permanente e limpeza étnica — uma linguagem que desumaniza os palestinos enquanto enquadra a destruição como política, uma necessidade estratégica.
Mas por que Israel está determinado a manter Gaza à beira do colapso? Por que obstrui a estabilização e atrasa o avanço para a segunda fase do acordo de cessar-fogo?
A resposta é direta: Israel busca preservar a opção de limpeza étnica. Altos funcionários defenderam abertamente a ocupação permanente, a engenharia demográfica e a negação do retorno dos palestinos às suas áreas destruídas a leste da Linha Amarela.
E a mídia?
Por sua vez, a mídia ocidental começou a reabilitar a imagem de Israel, reinserindo-a nas narrativas globais como se o extermínio coletivo nunca tivesse ocorrido. Mais preocupante ainda, até mesmo parte da chamada mídia "pró-Palestina" parece estar seguindo em frente — como se o genocídio fosse uma tarefa temporária, em vez de uma emergência moral contínua.
Poder-se-ia tentar justificar essa negligência apontando para crises em outros lugares — Venezuela, Irã, Iêmen, Síria, Groenlândia. Mas esse argumento desmorona a menos que Gaza tenha realmente se recuperado da catástrofe, o que não aconteceu.
Israel conseguiu, em um grau perigoso, desumanizar sistematicamente os palestinos por meio de assassinatos em massa. Quando a violência atinge proporções genocidas, a violência em menor escala — porém ainda letal — torna-se normalizada. A morte lenta dos sobreviventes passa a ser um ruído de fundo.
É assim que os palestinos são mortos duas vezes: primeiro por meio do genocídio e depois por meio do apagamento — por meio do silêncio, da distração e da retirada gradual da atenção de seu sofrimento coletivo contínuo.
A Palestina e seu povo devem permanecer no centro da solidariedade moral e política. Isso não é um ato de caridade, nem uma expressão de alinhamento ideológico. É o mínimo que se deve a uma população que o mundo já negligenciou — e continua a negligenciar — todos os dias.
O silêncio agora não é neutralidade; é cumplicidade.
Vamos conversar sobre o Estado em descompasso?
É difícil acompanhar o debate público no Brasil sem tropeçar, quase diariamente, em alertas sobre a crise fiscal iminente, o crescimento dos gastos e a trajetória da dívida pública. É claro que a situação fiscal do país importa e que ignorar esses números seria irresponsável, ainda assim, confesso um incômodo persistente perante esse debate. Tenho a sensação de que ele ignora as pessoas: fala-se de corte de gastos como imperativo técnico, muitas vezes necessário para reduzir desperdícios, ineficiências e práticas inaceitáveis, como a corrupção, mas raramente se discute com a mesma ênfase onde esses cortes incidem e como afetam a provisão de serviços públicos essenciais e a vida das pessoas. Ajustes fiscais aparecem como abstrações, ignorando que seus efeitos sobre a saúde, a educação e outras políticas básicas se manifestam de forma muito concreta sobre a população, particularmente a mais vulnerável. Discute-se a insustentabilidade da previdência, mas quase nunca a velhice e o destino de milhões de pessoas que envelhecerão fora dos modelos que organizam essas contas.
Esse desconforto leva a algumas perguntas simples e incômodas: será que, como sociedade, estamos de fato nos preparando para o futuro, ou apenas reagindo, com categorias antigas, a problemas que já mudaram de natureza? Quando o futuro chegar – e ele chegará – teremos condições de cuidar de nossas crianças, apoiar as mães, amparar os idosos, prover segurança básica e garantir cidadania a quem vive fora do trabalho fixo e regular?
É claro que enfrentar os desafios associados às transformações em curso e às exigências do futuro passa, necessariamente, pelo crescimento econômico, pelo aumento da produtividade, pela redução da informalidade, da criminalidade e da injustiça tributária, bem como por um ambiente institucional que estimule investimento, inovação e geração de renda. Sem isso, a capacidade do Estado é estruturalmente limitada. Mas o ponto aqui é outro: mesmo quando – e se – o crescimento vier, esses problemas não se resolverão automaticamente. Eles dizem respeito à forma como o Estado se organiza, decide, coordena e sustenta direitos em uma sociedade que está mudando mais rápido do que suas instituições.
A conversa que proponho é olhar o Estado para além da sustentabilidade das contas, como uma construção histórica voltada a sustentar direitos, coordenar expectativas e oferecer alguma previsibilidade ao longo do ciclo de vida. Esse deslocamento revela um descompasso mais profundo e mais preocupante do que o fiscal: entre uma sociedade que já funciona em modo digital e um Estado ainda operando no modo analógico.
O Estado moderno se constituiu para tornar a incerteza socialmente administrável e para assegurar direitos, organizando a vida coletiva por meio de regras, instituições e políticas públicas. Essa dupla função – central na construção dos sistemas de proteção social e na garantia de direitos ao longo do século XX – passa a ser tensionada por transformações profundas e simultâneas que alteram o ambiente em que o Estado opera. Mudanças no mercado de trabalho, no perfil demográfico, na tecnologia, no clima e na própria política se acumulam, comprimem o tempo de resposta institucional e ampliam a distância entre os instrumentos disponíveis e os problemas a enfrentar, em um contexto agravado pela fragilização das instituições multilaterais e pela erosão das regras compartilhadas, cada vez mais substituídas pela política do mais forte.
Nesse contexto, o desafio central deixa de ser lidar com choques isolados e passa a ser administrar seus efeitos combinados. Mecanismos de coordenação, planejamento e proteção social concebidos para contextos mais previsíveis revelam limites crescentes. É nesse deslocamento silencioso – menos visível do que uma crise fiscal, mas mais profundo – que se consolida uma crise de adequação histórica, da qual os problemas de financiamento são apenas a face mais visível.
Durante muito tempo, crises foram tratadas como interrupções da normalidade, às quais o Estado respondia mobilizando instrumentos excepcionais para, em seguida, retomar o funcionamento regular de suas instituições. O que parece estar em curso hoje é uma mudança de regime: choques deixaram de ser episódios pontuais e passaram a compor o próprio ambiente em que o Estado opera. Pandemias, eventos climáticos extremos, instabilidades econômicas recorrentes e crises humanitárias não apenas se repetem, como frequentemente se sobrepõem, produzindo pressão contínua sobre a ação pública.
A esse cenário soma-se uma transformação decisiva na percepção social do tempo. Esperam-se respostas imediatas, decisões rápidas e soluções visíveis em prazos cada vez mais curtos, mesmo quando os problemas se tornam mais complexos, interdependentes e difíceis de resolver. A demora, ainda que necessária, passa a ser interpretada como falha ou omissão.
Esse encurtamento do tempo social entra em tensão direta com o funcionamento das instituições públicas e da própria democracia. Procedimentos, controles, coordenação entre níveis de governo, negociação entre interesses divergentes e respeito a marcos legais exigem tempo. Esses mecanismos, que funcionam como garantias contra arbitrariedades e erros graves, passam a ser percebidos como entraves em um ambiente que valoriza a velocidade acima de quase tudo.
O resultado é um descompasso crescente entre expectativas sociais e capacidade institucional. A ação estatal tende a ser julgada menos por sua consistência ao longo do tempo e mais por sua capacidade de reagir rapidamente. Decisões complexas são avaliadas antes mesmo de produzir efeitos, o espaço para planejamento estrutural se estreita e a exceção deixa de ser um desvio temporário, passando a moldar de forma persistente o cotidiano da ação estatal.
Pensar o futuro do Estado exige deslocar o foco do quanto ele gasta para como ele se organiza, decide e sustenta direitos ao longo do tempo. Esse deslocamento revela, no cotidiano da ação pública, um descompasso crescente entre demandas que se multiplicam, expectativas que se ampliam e a capacidade efetiva de hierarquizar prioridades. O Estado é chamado a agir em mais frentes, sob maior intensidade e escrutínio permanente, com instrumentos institucionais concebidos para contextos menos turbulentos, fragmentados e polarizados.
Um aspecto central dessa dinâmica – frequentemente negligenciado no debate público – é que as demandas dirigidas ao Estado não incorporam limites de capacidade fiscal, administrativa ou institucional. Elas se apresentam como necessidades imediatas, direitos legítimos ou injustiças a serem reparadas e, do ponto de vista de quem as vive, muitas vezes são exatamente isso. O problema é que essas demandas inevitavelmente se acumulam, em volume e complexidade muito superiores à capacidade do Estado de absorvê-las e transformá-las em ação pública consistente.
Essa pressão se exerce de forma vertical e horizontal, atravessando níveis de governo e áreas de atuação distintas, frequentemente sem clareza sobre competências, responsabilidades ou capacidade de coordenação. Tudo parece urgente, tudo parece essencial, tudo exige resposta imediata.
Essa lógica tem efeitos diretos sobre a política. Quando tudo se apresenta como prioridade absoluta, escolher passa a ser visto como negar direitos; hierarquizar, como arbitrariedade; planejar, como demora injustificável. O espaço para decisões estratégicas se estreita, e a política passa a operar sob gestão permanente de conflitos, mais voltada a administrar pressões do que a sustentar escolhas no tempo.
O resultado é um Estado que opera cada vez mais próximo do limite – não apenas fiscal, mas organizacional, político e institucional. Emergências deixam de ser desvios temporários e passam a ocupar o centro da ação estatal. A lógica do improviso e da resposta rápida tende a se normalizar, substituindo o planejamento e a ação estruturante.
Não se trata, aqui, de incapacidade técnica pura e simples. Em muitos casos, essa forma de operar é uma resposta racional a um ambiente que pune a prudência, deslegitima a demora e recompensa o gesto visível. Sob essas condições, o Estado passa a funcionar menos como organizador estratégico da vida coletiva e mais como amortecedor permanente de choques sucessivos.
Este texto não pretendeu oferecer respostas nem soluções prontas. Seu objetivo foi outro: reorganizar a forma como formulamos o problema do Estado, examinando seu funcionamento no presente para iluminar os riscos que se projetam no horizonte. As transformações aqui discutidas não são apenas desafios imediatos, mas sinais de tensões estruturais que, se mantidas, tendem a se aprofundar nas próximas décadas.
A pergunta central, portanto, não é apenas como o Estado funciona hoje, mas que tipo de Estado será capaz de sustentar, no futuro, funções básicas de proteção, cuidado, coordenação e garantia de cidadania em uma sociedade que já não se organiza como antes. Uma sociedade que envelhece com trajetórias de trabalho cada vez mais irregulares, famílias menores e mais dispersas, redes tradicionais de cuidado fragilizadas e demandas por proteção que atravessam todo o ciclo de vida. Nada disso se resolve apenas com ajustes fiscais, nem pode ser tratado como emergência pontual.
Abrir essa conversa significa reconhecer que o desafio central não é apenas administrar melhor o Estado que temos, mas perguntar se ele está se preparando – institucional, política e socialmente – para o mundo que vem pela frente. Nos próximos textos, essa reflexão será aprofundada a partir de alguns desses pontos críticos: o Estado que passa a operar sob emergência quase permanente; a crise da proteção social ao longo do ciclo de vida; os limites de poder, autoridade e capacidade que atravessam a ação estatal; e, por fim, a necessidade de repensar o futuro do Estado para além dos dilemas simplificadores que dominam o debate atual.
Esse desconforto leva a algumas perguntas simples e incômodas: será que, como sociedade, estamos de fato nos preparando para o futuro, ou apenas reagindo, com categorias antigas, a problemas que já mudaram de natureza? Quando o futuro chegar – e ele chegará – teremos condições de cuidar de nossas crianças, apoiar as mães, amparar os idosos, prover segurança básica e garantir cidadania a quem vive fora do trabalho fixo e regular?
É claro que enfrentar os desafios associados às transformações em curso e às exigências do futuro passa, necessariamente, pelo crescimento econômico, pelo aumento da produtividade, pela redução da informalidade, da criminalidade e da injustiça tributária, bem como por um ambiente institucional que estimule investimento, inovação e geração de renda. Sem isso, a capacidade do Estado é estruturalmente limitada. Mas o ponto aqui é outro: mesmo quando – e se – o crescimento vier, esses problemas não se resolverão automaticamente. Eles dizem respeito à forma como o Estado se organiza, decide, coordena e sustenta direitos em uma sociedade que está mudando mais rápido do que suas instituições.
A conversa que proponho é olhar o Estado para além da sustentabilidade das contas, como uma construção histórica voltada a sustentar direitos, coordenar expectativas e oferecer alguma previsibilidade ao longo do ciclo de vida. Esse deslocamento revela um descompasso mais profundo e mais preocupante do que o fiscal: entre uma sociedade que já funciona em modo digital e um Estado ainda operando no modo analógico.
O Estado moderno se constituiu para tornar a incerteza socialmente administrável e para assegurar direitos, organizando a vida coletiva por meio de regras, instituições e políticas públicas. Essa dupla função – central na construção dos sistemas de proteção social e na garantia de direitos ao longo do século XX – passa a ser tensionada por transformações profundas e simultâneas que alteram o ambiente em que o Estado opera. Mudanças no mercado de trabalho, no perfil demográfico, na tecnologia, no clima e na própria política se acumulam, comprimem o tempo de resposta institucional e ampliam a distância entre os instrumentos disponíveis e os problemas a enfrentar, em um contexto agravado pela fragilização das instituições multilaterais e pela erosão das regras compartilhadas, cada vez mais substituídas pela política do mais forte.
Nesse contexto, o desafio central deixa de ser lidar com choques isolados e passa a ser administrar seus efeitos combinados. Mecanismos de coordenação, planejamento e proteção social concebidos para contextos mais previsíveis revelam limites crescentes. É nesse deslocamento silencioso – menos visível do que uma crise fiscal, mas mais profundo – que se consolida uma crise de adequação histórica, da qual os problemas de financiamento são apenas a face mais visível.
Durante muito tempo, crises foram tratadas como interrupções da normalidade, às quais o Estado respondia mobilizando instrumentos excepcionais para, em seguida, retomar o funcionamento regular de suas instituições. O que parece estar em curso hoje é uma mudança de regime: choques deixaram de ser episódios pontuais e passaram a compor o próprio ambiente em que o Estado opera. Pandemias, eventos climáticos extremos, instabilidades econômicas recorrentes e crises humanitárias não apenas se repetem, como frequentemente se sobrepõem, produzindo pressão contínua sobre a ação pública.
A esse cenário soma-se uma transformação decisiva na percepção social do tempo. Esperam-se respostas imediatas, decisões rápidas e soluções visíveis em prazos cada vez mais curtos, mesmo quando os problemas se tornam mais complexos, interdependentes e difíceis de resolver. A demora, ainda que necessária, passa a ser interpretada como falha ou omissão.
Esse encurtamento do tempo social entra em tensão direta com o funcionamento das instituições públicas e da própria democracia. Procedimentos, controles, coordenação entre níveis de governo, negociação entre interesses divergentes e respeito a marcos legais exigem tempo. Esses mecanismos, que funcionam como garantias contra arbitrariedades e erros graves, passam a ser percebidos como entraves em um ambiente que valoriza a velocidade acima de quase tudo.
O resultado é um descompasso crescente entre expectativas sociais e capacidade institucional. A ação estatal tende a ser julgada menos por sua consistência ao longo do tempo e mais por sua capacidade de reagir rapidamente. Decisões complexas são avaliadas antes mesmo de produzir efeitos, o espaço para planejamento estrutural se estreita e a exceção deixa de ser um desvio temporário, passando a moldar de forma persistente o cotidiano da ação estatal.
Pensar o futuro do Estado exige deslocar o foco do quanto ele gasta para como ele se organiza, decide e sustenta direitos ao longo do tempo. Esse deslocamento revela, no cotidiano da ação pública, um descompasso crescente entre demandas que se multiplicam, expectativas que se ampliam e a capacidade efetiva de hierarquizar prioridades. O Estado é chamado a agir em mais frentes, sob maior intensidade e escrutínio permanente, com instrumentos institucionais concebidos para contextos menos turbulentos, fragmentados e polarizados.
Um aspecto central dessa dinâmica – frequentemente negligenciado no debate público – é que as demandas dirigidas ao Estado não incorporam limites de capacidade fiscal, administrativa ou institucional. Elas se apresentam como necessidades imediatas, direitos legítimos ou injustiças a serem reparadas e, do ponto de vista de quem as vive, muitas vezes são exatamente isso. O problema é que essas demandas inevitavelmente se acumulam, em volume e complexidade muito superiores à capacidade do Estado de absorvê-las e transformá-las em ação pública consistente.
Essa pressão se exerce de forma vertical e horizontal, atravessando níveis de governo e áreas de atuação distintas, frequentemente sem clareza sobre competências, responsabilidades ou capacidade de coordenação. Tudo parece urgente, tudo parece essencial, tudo exige resposta imediata.
Essa lógica tem efeitos diretos sobre a política. Quando tudo se apresenta como prioridade absoluta, escolher passa a ser visto como negar direitos; hierarquizar, como arbitrariedade; planejar, como demora injustificável. O espaço para decisões estratégicas se estreita, e a política passa a operar sob gestão permanente de conflitos, mais voltada a administrar pressões do que a sustentar escolhas no tempo.
O resultado é um Estado que opera cada vez mais próximo do limite – não apenas fiscal, mas organizacional, político e institucional. Emergências deixam de ser desvios temporários e passam a ocupar o centro da ação estatal. A lógica do improviso e da resposta rápida tende a se normalizar, substituindo o planejamento e a ação estruturante.
Não se trata, aqui, de incapacidade técnica pura e simples. Em muitos casos, essa forma de operar é uma resposta racional a um ambiente que pune a prudência, deslegitima a demora e recompensa o gesto visível. Sob essas condições, o Estado passa a funcionar menos como organizador estratégico da vida coletiva e mais como amortecedor permanente de choques sucessivos.
Este texto não pretendeu oferecer respostas nem soluções prontas. Seu objetivo foi outro: reorganizar a forma como formulamos o problema do Estado, examinando seu funcionamento no presente para iluminar os riscos que se projetam no horizonte. As transformações aqui discutidas não são apenas desafios imediatos, mas sinais de tensões estruturais que, se mantidas, tendem a se aprofundar nas próximas décadas.
A pergunta central, portanto, não é apenas como o Estado funciona hoje, mas que tipo de Estado será capaz de sustentar, no futuro, funções básicas de proteção, cuidado, coordenação e garantia de cidadania em uma sociedade que já não se organiza como antes. Uma sociedade que envelhece com trajetórias de trabalho cada vez mais irregulares, famílias menores e mais dispersas, redes tradicionais de cuidado fragilizadas e demandas por proteção que atravessam todo o ciclo de vida. Nada disso se resolve apenas com ajustes fiscais, nem pode ser tratado como emergência pontual.
Abrir essa conversa significa reconhecer que o desafio central não é apenas administrar melhor o Estado que temos, mas perguntar se ele está se preparando – institucional, política e socialmente – para o mundo que vem pela frente. Nos próximos textos, essa reflexão será aprofundada a partir de alguns desses pontos críticos: o Estado que passa a operar sob emergência quase permanente; a crise da proteção social ao longo do ciclo de vida; os limites de poder, autoridade e capacidade que atravessam a ação estatal; e, por fim, a necessidade de repensar o futuro do Estado para além dos dilemas simplificadores que dominam o debate atual.
Imperialismo sem civilização
O imperialismo retorna ao centro do debate contemporâneo. Mas o faz sob uma forma historicamente distinta daquela que estruturou o passado. Há uma boa dose de evidências que apoiam essa perspectiva.
Apresenta-se como projeto de poder orientado para a conquista territorial.
Durante os séculos XIX e XX, o imperialismo se impôs por meio de um robusto aparato normativo e discursivo destinado a legitimar a dominação territorial, a racialização das populações colonizadas e a violência estrutural do governo imperial. A expansão imperial articulava hierarquias raciais, racismo institucionalizado e promessas de civilização, progresso e desenvolvimento que funcionavam menos como objetivos emancipatórios e mais como justificativas morais para a conquista e o controle.
O fato é que a violência imperial, ainda que brutal e sistemática, era envolta por uma narrativa civilizatória que buscava conferir sentido e legitimidade à dominação: o império apresentava-se como agente de governo e reforma, ao menos em seu próprio imaginário, dos territórios e populações submetidos à sua autoridade. No mundo contemporâneo, entretanto, essa lógica civilizatória já não é necessária. O imperialismo persiste, mas não se apresenta como projeto moral ou universalista, operando cada vez mais de forma desprovida de pretensões normativas.
Particularmente na política internacional, o imperialismo, compreendido como uma forma específica de exercício do poder, tem ocupado lugar central desde a consolidação do sistema europeu de Estados, moldando, ao longo de séculos, tanto os padrões de desenvolvimento econômico quanto a própria configuração da ordem internacional. Colonizar era, segundo essa lógica, civilizar: levar progresso, racionalidade, cristianismo, desenvolvimento, Estado e mercado a povos considerados atrasados. A missão civilizadora funcionava como linguagem legitimadora do império, ainda que seus efeitos concretos fossem expropriação, violência e morte.
O imperialismo não se apresenta como portador de valores universais nem promete um futuro compartilhado. Não é mais necessário justificar desestabilização externa e ocupação territorial com valores humanos supostamente elevados. O que se observa é a emergência de um imperialismo sem civilização: uma forma de poder que domina sem precisar convencer, ocupa sem integrar e exerce violência sem oferecer qualquer horizonte normativo em troca.
Exemplos recentes ilustram esse padrão: a ambição declarada do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de controlar a Groenlândia, incluindo a possibilidade de uso da força, demonstrou que a lógica imperial contemporânea pode operar mesmo entre aliados tradicionais, ameaçando arruinar a coesão da própria aliança do Atlântico Norte. Publicações nas redes sociais e imagens simuladas por inteligência artificial reforçaram a percepção de um projeto de dominação direta, sem necessidade de justificar-se por valores universais ou “missão civilizadora”.
Mesmo aliados históricos dos Estados Unidos, como Canadá, México ou países europeus, passaram a ser diretamente afetados pela assertividade nua da política de poder norte-americana. O que antes parecia restrito às periferias do sistema internacional – “o resto do mundo” – manifesta-se agora também entre parceiros tradicionais, seja nas relações transatlânticas, seja na relação entre Estados Unidos e Canadá.
O discurso do primeiro-ministro canadense em Davos, em 2026, é particularmente revelador. Ao reconhecer que a chamada “ordem internacional baseada em regras” sempre foi uma ficção funcional, marcada por aplicação seletiva do direito internacional, assimetrias na imposição das regras comerciais e exceções sistemáticas em favor dos mais fortes, o premiê não denuncia uma anomalia recente, mas explicita um pacto tácito. Essa ficção, admitiu, foi útil enquanto a hegemonia americana fornecia bens públicos, previsibilidade e proteção suficientes para que países como o Canadá pudessem sustentar políticas externas “baseadas em valores”.
Esa lógica de dominação não é nova. Cabe lembrar que, na Europa do século XIX, o império era amplamente concebido como uma forma legítima e desejável de organização do poder internacional. No debate intelectual europeu, o imperialismo era entendido como um mecanismo necessário à estabilidade da ordem internacional, capaz de produzir integração econômica e interdependência entre diferentes regiões do mundo. Essa compreensão associava diretamente a expansão imperial à ideia de progresso histórico e à missão civilizadora, apoiando-se em uma percepção generalizada de superioridade cultural e moral europeia em relação aos demais povos. Nos dias de hoje, contudo, essa lógica encontra-se profundamente esvaziada.
A diferença fundamental do presente reside menos na natureza da dominação do que na perda de centralidade desses regimes de justificação. Se no século XIX o império precisava se apresentar como portador de civilização e progresso, e se no pós-Segunda Guerra Mundial a hegemonia se legitimava por meio da promessa de regras, instituições e valores universais, hoje essa mediação normativa tornou-se politicamente dispensável. A dominação persiste, mas já não necessita nem da retórica civilizatória nem da ficção de uma ordem internacional baseada em regras para se exercer.
Esse deslocamento ajuda a compreender por que categorias como “hipocrisia liberal” ou “duplo padrão” parecem insuficientes para explicar a política internacional atual. Essas leituras partem do pressuposto de que ainda existiriam valores universais sendo traídos na prática. O problema, porém, é mais profundo: em muitos casos, tais valores simplesmente deixaram de ser relevantes como fundamento da ação imperial. Não se trata de violar normas, mas de operar com indiferença em relação a elas.
Não se trata de violar normas, mas de operar com indiferença em relação a elas. A guerra na Ucrânia, a devastação contínua de Gaza e as múltiplas formas de intervenção e coerção no hemisfério americano ilustram esse padrão. Em tais contextos, a linguagem do direito internacional, da proteção de civis ou da autodeterminação surge de forma seletiva e instrumental, quando não é simplesmente abandonada, enquanto a lógica que orienta a ação é a do controle territorial, da dissuasão estratégica e da imposição de custos ao adversário, independentemente das consequências políticas ou humanas.
Um dos sinais mais evidentes dessa transformação é o retorno do território como instrumento central do poder. No imperialismo clássico, o território colonial era um espaço a ser administrado, reorganizado e explorado: construíam-se instituições, infraestruturas, sistemas jurídicos e modelos econômicos voltados à integração subordinada ao império. Hoje, o território aparece cada vez mais como espaço de contenção, fragmentação e negação. Controla-se para impedir, bloquear, cercar ou desestabilizar, não para governar ou explorar.
Nesse contexto, o imperialismo sem civilização também se manifesta por meio do que podemos chamar de encontros imperiais. O mundo contemporâneo já não é estruturado por um único centro hegemônico capaz de impor sua narrativa universal, mas por zonas de fricção onde diferentes projetos imperiais (antigos e emergentes) se cruzam, se sobrepõem e se confrontam. Ao contrário do imperialismo clássico, que buscava ordenar o mundo a partir de uma hierarquia relativamente estável, os encontros imperiais produzem instabilidade crônica, fragmentação política e violência prolongada. O resultado não é a substituição de um império por outro, mas a multiplicação de formas de dominação que coexistem, colidem e se reforçam mutuamente, sem oferecer qualquer horizonte de reconstrução ou futuro compartilhado.Crédito: PHC Albert Bullock
Essa lógica contribui para a proliferação de zonas militarizadas, fortificação e controle de fronteiras, áreas permanentemente instáveis e territórios convertidos em espaços de exceção. A soberania deixa de ser violada em nome de uma promessa universal e passa a ser simplesmente negada por razões estratégicas. O Outro já não precisa ser “civilizado”; basta que seja neutralizado, deslocado ou mantido em condição de vulnerabilidade permanente.
Essa forma de dominação produz um tipo específico de violência. Não há esforço consistente de reconstrução política, social ou econômica após intervenções, ocupações ou cercos, nem a pretensão de incorporar esses territórios a uma ordem internacional estável. Nessa configuração, sociedades inteiras passam a figurar como objetos de agressão imperial, reduzidas a espaços estratégicos a serem controlados ou neutralizados. Diante desse cenário, a afirmação da soberania deixa de ser apenas uma reivindicação normativa e torna-se uma necessidade política fundamental frente ao império. O imperialismo contemporâneo não oferece pertencimento, apenas dominação. Não produz mundos colonizados; administra ruínas e interesses imperiais.
O declínio da hegemonia liberal ajuda a explicar esse quadro, mas não no sentido frequentemente anunciado de um mundo pós-imperial. O que emerge é um mundo sem ordem internacional, marcado por imperialismos concorrentes, desprovidos de projeto civilizacional. Trata-se menos de exportar modelos e mais de controlar espaços estratégicos, rotas logísticas, recursos naturais e posições geopolíticas-chave. O império já não precisa ser admirado nem reconhecido como superior; basta ser temido.
Essa transformação tem implicações profundas para a forma como pensamos a política internacional. A crítica precisa deslocar-se do campo da incoerência moral para o da estrutura do poder, da geopolítica do território e da produção sistemática de desigualdade, insegurança e necropolíticas.
O imperialismo sem civilização é, nesse sentido, mais perigoso. Ao abandonar a promessa de progresso, ele também abdica de qualquer responsabilidade com o futuro dos territórios que domina. Governa menos, destrói mais. Prospera em um cenário de colapso das promessas modernas, como desenvolvimento, universalismo, progresso, sem que isso signifique o fim da dominação.
Compreender essa nova forma de imperialismo é fundamental para evitar análises nostálgicas, que ainda esperam do poder global algum compromisso com valores que já não estruturam sua ação. O desafio político e intelectual do presente talvez seja este: pensar a resistência, a soberania e a justiça internacional em um mundo no qual o império já não sente sequer a necessidade de fingir que civiliza.
O imperialismo contemporâneo perde sua lógica civilizatória não por ter se tornado mais ético ou mais contido, mas porque civilizar deixou de ser funcional ao exercício do poder. Em um mundo marcado por disputas territoriais, encontros imperiais e pela centralidade da coerção geopolítica, já não importa integrar, convencer ou oferecer futuros compartilhados. Basta conquistar, conter e controlar. A promessa de civilização, que antes organizava hierarquias e legitimava a violência, torna-se dispensável diante de uma forma de dominação que opera pela indiferença e pela negação. O império já não governa para transformar; domina para impedir. Nesse deslocamento, não apenas se esgota a linguagem civilizatória, como se revela um traço inquietante do presente: um poder global que prescinde de sentido, de responsabilidade e de horizonte, e que, justamente por isso, se torna mais perigoso.
Apresenta-se como projeto de poder orientado para a conquista territorial.
Durante os séculos XIX e XX, o imperialismo se impôs por meio de um robusto aparato normativo e discursivo destinado a legitimar a dominação territorial, a racialização das populações colonizadas e a violência estrutural do governo imperial. A expansão imperial articulava hierarquias raciais, racismo institucionalizado e promessas de civilização, progresso e desenvolvimento que funcionavam menos como objetivos emancipatórios e mais como justificativas morais para a conquista e o controle.
O fato é que a violência imperial, ainda que brutal e sistemática, era envolta por uma narrativa civilizatória que buscava conferir sentido e legitimidade à dominação: o império apresentava-se como agente de governo e reforma, ao menos em seu próprio imaginário, dos territórios e populações submetidos à sua autoridade. No mundo contemporâneo, entretanto, essa lógica civilizatória já não é necessária. O imperialismo persiste, mas não se apresenta como projeto moral ou universalista, operando cada vez mais de forma desprovida de pretensões normativas.
Particularmente na política internacional, o imperialismo, compreendido como uma forma específica de exercício do poder, tem ocupado lugar central desde a consolidação do sistema europeu de Estados, moldando, ao longo de séculos, tanto os padrões de desenvolvimento econômico quanto a própria configuração da ordem internacional. Colonizar era, segundo essa lógica, civilizar: levar progresso, racionalidade, cristianismo, desenvolvimento, Estado e mercado a povos considerados atrasados. A missão civilizadora funcionava como linguagem legitimadora do império, ainda que seus efeitos concretos fossem expropriação, violência e morte.
O imperialismo não se apresenta como portador de valores universais nem promete um futuro compartilhado. Não é mais necessário justificar desestabilização externa e ocupação territorial com valores humanos supostamente elevados. O que se observa é a emergência de um imperialismo sem civilização: uma forma de poder que domina sem precisar convencer, ocupa sem integrar e exerce violência sem oferecer qualquer horizonte normativo em troca.
Exemplos recentes ilustram esse padrão: a ambição declarada do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de controlar a Groenlândia, incluindo a possibilidade de uso da força, demonstrou que a lógica imperial contemporânea pode operar mesmo entre aliados tradicionais, ameaçando arruinar a coesão da própria aliança do Atlântico Norte. Publicações nas redes sociais e imagens simuladas por inteligência artificial reforçaram a percepção de um projeto de dominação direta, sem necessidade de justificar-se por valores universais ou “missão civilizadora”.
Mesmo aliados históricos dos Estados Unidos, como Canadá, México ou países europeus, passaram a ser diretamente afetados pela assertividade nua da política de poder norte-americana. O que antes parecia restrito às periferias do sistema internacional – “o resto do mundo” – manifesta-se agora também entre parceiros tradicionais, seja nas relações transatlânticas, seja na relação entre Estados Unidos e Canadá.
O discurso do primeiro-ministro canadense em Davos, em 2026, é particularmente revelador. Ao reconhecer que a chamada “ordem internacional baseada em regras” sempre foi uma ficção funcional, marcada por aplicação seletiva do direito internacional, assimetrias na imposição das regras comerciais e exceções sistemáticas em favor dos mais fortes, o premiê não denuncia uma anomalia recente, mas explicita um pacto tácito. Essa ficção, admitiu, foi útil enquanto a hegemonia americana fornecia bens públicos, previsibilidade e proteção suficientes para que países como o Canadá pudessem sustentar políticas externas “baseadas em valores”.
Esa lógica de dominação não é nova. Cabe lembrar que, na Europa do século XIX, o império era amplamente concebido como uma forma legítima e desejável de organização do poder internacional. No debate intelectual europeu, o imperialismo era entendido como um mecanismo necessário à estabilidade da ordem internacional, capaz de produzir integração econômica e interdependência entre diferentes regiões do mundo. Essa compreensão associava diretamente a expansão imperial à ideia de progresso histórico e à missão civilizadora, apoiando-se em uma percepção generalizada de superioridade cultural e moral europeia em relação aos demais povos. Nos dias de hoje, contudo, essa lógica encontra-se profundamente esvaziada.
A diferença fundamental do presente reside menos na natureza da dominação do que na perda de centralidade desses regimes de justificação. Se no século XIX o império precisava se apresentar como portador de civilização e progresso, e se no pós-Segunda Guerra Mundial a hegemonia se legitimava por meio da promessa de regras, instituições e valores universais, hoje essa mediação normativa tornou-se politicamente dispensável. A dominação persiste, mas já não necessita nem da retórica civilizatória nem da ficção de uma ordem internacional baseada em regras para se exercer.
Esse deslocamento ajuda a compreender por que categorias como “hipocrisia liberal” ou “duplo padrão” parecem insuficientes para explicar a política internacional atual. Essas leituras partem do pressuposto de que ainda existiriam valores universais sendo traídos na prática. O problema, porém, é mais profundo: em muitos casos, tais valores simplesmente deixaram de ser relevantes como fundamento da ação imperial. Não se trata de violar normas, mas de operar com indiferença em relação a elas.
Não se trata de violar normas, mas de operar com indiferença em relação a elas. A guerra na Ucrânia, a devastação contínua de Gaza e as múltiplas formas de intervenção e coerção no hemisfério americano ilustram esse padrão. Em tais contextos, a linguagem do direito internacional, da proteção de civis ou da autodeterminação surge de forma seletiva e instrumental, quando não é simplesmente abandonada, enquanto a lógica que orienta a ação é a do controle territorial, da dissuasão estratégica e da imposição de custos ao adversário, independentemente das consequências políticas ou humanas.
Um dos sinais mais evidentes dessa transformação é o retorno do território como instrumento central do poder. No imperialismo clássico, o território colonial era um espaço a ser administrado, reorganizado e explorado: construíam-se instituições, infraestruturas, sistemas jurídicos e modelos econômicos voltados à integração subordinada ao império. Hoje, o território aparece cada vez mais como espaço de contenção, fragmentação e negação. Controla-se para impedir, bloquear, cercar ou desestabilizar, não para governar ou explorar.
Nesse contexto, o imperialismo sem civilização também se manifesta por meio do que podemos chamar de encontros imperiais. O mundo contemporâneo já não é estruturado por um único centro hegemônico capaz de impor sua narrativa universal, mas por zonas de fricção onde diferentes projetos imperiais (antigos e emergentes) se cruzam, se sobrepõem e se confrontam. Ao contrário do imperialismo clássico, que buscava ordenar o mundo a partir de uma hierarquia relativamente estável, os encontros imperiais produzem instabilidade crônica, fragmentação política e violência prolongada. O resultado não é a substituição de um império por outro, mas a multiplicação de formas de dominação que coexistem, colidem e se reforçam mutuamente, sem oferecer qualquer horizonte de reconstrução ou futuro compartilhado.Crédito: PHC Albert Bullock
Essa lógica contribui para a proliferação de zonas militarizadas, fortificação e controle de fronteiras, áreas permanentemente instáveis e territórios convertidos em espaços de exceção. A soberania deixa de ser violada em nome de uma promessa universal e passa a ser simplesmente negada por razões estratégicas. O Outro já não precisa ser “civilizado”; basta que seja neutralizado, deslocado ou mantido em condição de vulnerabilidade permanente.
Essa forma de dominação produz um tipo específico de violência. Não há esforço consistente de reconstrução política, social ou econômica após intervenções, ocupações ou cercos, nem a pretensão de incorporar esses territórios a uma ordem internacional estável. Nessa configuração, sociedades inteiras passam a figurar como objetos de agressão imperial, reduzidas a espaços estratégicos a serem controlados ou neutralizados. Diante desse cenário, a afirmação da soberania deixa de ser apenas uma reivindicação normativa e torna-se uma necessidade política fundamental frente ao império. O imperialismo contemporâneo não oferece pertencimento, apenas dominação. Não produz mundos colonizados; administra ruínas e interesses imperiais.
O declínio da hegemonia liberal ajuda a explicar esse quadro, mas não no sentido frequentemente anunciado de um mundo pós-imperial. O que emerge é um mundo sem ordem internacional, marcado por imperialismos concorrentes, desprovidos de projeto civilizacional. Trata-se menos de exportar modelos e mais de controlar espaços estratégicos, rotas logísticas, recursos naturais e posições geopolíticas-chave. O império já não precisa ser admirado nem reconhecido como superior; basta ser temido.
Essa transformação tem implicações profundas para a forma como pensamos a política internacional. A crítica precisa deslocar-se do campo da incoerência moral para o da estrutura do poder, da geopolítica do território e da produção sistemática de desigualdade, insegurança e necropolíticas.
O imperialismo sem civilização é, nesse sentido, mais perigoso. Ao abandonar a promessa de progresso, ele também abdica de qualquer responsabilidade com o futuro dos territórios que domina. Governa menos, destrói mais. Prospera em um cenário de colapso das promessas modernas, como desenvolvimento, universalismo, progresso, sem que isso signifique o fim da dominação.
Compreender essa nova forma de imperialismo é fundamental para evitar análises nostálgicas, que ainda esperam do poder global algum compromisso com valores que já não estruturam sua ação. O desafio político e intelectual do presente talvez seja este: pensar a resistência, a soberania e a justiça internacional em um mundo no qual o império já não sente sequer a necessidade de fingir que civiliza.
O imperialismo contemporâneo perde sua lógica civilizatória não por ter se tornado mais ético ou mais contido, mas porque civilizar deixou de ser funcional ao exercício do poder. Em um mundo marcado por disputas territoriais, encontros imperiais e pela centralidade da coerção geopolítica, já não importa integrar, convencer ou oferecer futuros compartilhados. Basta conquistar, conter e controlar. A promessa de civilização, que antes organizava hierarquias e legitimava a violência, torna-se dispensável diante de uma forma de dominação que opera pela indiferença e pela negação. O império já não governa para transformar; domina para impedir. Nesse deslocamento, não apenas se esgota a linguagem civilizatória, como se revela um traço inquietante do presente: um poder global que prescinde de sentido, de responsabilidade e de horizonte, e que, justamente por isso, se torna mais perigoso.
O elefante no texto
O tema não é novo. Novo sou eu, que só agora arranjei vagar para falar sobre ele. Algum dia teria de ser. O ChatGPT apareceu em 2022 e, desde então, sempre que alguém começa a discorrer sobre o assunto, mudo de divisão. Mudei de quarto mental dezenas de vezes, nestes últimos três ou quatro anos.
Chama-se à coisa “inteligência artificial”. Um excesso semântico da mesma família de “fidelidade” nos contratos com empresas de telecomunicações. Uma inteligência exige um alguém, lembrava o John Maus. E alguém, lembro eu, tem mau hálito de manhã e um dia morre. Coisa que não se dá em modelos estatísticos.
Como quase tudo o que nasce sobre o signo da novidade, a conversa é desinspiradora. O entusiasta, munido daquele tipo imprescindível de optimismo que oprime quem ouve, é invariavelmente mais enervante que o pessimista. Mas o pessimista pessimista também não presta grande serviço. Não fosse a vida já fardo suficiente. Ainda por cima ter de levar com mais um velho do restelo a ensaiar teorias do caos a partir da última novidade tecnológica.
Quem me lê sabe do meu cepticismo militante. Daí a opção silenciosa até ao momento.
O impulso surgiu-me ainda há pouco, enquanto lia a crónica do Miguel Esteves Cardoso no Público. O tema era a estupidificação da vida, telemóveis, o défice de atenção promovido pelos argumentistas da Netflix. Mas, quase no fim, surgiu a frase: “A concentração já não é um objectivo — é uma sentença de morte por tédio.”
Aquilo não era só uma frase. Era um animal inteiro a entrar pela sala dentro. Um elefante. Na correção enfática, as orelhas; no travessão, a tromba. Esses dois tiques são uma espécie de caligrafia da máquina. E a máquina adora parecer profunda.
Quem lê muito reconhece logo os sinais. E, ao contrário do que se diz, hoje as pessoas lêem. Passam o dia a ler. Não lêem é livros. Os casos flagrantes são aqueles textos muito redondinhos, tipo ampola lexical, cheios de aforismos prontos a dissolver-se em água. Aparecem-nos em grupos de WhatsApp. Vêm quase sempre do Facebook. São quase sempre apócrifos. E tanto versam sobre factos históricos, como auto-ajuda, André Ventura ou edredões térmicos. A mesma prosa serve para tudo. Como margarina.
Não me interpretem mal. Não estou a acusar o Miguel Esteves Cardoso de usar modelos de linguagem para escrever — ou sequer rever, ou afinar, ou o que seja. Eu próprio uso travessões com prodigalidade. Fi-lo ainda agora. Voltarei a fazê-lo — sem culpa. Mas desde que li, algures no Substack, alguém comparar o travessão ao piscar-de-olho-de-Replicant do Blade Runner, travessão ao piscar-de-olho-de-Replicant do Blade Runner, tornei-me mais parcimonioso no seu uso. O que é pena, pois gosto muito do travessão.
(E agora uso da correcção enfática). O problema não é a gramática. É a). O problema não é a gramática. É a suspeita.
Quem falou disto foi o João Lameira, argumentista e realizador, autor do Substack Diga-se de passagem. Chamou-lhe “paranóia da escrita”, onde cada frase passa a ser objecto de interrogatório.
Dirão que é um exagero. Que um grande modelo de linguagem é apenas um revisor de bolso. Que a sua utilização consciente e avisada é “uma forma perfeitamente legítima de trabalhar a escrita”. Está bem. Acreditem nisso. Dê-se uma maçã a uma mulher, ela come. Logo a seguir vem o homem. Num abrir e fechar de olhos somos nós, no bolso do ChatGPT, a segurar-lhe as vírgulas.
Poder-se-ia ainda achar que é mesmo assim. É como se faz agora. Como a filha de um amigo que usou o ChatGPT para lhe escrever uma carta no Dia do Pai. Há qualquer coisa de instintivamente repulsivo nisto. Qualquer coisa de abjecto na ideia de delegar numa máquina as tarefas que revelam aquilo que temos de mais humano. Como se fôssemos Christians, de Roxanne, repetindo o que Cyrano nos segreda por detrás dos arbustos.
Daí o sururu quando a japonesa Rie Kudan admitiu ter usado cerca de 5% de contributos de modelos de linguagem no seu novo livro. Disse que lhe permitiu libertar o seu potencial criativo. Não duvido. Mas aprisionou o nosso potencial de leitura.
Há, por isso, quem defenda que o uso destas ferramentas deve ser assinalado em rodapé, tipo tabela nutricional. Sabem que mais? Escritor leal não entrega as fontes. Não nos digam nada. Queremos continuar a ler em sossego.
Chama-se à coisa “inteligência artificial”. Um excesso semântico da mesma família de “fidelidade” nos contratos com empresas de telecomunicações. Uma inteligência exige um alguém, lembrava o John Maus. E alguém, lembro eu, tem mau hálito de manhã e um dia morre. Coisa que não se dá em modelos estatísticos.
Como quase tudo o que nasce sobre o signo da novidade, a conversa é desinspiradora. O entusiasta, munido daquele tipo imprescindível de optimismo que oprime quem ouve, é invariavelmente mais enervante que o pessimista. Mas o pessimista pessimista também não presta grande serviço. Não fosse a vida já fardo suficiente. Ainda por cima ter de levar com mais um velho do restelo a ensaiar teorias do caos a partir da última novidade tecnológica.
Quem me lê sabe do meu cepticismo militante. Daí a opção silenciosa até ao momento.
O impulso surgiu-me ainda há pouco, enquanto lia a crónica do Miguel Esteves Cardoso no Público. O tema era a estupidificação da vida, telemóveis, o défice de atenção promovido pelos argumentistas da Netflix. Mas, quase no fim, surgiu a frase: “A concentração já não é um objectivo — é uma sentença de morte por tédio.”
Aquilo não era só uma frase. Era um animal inteiro a entrar pela sala dentro. Um elefante. Na correção enfática, as orelhas; no travessão, a tromba. Esses dois tiques são uma espécie de caligrafia da máquina. E a máquina adora parecer profunda.
Quem lê muito reconhece logo os sinais. E, ao contrário do que se diz, hoje as pessoas lêem. Passam o dia a ler. Não lêem é livros. Os casos flagrantes são aqueles textos muito redondinhos, tipo ampola lexical, cheios de aforismos prontos a dissolver-se em água. Aparecem-nos em grupos de WhatsApp. Vêm quase sempre do Facebook. São quase sempre apócrifos. E tanto versam sobre factos históricos, como auto-ajuda, André Ventura ou edredões térmicos. A mesma prosa serve para tudo. Como margarina.
Não me interpretem mal. Não estou a acusar o Miguel Esteves Cardoso de usar modelos de linguagem para escrever — ou sequer rever, ou afinar, ou o que seja. Eu próprio uso travessões com prodigalidade. Fi-lo ainda agora. Voltarei a fazê-lo — sem culpa. Mas desde que li, algures no Substack, alguém comparar o travessão ao piscar-de-olho-de-Replicant do Blade Runner, travessão ao piscar-de-olho-de-Replicant do Blade Runner, tornei-me mais parcimonioso no seu uso. O que é pena, pois gosto muito do travessão.
(E agora uso da correcção enfática). O problema não é a gramática. É a). O problema não é a gramática. É a suspeita.
Quem falou disto foi o João Lameira, argumentista e realizador, autor do Substack Diga-se de passagem. Chamou-lhe “paranóia da escrita”, onde cada frase passa a ser objecto de interrogatório.
Dirão que é um exagero. Que um grande modelo de linguagem é apenas um revisor de bolso. Que a sua utilização consciente e avisada é “uma forma perfeitamente legítima de trabalhar a escrita”. Está bem. Acreditem nisso. Dê-se uma maçã a uma mulher, ela come. Logo a seguir vem o homem. Num abrir e fechar de olhos somos nós, no bolso do ChatGPT, a segurar-lhe as vírgulas.
Poder-se-ia ainda achar que é mesmo assim. É como se faz agora. Como a filha de um amigo que usou o ChatGPT para lhe escrever uma carta no Dia do Pai. Há qualquer coisa de instintivamente repulsivo nisto. Qualquer coisa de abjecto na ideia de delegar numa máquina as tarefas que revelam aquilo que temos de mais humano. Como se fôssemos Christians, de Roxanne, repetindo o que Cyrano nos segreda por detrás dos arbustos.
Daí o sururu quando a japonesa Rie Kudan admitiu ter usado cerca de 5% de contributos de modelos de linguagem no seu novo livro. Disse que lhe permitiu libertar o seu potencial criativo. Não duvido. Mas aprisionou o nosso potencial de leitura.
Há, por isso, quem defenda que o uso destas ferramentas deve ser assinalado em rodapé, tipo tabela nutricional. Sabem que mais? Escritor leal não entrega as fontes. Não nos digam nada. Queremos continuar a ler em sossego.
terça-feira, 27 de janeiro de 2026
Flávio parece um candidato ao conselho de ditadores de Trump
Desde que recebeu a ordem de concorrer às eleições presidenciais, Flávio Bolsonaro já esteve nos Estados Unidos tentando tirar uma foto com Marco Rubio –encontrar-se com Donald Trump era um sonho impossível. Levou um perdido do secretário de Estado, apesar de todo o empenho do irmão Eduardo. Agora viajou a Israel, Bahrein e Emirados Árabes, num movimento de aproximação com a extrema direita internacional.
A excursão de Flávio, no entanto, é bancada pelos cofres públicos brasileiros. No total, ele vai receber US$ 7.900, mais de R$ 42 mil, dinheiro do Senado. O filho 01 aproveitou para se batizar no rio Jordão –pela segunda vez, a primeira não deve ter sido bastante– e tocar no Muro das Lamentações, com quipá na cabeça e oração a Jesus.
Ao voltar da viagem, nos planos de Flávio estão a escolha de seu "Paulo Guedes", seu "Posto Ipiranga", um nome ligado ao mercado financeiro para comandar a economia do país, e o milagre de se tornar eleitoralmente competitivo no Nordeste, região que é tratada nas redes bolsonaristas a pontapés preconceituosos.
A indefinição quanto ao palanque com Tarcísio de Freitas em São Paulo continua. As próximas pesquisas, principalmente as internas, encomendadas pelos partidos, vão decidir se Tarcísio irá optar pela candidatura a presidente ou pela reeleição a governador. Quem conseguir pontuar mais perto de Lula será o escolhido. Até o azarão Ratinho Jr. tem chance.
O cenário no Rio de Janeiro não é menos complicado. Nas eleições municipais, o golpista Alexandre Ramagem –que, indicado por Bolsonaro, recebeu do PL mais de R$ 26 milhões para torrar na campanha– perdeu de lavada para Eduardo Paes, que mira o Palácio Guanabara com apoio de Lula. O certo é que o candidato a governador preferido por Flávio será alguém ao estilo Ramagem: tiro, porrada e bomba.
É uma agenda tão distante do Brasil que mais parece a de um candidato ao conselho de paz –na verdade um covil de autocratas– que o autocrata-mor Trump está empurrando goela abaixo da ONU.
A excursão de Flávio, no entanto, é bancada pelos cofres públicos brasileiros. No total, ele vai receber US$ 7.900, mais de R$ 42 mil, dinheiro do Senado. O filho 01 aproveitou para se batizar no rio Jordão –pela segunda vez, a primeira não deve ter sido bastante– e tocar no Muro das Lamentações, com quipá na cabeça e oração a Jesus.
Ao voltar da viagem, nos planos de Flávio estão a escolha de seu "Paulo Guedes", seu "Posto Ipiranga", um nome ligado ao mercado financeiro para comandar a economia do país, e o milagre de se tornar eleitoralmente competitivo no Nordeste, região que é tratada nas redes bolsonaristas a pontapés preconceituosos.
A indefinição quanto ao palanque com Tarcísio de Freitas em São Paulo continua. As próximas pesquisas, principalmente as internas, encomendadas pelos partidos, vão decidir se Tarcísio irá optar pela candidatura a presidente ou pela reeleição a governador. Quem conseguir pontuar mais perto de Lula será o escolhido. Até o azarão Ratinho Jr. tem chance.
O cenário no Rio de Janeiro não é menos complicado. Nas eleições municipais, o golpista Alexandre Ramagem –que, indicado por Bolsonaro, recebeu do PL mais de R$ 26 milhões para torrar na campanha– perdeu de lavada para Eduardo Paes, que mira o Palácio Guanabara com apoio de Lula. O certo é que o candidato a governador preferido por Flávio será alguém ao estilo Ramagem: tiro, porrada e bomba.
O elefante no texto
O tema não é novo. Novo sou eu, que só agora arranjei vagar para falar sobre ele. Algum dia teria de ser. O ChatGPT apareceu em 2022 e, desde então, sempre que alguém começa a discorrer sobre o assunto, mudo de divisão. Mudei de quarto mental dezenas de vezes, nestes últimos três ou quatro anos.
Chama-se à coisa “inteligência artificial”. Um excesso semântico da mesma família de “fidelidade” nos contratos com empresas de telecomunicações. Uma inteligência exige um alguém, lembrava o John Maus. E alguém, lembro eu, tem mau hálito de manhã e um dia morre. Coisa que não se dá em modelos estatísticos.
Como quase tudo o que nasce sobre o signo da novidade, a conversa é desinspiradora. O entusiasta, munido daquele tipo imprescindível de optimismo que oprime quem ouve, é invariavelmente mais enervante que o pessimista. Mas o pessimista pessimista também não presta grande serviço. Não fosse a vida já fardo suficiente. Ainda por cima ter de levar com mais um velho do restelo a ensaiar teorias do caos a partir da última novidade tecnológica.
Quem me lê sabe do meu cepticismo militante. Daí a opção silenciosa até ao momento.
O impulso surgiu-me ainda há pouco, enquanto lia a crónica do Miguel Esteves Cardoso no Público. O tema era a estupidificação da vida, telemóveis, o défice de atenção promovido pelos argumentistas da Netflix. Mas, quase no fim, surgiu a frase: “A concentração já não é um objectivo — é uma sentença de morte por tédio.”
Aquilo não era só uma frase. Era um animal inteiro a entrar pela sala dentro. Um elefante. Na correção enfática, as orelhas; no travessão, a tromba. Esses dois tiques são uma espécie de caligrafia da máquina. E a máquina adora parecer profunda.
Quem lê muito reconhece logo os sinais. E, ao contrário do que se diz, hoje as pessoas lêem. Passam o dia a ler. Não lêem é livros. Os casos flagrantes são aqueles textos muito redondinhos, tipo ampola lexical, cheios de aforismos prontos a dissolver-se em água. Aparecem-nos em grupos de WhatsApp. Vêm quase sempre do Facebook. São quase sempre apócrifos. E tanto versam sobre factos históricos, como auto-ajuda, André Ventura ou edredões térmicos. A mesma prosa serve para tudo. Como margarina.
Não me interpretem mal. Não estou a acusar o Miguel Esteves Cardoso de usar modelos de linguagem para escrever — ou sequer rever, ou afinar, ou o que seja. Eu próprio uso travessões com prodigalidade. Fi-lo ainda agora. Voltarei a fazê-lo — sem culpa. Mas desde que li, algures no Substack, alguém comparar o travessão ao piscar-de-olho-de-Replicant do Blade Runner, travessão ao piscar-de-olho-de-Replicant do Blade Runner, tornei-me mais parcimonioso no seu uso. O que é pena, pois gosto muito do travessão.
(E agora uso da correcção enfática). O problema não é a gramática. É a). O problema não é a gramática. É a suspeita.
Quem falou disto foi o João Lameira, argumentista e realizador, autor do Substack Diga-se de passagem. Chamou-lhe “paranóia da escrita”, onde cada frase passa a ser objecto de interrogatório.
Dirão que é um exagero. Que um grande modelo de linguagem é apenas um revisor de bolso. Que a sua utilização consciente e avisada é “uma forma perfeitamente legítima de trabalhar a escrita”. Está bem. Acreditem nisso. Dê-se uma maçã a uma mulher, ela come. Logo a seguir vem o homem. Num abrir e fechar de olhos somos nós, no bolso do ChatGPT, a segurar-lhe as vírgulas.
Poder-se-ia ainda achar que é mesmo assim. É como se faz agora. Como a filha de um amigo que usou o ChatGPT para lhe escrever uma carta no Dia do Pai. Há qualquer coisa de instintivamente repulsivo nisto. Qualquer coisa de abjecto na ideia de delegar numa máquina as tarefas que revelam aquilo que temos de mais humano. Como se fôssemos Christians, de Roxanne, repetindo o que Cyrano nos segreda por detrás dos arbustos.
Daí o sururu quando a japonesa Rie Kudan admitiu ter usado cerca de 5% de contributos de modelos de linguagem no seu novo livro. Disse que lhe permitiu libertar o seu potencial criativo. Não duvido. Mas aprisionou o nosso potencial de leitura.
Há, por isso, quem defenda que o uso destas ferramentas deve ser assinalado em rodapé, tipo tabela nutricional. Sabem que mais? Escritor leal não entrega as fontes. Não nos digam nada. Queremos continuar a ler em sossego.
Chama-se à coisa “inteligência artificial”. Um excesso semântico da mesma família de “fidelidade” nos contratos com empresas de telecomunicações. Uma inteligência exige um alguém, lembrava o John Maus. E alguém, lembro eu, tem mau hálito de manhã e um dia morre. Coisa que não se dá em modelos estatísticos.
Como quase tudo o que nasce sobre o signo da novidade, a conversa é desinspiradora. O entusiasta, munido daquele tipo imprescindível de optimismo que oprime quem ouve, é invariavelmente mais enervante que o pessimista. Mas o pessimista pessimista também não presta grande serviço. Não fosse a vida já fardo suficiente. Ainda por cima ter de levar com mais um velho do restelo a ensaiar teorias do caos a partir da última novidade tecnológica.
Quem me lê sabe do meu cepticismo militante. Daí a opção silenciosa até ao momento.
O impulso surgiu-me ainda há pouco, enquanto lia a crónica do Miguel Esteves Cardoso no Público. O tema era a estupidificação da vida, telemóveis, o défice de atenção promovido pelos argumentistas da Netflix. Mas, quase no fim, surgiu a frase: “A concentração já não é um objectivo — é uma sentença de morte por tédio.”
Aquilo não era só uma frase. Era um animal inteiro a entrar pela sala dentro. Um elefante. Na correção enfática, as orelhas; no travessão, a tromba. Esses dois tiques são uma espécie de caligrafia da máquina. E a máquina adora parecer profunda.
Quem lê muito reconhece logo os sinais. E, ao contrário do que se diz, hoje as pessoas lêem. Passam o dia a ler. Não lêem é livros. Os casos flagrantes são aqueles textos muito redondinhos, tipo ampola lexical, cheios de aforismos prontos a dissolver-se em água. Aparecem-nos em grupos de WhatsApp. Vêm quase sempre do Facebook. São quase sempre apócrifos. E tanto versam sobre factos históricos, como auto-ajuda, André Ventura ou edredões térmicos. A mesma prosa serve para tudo. Como margarina.
Não me interpretem mal. Não estou a acusar o Miguel Esteves Cardoso de usar modelos de linguagem para escrever — ou sequer rever, ou afinar, ou o que seja. Eu próprio uso travessões com prodigalidade. Fi-lo ainda agora. Voltarei a fazê-lo — sem culpa. Mas desde que li, algures no Substack, alguém comparar o travessão ao piscar-de-olho-de-Replicant do Blade Runner, travessão ao piscar-de-olho-de-Replicant do Blade Runner, tornei-me mais parcimonioso no seu uso. O que é pena, pois gosto muito do travessão.
(E agora uso da correcção enfática). O problema não é a gramática. É a). O problema não é a gramática. É a suspeita.
Quem falou disto foi o João Lameira, argumentista e realizador, autor do Substack Diga-se de passagem. Chamou-lhe “paranóia da escrita”, onde cada frase passa a ser objecto de interrogatório.
Dirão que é um exagero. Que um grande modelo de linguagem é apenas um revisor de bolso. Que a sua utilização consciente e avisada é “uma forma perfeitamente legítima de trabalhar a escrita”. Está bem. Acreditem nisso. Dê-se uma maçã a uma mulher, ela come. Logo a seguir vem o homem. Num abrir e fechar de olhos somos nós, no bolso do ChatGPT, a segurar-lhe as vírgulas.
Poder-se-ia ainda achar que é mesmo assim. É como se faz agora. Como a filha de um amigo que usou o ChatGPT para lhe escrever uma carta no Dia do Pai. Há qualquer coisa de instintivamente repulsivo nisto. Qualquer coisa de abjecto na ideia de delegar numa máquina as tarefas que revelam aquilo que temos de mais humano. Como se fôssemos Christians, de Roxanne, repetindo o que Cyrano nos segreda por detrás dos arbustos.
Daí o sururu quando a japonesa Rie Kudan admitiu ter usado cerca de 5% de contributos de modelos de linguagem no seu novo livro. Disse que lhe permitiu libertar o seu potencial criativo. Não duvido. Mas aprisionou o nosso potencial de leitura.
Há, por isso, quem defenda que o uso destas ferramentas deve ser assinalado em rodapé, tipo tabela nutricional. Sabem que mais? Escritor leal não entrega as fontes. Não nos digam nada. Queremos continuar a ler em sossego.
Signos sem significado
Alguém me falou de um anúncio institucional que a Unesco publicou há tempos para uma campanha pela alfabetização. Consistia de uma frase escrita de trás para a frente —ideia talvez tirada de "Alice Através do Espelho" (1871), o livro de Lewis Carroll em que, por estar "do lado de lá" do espelho, Alice vê tudo ao contrário, inclusive um poema num livro sobre a mesa. É como um analfabeto vê um texto —uma sequência de símbolos cuja ordem não lhe quer dizer nada. Alice resolve o problema botando o poema diante de um espelho. O mundo, no entanto, exige mais: a alfabetização em massa.
Três pessoas que prestam serviços ao meu redor, incapazes de ler ou escrever, são inspiradores exemplos. Uma manicure fez de seus três filhos um advogado, uma psicóloga e uma assistente social. Um porteiro, homem humilde e boníssimo, fez da filha engenheira, e chorou de comoção na cerimônia de formatura dela. E um encanador, que não sabe dizer a chave do seu Pix (mostra um papelzinho com o número), também formou a filha em direito. Dois desses jovens se beneficiaram de bolsas integrais da PUC.
Como pessoas que não sabem ler conseguem viver numa grande cidade, com sua desordem de cartazes, placas, luminosos, indicações, itinerários e manchetes? É um mundo de signos ocos, para elas sem significado. Que códigos não terão de criar para saber qual ônibus tomar? Como lidar com dinheiro ou cartão? Como receber uma mensagem por celular?
Sempre achei que o momento em que se aprende a ler representa mais que um segundo parto. Talvez seja o verdadeiro ingresso no mundo.
No Brasil, 5,2% da população ainda continuam analfabetos. Parece pouco, mas são mais de 10 milhões de pessoas, o equivalente à população de São Paulo. Some a isto os 29%, entre 15 e 64 anos, que são analfabetos funcionais (leem, mas não entendem uma notícia de jornal ou uma bula de remédio), e veja como o Brasil continua longe do século 21. Por sorte, alguns desses analfabetos sabem de sua condição e não querem que se estenda a seus filhos.
Três pessoas que prestam serviços ao meu redor, incapazes de ler ou escrever, são inspiradores exemplos. Uma manicure fez de seus três filhos um advogado, uma psicóloga e uma assistente social. Um porteiro, homem humilde e boníssimo, fez da filha engenheira, e chorou de comoção na cerimônia de formatura dela. E um encanador, que não sabe dizer a chave do seu Pix (mostra um papelzinho com o número), também formou a filha em direito. Dois desses jovens se beneficiaram de bolsas integrais da PUC.
Como pessoas que não sabem ler conseguem viver numa grande cidade, com sua desordem de cartazes, placas, luminosos, indicações, itinerários e manchetes? É um mundo de signos ocos, para elas sem significado. Que códigos não terão de criar para saber qual ônibus tomar? Como lidar com dinheiro ou cartão? Como receber uma mensagem por celular?
Sempre achei que o momento em que se aprende a ler representa mais que um segundo parto. Talvez seja o verdadeiro ingresso no mundo.
Adeus, María Corina
Se arrependimento matasse, o planeta não estaria com problema de superpopulação. “Non, je ne regrette rien” talvez valha para Édith Piaf como forma de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, sem reconhecer que errou rude nas coisas do coração. Nas questões ideológicas, atire o primeiro termo de ajustamento de conduta quem nunca teve de enfiar a viola no saco e se perguntar onde é que estava com a cabeça quando curtiu, gostou, apoiou ou ajudou a eleger uns e outros.
Há aqueles que nunca enganaram ninguém: Trump, Toffoli, Roberto Jefferson, Edir Macedo, Pablo Marçal, Paulo Maluf, Silas Malafaia. E nem precisa ser lombrosiano: o olhar cúpido, a mitomania, a fala melíflua, a egolatria, o cabelo gomalinado — há sempre algo que levanta a bandeirinha vermelha e avisa: perigo se aproxima.
Acreditei em Lula, quando, em 2003, ele contou:
— Depois que ganhei a eleição, uma televisão fez uma matéria em que aparecia um catador no Rio de Janeiro comendo um pedaço de melancia do lixo. Ele dizia: “Talvez esse seja o último pedaço de melancia do lixo que vou comer, porque o Lula, eleito presidente, vai ajudar a resolver esse problema”.
Lula chorou, e eu lacrimejei junto, feliz em ver um operário na Presidência — alguém que, tendo passado por tantas privações, faria da erradicação da miséria uma das prioridades de seu governo. Em vez disso, vieram o mensalão, o petrolão, o triplex, os pedalinhos, os aloprados.
Bolsonaro não tinha uma única boa referência, mas não era possível que fosse tão estúpido a ponto de... Pois ele foi. E foi com gosto. Às vésperas da eleição de 2018, mandei-lhe por aqui uma carta aberta:
— Conservadorismo não significa atraso, intolerância. (...) Desarme o espírito, aposente os gestos bélicos e contará também com os que não votam em você, mas cultivam essa estranha mania de ter fé no Brasil.
A fé dele era na cloroquina, no poder e na própria família. Errou tanto, e numa escala tão monumental, que o país, entre perder ou deixar de ganhar, deu outra chance ao PT.
Encurtando a história, sou bom em esperanças vãs. Como as que acalentei por Sergio Moro (e combinar camisa preta com gravata preta era um sinal tão claro...). Por Cármen Lúcia (foi do “cala a boca já morreu” à “situação excepcionalíssima” sem corar — e eu achando que ela seria daquelas de negar, quando é fácil ceder). Me encantei com Jordan Peterson e sua crítica ao autoritarismo da esquerda, aos excessos do politicamente correto — hoje olho e vejo um narcisista, igualmente autoritário.
A mais recente aquisição para minha lista de desencantos é a brava oposicionista venezuelana María Corina Machado. A bravura virou sabujice; a oposição, entreguismo; o amor à pátria, à liberdade e à democracia, algo que ainda carece de nome (nunca se tinha chegado tão baixo a ponto de precisar palavra para isso no dicionário).
Lá em casa, quando alguma coisa não tinha volta, minha mãe dizia “Adeus, Corina” —menção a um forró dos anos 60 (“Adeus, Corina, que eu vou embora/Quem parte leva saudade/e quem fica também chora”). Há os que pegam o bonde errado e vão até o ponto final (estão aí, até hoje, os stalinistas, os fascistas...). Eu digo adeus, Corina, Luiz, Jair, Jordan, Sergio, Cármen — e desço no próximo ponto.
Ainda bem que não sou influêncer de nada e não arrastei ninguém comigo nos meus enganos. Mas perdão foi feito pra gente pedir. Nem que seja só a nós mesmos.
Há aqueles que nunca enganaram ninguém: Trump, Toffoli, Roberto Jefferson, Edir Macedo, Pablo Marçal, Paulo Maluf, Silas Malafaia. E nem precisa ser lombrosiano: o olhar cúpido, a mitomania, a fala melíflua, a egolatria, o cabelo gomalinado — há sempre algo que levanta a bandeirinha vermelha e avisa: perigo se aproxima.
Acreditei em Lula, quando, em 2003, ele contou:
— Depois que ganhei a eleição, uma televisão fez uma matéria em que aparecia um catador no Rio de Janeiro comendo um pedaço de melancia do lixo. Ele dizia: “Talvez esse seja o último pedaço de melancia do lixo que vou comer, porque o Lula, eleito presidente, vai ajudar a resolver esse problema”.
Lula chorou, e eu lacrimejei junto, feliz em ver um operário na Presidência — alguém que, tendo passado por tantas privações, faria da erradicação da miséria uma das prioridades de seu governo. Em vez disso, vieram o mensalão, o petrolão, o triplex, os pedalinhos, os aloprados.
Bolsonaro não tinha uma única boa referência, mas não era possível que fosse tão estúpido a ponto de... Pois ele foi. E foi com gosto. Às vésperas da eleição de 2018, mandei-lhe por aqui uma carta aberta:
— Conservadorismo não significa atraso, intolerância. (...) Desarme o espírito, aposente os gestos bélicos e contará também com os que não votam em você, mas cultivam essa estranha mania de ter fé no Brasil.
A fé dele era na cloroquina, no poder e na própria família. Errou tanto, e numa escala tão monumental, que o país, entre perder ou deixar de ganhar, deu outra chance ao PT.
Encurtando a história, sou bom em esperanças vãs. Como as que acalentei por Sergio Moro (e combinar camisa preta com gravata preta era um sinal tão claro...). Por Cármen Lúcia (foi do “cala a boca já morreu” à “situação excepcionalíssima” sem corar — e eu achando que ela seria daquelas de negar, quando é fácil ceder). Me encantei com Jordan Peterson e sua crítica ao autoritarismo da esquerda, aos excessos do politicamente correto — hoje olho e vejo um narcisista, igualmente autoritário.
A mais recente aquisição para minha lista de desencantos é a brava oposicionista venezuelana María Corina Machado. A bravura virou sabujice; a oposição, entreguismo; o amor à pátria, à liberdade e à democracia, algo que ainda carece de nome (nunca se tinha chegado tão baixo a ponto de precisar palavra para isso no dicionário).
Lá em casa, quando alguma coisa não tinha volta, minha mãe dizia “Adeus, Corina” —menção a um forró dos anos 60 (“Adeus, Corina, que eu vou embora/Quem parte leva saudade/e quem fica também chora”). Há os que pegam o bonde errado e vão até o ponto final (estão aí, até hoje, os stalinistas, os fascistas...). Eu digo adeus, Corina, Luiz, Jair, Jordan, Sergio, Cármen — e desço no próximo ponto.
Ainda bem que não sou influêncer de nada e não arrastei ninguém comigo nos meus enganos. Mas perdão foi feito pra gente pedir. Nem que seja só a nós mesmos.
'Amo-te, querido eu'
Assim mesmo, sem inibições ideológicas: ai ni laoji (“amo-te, querido eu”)! Foi uma das expressões mais populares de 2025 entre os jovens internautas chineses, apurou a Sixth Tone, uma publicação online da empresa municipal Shanghai United Media Group. “Ao contrário das gerações mais velhas”, a geração Z (nascida nos primeiros anos do século XXI) “está a optar pelo amor-próprio” e pelo “individualismo”, comentou na semana passada um analista da publicação.
Segundo a mesma fonte, vídeos sob o tema “um primeiro brinde a mim próprio” exibidos desde agosto no Douyin, o TikTok na China, atraíram mais de mil milhões de visionamentos.
O diagnóstico do historiador Xu Jilin confirmou-se: para as novas gerações chinesas, “ideais abstratos e grandes desígnios nacionais já não são importantes”, afirmou há um ano aquele professor da East China Normal University, em Xangai.
Um comentário publicado no Diário do Povo, o órgão central do Partido Comunista Chinês, descreveu o fenómeno como “uma ligeira mudança nos valores sociais” e uma chamada de atenção para os “sentimentos individuais”. Parece mais do que uma “ligeira mudança”.
Oficialmente, o coletivismo ainda é “um importante símbolo da civilização espiritual socialista” e “servir o povo” continua a ser uma divisa do governo. Nas escolas, todas as crianças são ensinadas a “amar o partido, o país e o povo”.
Mais de 200 milhões de chineses são filhos únicos. Fruto da política “um casal, um filho” imposta até 2016, eles cresceram como xiao huangdi (pequenos imperadores), o centro das atenções – e das expectativas – de dois pais e quatro avós. “Afastando-se das redes familiares e de vizinhança outrora próximas, eles agora desfrutam de maior liberdade de escolha – mas também enfrentam a vida por conta própria. Momentos de solidão ou desânimo vêm acompanhados da sensação de que não há ninguém em quem se apoiar”, diz a Sixth Tone. “É neste contexto que ideias como ‘amo-te, querido eu’ ganharam popularidade.”
A China, entretanto, converteu-se à economia de mercado e como escreveu Hu Anyan no livro Entrego Encomendas em Pequim, a sociedade tornou-se “intensamente competitiva”. Cerca de 12 milhões de novos licenciados saem anualmente das universidades chinesas. Apesar do elevado crescimento económico do país, não é fácil encontrar um bom emprego. Não contando com os estudantes, em novembro o índice oficial de desemprego entre os jovens dos 16 aos 24 anos era de 16,9% – mais do triplo da média nacional (5,1%).
Nascido em 1957, oito anos após a fundação da República Popular da China, Xu Jilin é especialista em História Intelectual Chinesa nos séculos XX e XXI. Assume-se abertamente como “liberal”, o que o distingue das outras duas grandes correntes intelectuais do seu país: a chamada Nova Esquerda e os neoconfucianos. Numa entrevista concedida em janeiro de 2025, salientou: “As gerações mais jovens já não se unem em torno de ideais abstratos. Nos vários movimentos sociais nos quais estão envolvidas, o seu foco está claramente nos direitos individuais específicos. Os seus objetivos são limitados, concretos e ligados à vida pessoal e aos interesses próprios.”
Segundo a mesma fonte, vídeos sob o tema “um primeiro brinde a mim próprio” exibidos desde agosto no Douyin, o TikTok na China, atraíram mais de mil milhões de visionamentos.
O diagnóstico do historiador Xu Jilin confirmou-se: para as novas gerações chinesas, “ideais abstratos e grandes desígnios nacionais já não são importantes”, afirmou há um ano aquele professor da East China Normal University, em Xangai.
Um comentário publicado no Diário do Povo, o órgão central do Partido Comunista Chinês, descreveu o fenómeno como “uma ligeira mudança nos valores sociais” e uma chamada de atenção para os “sentimentos individuais”. Parece mais do que uma “ligeira mudança”.
Oficialmente, o coletivismo ainda é “um importante símbolo da civilização espiritual socialista” e “servir o povo” continua a ser uma divisa do governo. Nas escolas, todas as crianças são ensinadas a “amar o partido, o país e o povo”.
Mais de 200 milhões de chineses são filhos únicos. Fruto da política “um casal, um filho” imposta até 2016, eles cresceram como xiao huangdi (pequenos imperadores), o centro das atenções – e das expectativas – de dois pais e quatro avós. “Afastando-se das redes familiares e de vizinhança outrora próximas, eles agora desfrutam de maior liberdade de escolha – mas também enfrentam a vida por conta própria. Momentos de solidão ou desânimo vêm acompanhados da sensação de que não há ninguém em quem se apoiar”, diz a Sixth Tone. “É neste contexto que ideias como ‘amo-te, querido eu’ ganharam popularidade.”
A China, entretanto, converteu-se à economia de mercado e como escreveu Hu Anyan no livro Entrego Encomendas em Pequim, a sociedade tornou-se “intensamente competitiva”. Cerca de 12 milhões de novos licenciados saem anualmente das universidades chinesas. Apesar do elevado crescimento económico do país, não é fácil encontrar um bom emprego. Não contando com os estudantes, em novembro o índice oficial de desemprego entre os jovens dos 16 aos 24 anos era de 16,9% – mais do triplo da média nacional (5,1%).
Nascido em 1957, oito anos após a fundação da República Popular da China, Xu Jilin é especialista em História Intelectual Chinesa nos séculos XX e XXI. Assume-se abertamente como “liberal”, o que o distingue das outras duas grandes correntes intelectuais do seu país: a chamada Nova Esquerda e os neoconfucianos. Numa entrevista concedida em janeiro de 2025, salientou: “As gerações mais jovens já não se unem em torno de ideais abstratos. Nos vários movimentos sociais nos quais estão envolvidas, o seu foco está claramente nos direitos individuais específicos. Os seus objetivos são limitados, concretos e ligados à vida pessoal e aos interesses próprios.”
segunda-feira, 26 de janeiro de 2026
A desgraça
A maldade e a vilania, o mal e a injustiça, são comuns, mas não são um estado de graça. São uma desgraça!
Uma receita para o Brasil navegar em meio à anarquia internacional de Trump
Passado um ano de política externa de Donald Trump, já temos elementos mais do que suficientes para traçar uma estratégia de como o Brasil deve navegar na nova anarquia internacional. Os EUA passam a concentrar sua energia geopolítica nas Américas. Significa que os países da região precisam dispor de meios dissuasórios para conter intervenções americanas, que combinam pressão econômica e ameaça militar. Trata-se de elevar o custo dessas imposições para assegurar estabilidade e autonomia.
O Brasil precisa exibir sólidos fundamentos econômicos para fazer frente às turbulências que sanções comerciais e financeiras, impostas a nós ou a outros países, podem ocasionar. A gestão precisa melhorar e a questão fiscal, ser equacionada, de modo a aumentar a atratividade dos títulos brasileiros mesmo com redução de juros e a dar recursos para o Estado cumprir seus papéis.
As medidas listadas aqui soam como necessidades crônicas, porque a superação das fragilidades econômicas e de segurança de um país exige arrumar a casa. O mesmo debate, com nuances, ocorre na Europa, Canadá, Índia, Japão, Coreia do Sul, Austrália.
O acordo Mercosul-União Europeia é um incentivo para investirmos na competitividade da indústria, reformarmos o ambiente de negócios e baixarmos as barreiras comerciais. A segurança nacional vive uma emergência. A inteligência, nos âmbitos da Abin, Polícia Federal e Ministérios Públicos federal e de alguns Estados, tem se aprimorado. Mas vamos continuar enxugando gelo se a corrupção nas polícias e no Judiciário não for atacada.
Do orçamento de R$ 142 bilhões da Defesa, em 2025, R$ 33 bilhões foram para salários, R$ 37 bilhões para aposentadorias e R$ 28 bilhões para pensões. O que as viúvas e filhas de militares receberam em um ano é quase o mesmo valor que a Defesa pretende gastar em cinco anos com modernização: R$ 3o bilhões. A folha de pagamento responde por 77% do orçamento. Nos EUA, essa fatia é de 22%.
A corrupção e os privilégios obscenos no setor público, em todas as esferas, não podem continuar. A imprensa, em especial o Estadão, tem feito um trabalho corajoso de expor os abusos. A vergonha pública não parece servir mais de contenção. Então, os eleitores precisam se mobilizar para garantir que os políticos coniventes com a drenagem dos recursos sejam castigados nas urnas. Se não nos organizarmos, estamos fadados a dois destinos igualmente sombrios: entrar em embates autodestrutivos com os EUA ou nos tornarmos subservientes, como a Argentina de Javier Milei e o Paraguai de Santiago Peña.
O Brasil precisa exibir sólidos fundamentos econômicos para fazer frente às turbulências que sanções comerciais e financeiras, impostas a nós ou a outros países, podem ocasionar. A gestão precisa melhorar e a questão fiscal, ser equacionada, de modo a aumentar a atratividade dos títulos brasileiros mesmo com redução de juros e a dar recursos para o Estado cumprir seus papéis.
As medidas listadas aqui soam como necessidades crônicas, porque a superação das fragilidades econômicas e de segurança de um país exige arrumar a casa. O mesmo debate, com nuances, ocorre na Europa, Canadá, Índia, Japão, Coreia do Sul, Austrália.
O acordo Mercosul-União Europeia é um incentivo para investirmos na competitividade da indústria, reformarmos o ambiente de negócios e baixarmos as barreiras comerciais. A segurança nacional vive uma emergência. A inteligência, nos âmbitos da Abin, Polícia Federal e Ministérios Públicos federal e de alguns Estados, tem se aprimorado. Mas vamos continuar enxugando gelo se a corrupção nas polícias e no Judiciário não for atacada.
Do orçamento de R$ 142 bilhões da Defesa, em 2025, R$ 33 bilhões foram para salários, R$ 37 bilhões para aposentadorias e R$ 28 bilhões para pensões. O que as viúvas e filhas de militares receberam em um ano é quase o mesmo valor que a Defesa pretende gastar em cinco anos com modernização: R$ 3o bilhões. A folha de pagamento responde por 77% do orçamento. Nos EUA, essa fatia é de 22%.
A corrupção e os privilégios obscenos no setor público, em todas as esferas, não podem continuar. A imprensa, em especial o Estadão, tem feito um trabalho corajoso de expor os abusos. A vergonha pública não parece servir mais de contenção. Então, os eleitores precisam se mobilizar para garantir que os políticos coniventes com a drenagem dos recursos sejam castigados nas urnas. Se não nos organizarmos, estamos fadados a dois destinos igualmente sombrios: entrar em embates autodestrutivos com os EUA ou nos tornarmos subservientes, como a Argentina de Javier Milei e o Paraguai de Santiago Peña.
Cara de pau metaforiza agora cinismo como política de Estado
Embora o início da conhecida marchinha carnavalesca seja "Eu sou o pirata da perna de pau...", é oportuno substituir perna por cara no contexto político onde reinam Donald Trump e uma direita sem escrúpulos e recato. No cinema americano, cara de pau era Fred McMurray, uma expressão invariável ao longo de qualquer drama: contrapartida a Victor Mature e suas contorções faciais intensas, paródia de esforço fisiológico a cada cena. Cara de pau metaforiza agora cinismo como política de Estado: "Quero a Groenlândia porque não me deram o Prêmio Nobel".
Trump sintetiza todos os casos. Na cara, inova com boca chupa-ovo, algo natural, não estudado como as caretas oratórias de Hitler, coreografadas por Goebbels. O Führer comparece, porque seu avatar o reprisa em aspirações geopolíticas, apenas trocando ocupação territorial por anexação comercial: protetorados "oleogárquicos". Além disso, tenta evitar a desdolarização do mercado comercial e financeiro, barrando outras moedas fortes. Sem diplomacia, "meu limite é a minha moralidade", a guerra cínica faz história.
Nessa nova modalidade de geopolítica ou de "geonegócio", cara de pau é justa designação para o imperialismo travestido de pirataria, com precedente histórico: um pirata americano, William Walker, foi presidente imperial da Nicarágua (1856-57). As invasões nazistas ainda tinham um pano de fundo, a doutrina do "Lebensraum", espaço vital almejado pelo Terceiro Reich. Agora, na apoteose de um poder ilimitado, ideias não suscitam adesões. Pirata não tem ideologia, tem bandeira. A violência auto justifica-se.
Tanto que o sequestro de Maduro, garantido pela mais poderosa frota de flibusteiros que já navegou no Caribe, não tem consistência jurídica nem moral: narcotraficantes e ditadores sanguinários convivem bem com os americanos. Vai-se Maduro, ficam o chavismo e a miséria popular. Os que foram deixados, sátrapas, são iguais ou piores: corruptos, torturadores, assassinos. Já caindo de podre, o bode expiatório foi sacrificado pelos seus. Primeiro golpe de Estado cara de pau.
Mas não o primeiro a expor a impotência do Direito Internacional. Trump diz "o Direito sou eu", a ONU já era. Clinton, Obama, Biden sempre o comprovaram, apenas longe da América do Sul. Juntos, poderiam fazer um cover dos "Secos & Molhados", cantando "rompi tratados / traí os ritos..." Mas o trumpista "vamos dirigir a Venezuela e ganhar mais dinheiro" é obscenidade que deixaria vexado o próprio Hitler, mais afeito a sangue vermelho (cimento ideológico do nazifascismo) do que negro, extraído da terra. O neoextrativismo americano desconhece fronteiras soberanas. E no estilo da pirataria, prospera em intimidações e ataques pontuais.
Daí o estúpido balido jubiloso das ovelhas que, legitimadas pela cara de pau, se desembaraçam das simulações de nacionalismo, patriotismo, dignidade e o quê mais. Acredite quem quiser: na euforia bolsonarista, marmanjos crescidos, governadores de estados, deliram com invasão pirata. Viria aquela Força Delta com vistosos uniformes do Império e enorme artilharia fálica nas mãos, suspiram, a mesma que Trump acompanhou pela televisão, capturando Maduro. Mas esses pelo menos pintam a cara antes do crime.
Trump sintetiza todos os casos. Na cara, inova com boca chupa-ovo, algo natural, não estudado como as caretas oratórias de Hitler, coreografadas por Goebbels. O Führer comparece, porque seu avatar o reprisa em aspirações geopolíticas, apenas trocando ocupação territorial por anexação comercial: protetorados "oleogárquicos". Além disso, tenta evitar a desdolarização do mercado comercial e financeiro, barrando outras moedas fortes. Sem diplomacia, "meu limite é a minha moralidade", a guerra cínica faz história.
Nessa nova modalidade de geopolítica ou de "geonegócio", cara de pau é justa designação para o imperialismo travestido de pirataria, com precedente histórico: um pirata americano, William Walker, foi presidente imperial da Nicarágua (1856-57). As invasões nazistas ainda tinham um pano de fundo, a doutrina do "Lebensraum", espaço vital almejado pelo Terceiro Reich. Agora, na apoteose de um poder ilimitado, ideias não suscitam adesões. Pirata não tem ideologia, tem bandeira. A violência auto justifica-se.
Tanto que o sequestro de Maduro, garantido pela mais poderosa frota de flibusteiros que já navegou no Caribe, não tem consistência jurídica nem moral: narcotraficantes e ditadores sanguinários convivem bem com os americanos. Vai-se Maduro, ficam o chavismo e a miséria popular. Os que foram deixados, sátrapas, são iguais ou piores: corruptos, torturadores, assassinos. Já caindo de podre, o bode expiatório foi sacrificado pelos seus. Primeiro golpe de Estado cara de pau.
Mas não o primeiro a expor a impotência do Direito Internacional. Trump diz "o Direito sou eu", a ONU já era. Clinton, Obama, Biden sempre o comprovaram, apenas longe da América do Sul. Juntos, poderiam fazer um cover dos "Secos & Molhados", cantando "rompi tratados / traí os ritos..." Mas o trumpista "vamos dirigir a Venezuela e ganhar mais dinheiro" é obscenidade que deixaria vexado o próprio Hitler, mais afeito a sangue vermelho (cimento ideológico do nazifascismo) do que negro, extraído da terra. O neoextrativismo americano desconhece fronteiras soberanas. E no estilo da pirataria, prospera em intimidações e ataques pontuais.
Daí o estúpido balido jubiloso das ovelhas que, legitimadas pela cara de pau, se desembaraçam das simulações de nacionalismo, patriotismo, dignidade e o quê mais. Acredite quem quiser: na euforia bolsonarista, marmanjos crescidos, governadores de estados, deliram com invasão pirata. Viria aquela Força Delta com vistosos uniformes do Império e enorme artilharia fálica nas mãos, suspiram, a mesma que Trump acompanhou pela televisão, capturando Maduro. Mas esses pelo menos pintam a cara antes do crime.
Por que o ICE deve ser compreendido como terrorista?
Em 7 de janeiro de 2026, Renee Nicole Good – mãe, poeta e residente de Minnesota, de 37 anos – foi morta a tiros por um agente do ICE em Minneapolis. Good não era uma criminosa violenta; de acordo com múltiplos relatos de testemunhas e vídeos, ela estava desarmada dentro de seu veículo durante uma grande operação federal de fiscalização migratória quando um agente disparou várias vezes, a matando. Pessoas que denunciam e pessoas que defendem esse assassinato recorrem ao termo “terrorismo doméstico” para explicar essa situação tenebrosa.
O terrorismo doméstico consiste em atos violentos e criminosos cometidos por indivíduos ou grupos para promover objetivos ideológicos; é impertinente debater quem, nesse cenário, é o verdadeiro terrorista. Good resistia pacificamente às ações de agentes de uma instituição ideológica que comete crimes violentos para instalar o medo em contingentes marginalizados da sociedade americana – e enfrentou a fúria letal deles.
A morte de Good é um exemplo extremo de como agências federais com poderes amplos e vagamente delimitados podem empregar força letal contra populações civis sem responsabilização transparente – e de por que qualquer cidadão sensato afirma que essas agências operam de maneiras que aterrorizam comunidades. Com razão, sua morte desencadeou protestos generalizados nos Estados Unidos.
O papel do ICE na sociedade contemporânea dos Estados Unidos é comparável a diversas formas de policiamento estatal cuja violência é estruturalmente tolerada e normalizada, como a Polícia Militar nas favelas brasileiras e as Forças de Defesa de Israel (IDF) na Palestina. Essas instituições operam com autoridade expansiva, pouca supervisão civil e utilizam força letal de maneira desproporcional contra comunidades marginalizadas, contribuindo para padrões de medo e repressão, e não de segurança.
No Rio de Janeiro, operações da Polícia Militar em favelas resultam em massacres recorrentes, com disparos indiscriminados e alto número de vítimas civis. Essas operações equivalem a punições coletivas que aterrorizam moradores e afetam de forma desproporcional populações negras e pobres. Na Palestina, a ocupação, a proteção a colonos e as políticas de bloqueio conduzidas pela IDF produziram ampla destruição e numerosas mortes de civis, muitas vezes sem mecanismos transparentes de responsabilização, reforçando assimetrias estruturais de poder e aterrorizando comunidades.
Esse padrão indica não eventos isolados, mas uma violência sistêmica inerente às estruturas de policiamento. O ICE, uma agência federal responsável pelo controle migratório, realiza operações muito além da fronteira dos EUA e emprega táticas agressivas que instilam medo, causam ferimentos e resultam em mortes em comunidades imigrantes – e, como se vê, muito além delas.
O terrorismo doméstico consiste em atos violentos e criminosos cometidos por indivíduos ou grupos para promover objetivos ideológicos; é impertinente debater quem, nesse cenário, é o verdadeiro terrorista. Good resistia pacificamente às ações de agentes de uma instituição ideológica que comete crimes violentos para instalar o medo em contingentes marginalizados da sociedade americana – e enfrentou a fúria letal deles.
A morte de Good é um exemplo extremo de como agências federais com poderes amplos e vagamente delimitados podem empregar força letal contra populações civis sem responsabilização transparente – e de por que qualquer cidadão sensato afirma que essas agências operam de maneiras que aterrorizam comunidades. Com razão, sua morte desencadeou protestos generalizados nos Estados Unidos.
O papel do ICE na sociedade contemporânea dos Estados Unidos é comparável a diversas formas de policiamento estatal cuja violência é estruturalmente tolerada e normalizada, como a Polícia Militar nas favelas brasileiras e as Forças de Defesa de Israel (IDF) na Palestina. Essas instituições operam com autoridade expansiva, pouca supervisão civil e utilizam força letal de maneira desproporcional contra comunidades marginalizadas, contribuindo para padrões de medo e repressão, e não de segurança.
No Rio de Janeiro, operações da Polícia Militar em favelas resultam em massacres recorrentes, com disparos indiscriminados e alto número de vítimas civis. Essas operações equivalem a punições coletivas que aterrorizam moradores e afetam de forma desproporcional populações negras e pobres. Na Palestina, a ocupação, a proteção a colonos e as políticas de bloqueio conduzidas pela IDF produziram ampla destruição e numerosas mortes de civis, muitas vezes sem mecanismos transparentes de responsabilização, reforçando assimetrias estruturais de poder e aterrorizando comunidades.
Esse padrão indica não eventos isolados, mas uma violência sistêmica inerente às estruturas de policiamento. O ICE, uma agência federal responsável pelo controle migratório, realiza operações muito além da fronteira dos EUA e emprega táticas agressivas que instilam medo, causam ferimentos e resultam em mortes em comunidades imigrantes – e, como se vê, muito além delas.
Defensores do ICE enfatizam seu mandato legal para aplicar as leis de imigração. Oponentes argumentam que, quando agências de fiscalização utilizam força avassaladora sem responsabilização, o efeito é o terrorismo de Estado – isto é, o uso sistemático da violência por agentes governamentais para controlar, intimidar ou reprimir populações civis. Essa compreensão chama atenção para o impacto aterrorizante sobre comunidades que vivem sob a ameaça constante de uma força descontrolada.
O assassinato de Renee Good se tornou um ponto de inflexão porque ocorreu durante uma operação que vinha aterrorizando moradores de Minneapolis por semanas. Assim como a militarização policial nas favelas brasileiras é criticada por fomentar um clima de medo e violência extrajudicial, as operações da IDF resultam em mortes de civis que traumatizam a população palestina. Enquanto isso, as operações domésticas do ICE, conduzidas com supervisão local limitada, produzem terror e trauma entre imigrantes e o público em geral.
A National Alliance Against Racist and Political Repression (NAARPR) defende estruturas que enfrentam diretamente essa ameaça de terror ao colocar a supervisão civil e a ‘responsabilização’ (combata à impunidade) no centro do policiamento e da fiscalização. Uma supervisão real exige participação comunitária, transparência e poder para moldar políticas e disciplinar as forças de segurança.
A Campanha pelo Controle Comunitário da Polícia da NAARPR exemplifica essa abordagem ao exigir que as comunidades – e não apenas os conselhos internos dos departamentos – tenham autoridade para supervisionar operações policiais, orçamentos e processos disciplinares. Ao democratizar o controle da segurança pública, esses movimentos buscam reduzir a violência e ampliar a responsabilização, garantindo que as agências não operem como forças de coerção sem regulação.
Grupos como o Eye on Surveillance integram a infraestrutura da sociedade civil que pressiona pela existência dessa supervisão, exigindo transparência das polícias e dos operadores de vigilância, e conectando comunidades a seus direitos e a iniciativas de política pública capazes de criar estruturas formais de responsabilização.
Essa rede pesquisa como sistemas de vigilância, do reconhecimento facial ao ‘policiamento preditivo,’ são implantados sem consentimento público e sem transparência adequada, frequentemente direcionados a populações vulneráveis à violência policial.
Sejam as operações do ICE, as operações policiais militarizadas no Brasil ou as tecnologias de vigilância utilizadas pela IDF e globalmente, a dinâmica subjacente é a mesma: agências equipadas com poder estatal e recursos tecnológicos agem sem consentimento comunitário, produzindo terror. Mecanismos de supervisão civil e transparência enfrentam isso ao submeter o policiamento e a vigilância ao controle público, em vez de deixá-los nas mãos de burocracias de fiscalização isoladas.
De Minneapolis ao Rio de Janeiro, até Gaza e zonas de conflito ao redor do mundo, a violência de Estado sob o pretexto da segurança cria ambientes em que civis são aterrorizados pelas próprias forças que deveriam protegê-los.
Reconhecer que agências como o ICE e forças policiais militarizadas podem agir de maneiras que aterrorizam comunidades não é mero recurso retórico; é um chamado à transformação estrutural. Defensores do controle comunitário da polícia e da supervisão civil oferecem alternativas concretas ao poder estatal descontrolado, exigindo transparência, responsabilização e governança democrática do policiamento.
Se quisermos viver sem o medo da força estatal arbitrária e letal, as estruturas de supervisão devem estar enraizadas nas próprias comunidades, com poder para moldar políticas, impor disciplina e assegurar que a fiscalização sirva à segurança pública – e não à repressão e ao terror.
O assassinato de Renee Good se tornou um ponto de inflexão porque ocorreu durante uma operação que vinha aterrorizando moradores de Minneapolis por semanas. Assim como a militarização policial nas favelas brasileiras é criticada por fomentar um clima de medo e violência extrajudicial, as operações da IDF resultam em mortes de civis que traumatizam a população palestina. Enquanto isso, as operações domésticas do ICE, conduzidas com supervisão local limitada, produzem terror e trauma entre imigrantes e o público em geral.
A National Alliance Against Racist and Political Repression (NAARPR) defende estruturas que enfrentam diretamente essa ameaça de terror ao colocar a supervisão civil e a ‘responsabilização’ (combata à impunidade) no centro do policiamento e da fiscalização. Uma supervisão real exige participação comunitária, transparência e poder para moldar políticas e disciplinar as forças de segurança.
A Campanha pelo Controle Comunitário da Polícia da NAARPR exemplifica essa abordagem ao exigir que as comunidades – e não apenas os conselhos internos dos departamentos – tenham autoridade para supervisionar operações policiais, orçamentos e processos disciplinares. Ao democratizar o controle da segurança pública, esses movimentos buscam reduzir a violência e ampliar a responsabilização, garantindo que as agências não operem como forças de coerção sem regulação.
Grupos como o Eye on Surveillance integram a infraestrutura da sociedade civil que pressiona pela existência dessa supervisão, exigindo transparência das polícias e dos operadores de vigilância, e conectando comunidades a seus direitos e a iniciativas de política pública capazes de criar estruturas formais de responsabilização.
Essa rede pesquisa como sistemas de vigilância, do reconhecimento facial ao ‘policiamento preditivo,’ são implantados sem consentimento público e sem transparência adequada, frequentemente direcionados a populações vulneráveis à violência policial.
Sejam as operações do ICE, as operações policiais militarizadas no Brasil ou as tecnologias de vigilância utilizadas pela IDF e globalmente, a dinâmica subjacente é a mesma: agências equipadas com poder estatal e recursos tecnológicos agem sem consentimento comunitário, produzindo terror. Mecanismos de supervisão civil e transparência enfrentam isso ao submeter o policiamento e a vigilância ao controle público, em vez de deixá-los nas mãos de burocracias de fiscalização isoladas.
De Minneapolis ao Rio de Janeiro, até Gaza e zonas de conflito ao redor do mundo, a violência de Estado sob o pretexto da segurança cria ambientes em que civis são aterrorizados pelas próprias forças que deveriam protegê-los.
Reconhecer que agências como o ICE e forças policiais militarizadas podem agir de maneiras que aterrorizam comunidades não é mero recurso retórico; é um chamado à transformação estrutural. Defensores do controle comunitário da polícia e da supervisão civil oferecem alternativas concretas ao poder estatal descontrolado, exigindo transparência, responsabilização e governança democrática do policiamento.
Se quisermos viver sem o medo da força estatal arbitrária e letal, as estruturas de supervisão devem estar enraizadas nas próprias comunidades, com poder para moldar políticas, impor disciplina e assegurar que a fiscalização sirva à segurança pública – e não à repressão e ao terror.
De volta às veias abertas?
Como em toda época de terremoto social, o mundo está de ponta-cabeça. Ninguém, nem mesmo os adversários mais encarniçados de Donald Trump, pode mais lhe negar o caráter rupturista, especialmente neste segundo mandato, vivido por toda parte como tumulto e imprevisibilidade. O experimento “iliberal”, neologismo criado na Hungria de Viktor Orbán, em 2014, para marcar a dissociação autoritária entre democracia e liberalismo, instalou-se de vez no coração do sistema, e daí se espalha agressivamente por todo o Hemisfério Ocidental. Descontada a imprevisibilidade indecorosa dos mapas, é neste hemisfério que estamos politicamente situados – as Américas no seu conjunto e, talvez, a Europa.
Em toda e qualquer ruptura subitamente ficam para trás, deixando só um tênue rastro, as antigas maneiras de pensar. Há apenas alguns anos, o ex-presidente Joseph Biden, um liberal no sentido norte-americano, tentava formular diversamente o conflito global. Ele consistiria na acirrada competição entre regimes democráticos e não democráticos, à frente dos quais a China, depois de interrompida sua relativa liberalização política na segunda década do século 21. A superioridade de uns sobre os outros não se definiria só em termos de bem-estar material, mas também de afirmação de sociedades mais abertas e inclusivas.
O horizonte proposto pelo presidente Trump é de outra natureza. Por um lado, segundo ele, seu país deve renunciar ao papel de Atlas a suportar nos ombros, como antes, a ordem global em nome de princípios liberais. Por outro, bem vistas as coisas, há no argumento trumpista uma nada oculta apologia dos homens fortes e das respectivas autocracias. No plano estritamente pessoal, aliás, são mais do que evidentes as afinidades eletivas entre Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, para não mencionar autocratas menos votados.
Manifestações retóricas à parte, os Estados Unidos passaram a abrir mão do soft power do século americano, que terá se estendido por muitas décadas até a grande recessão de 2008 e suas devastadoras consequências. A cultura daquele país, agora, deve perder seu caráter expansivo e se fechar no louvor paroquial às glórias e aos heróis do passado, considerados pelo metro de um nacionalismo branco e cristão que recorda formas de fascismo.
A identidade “ocidental” proclamada é a negação do Ocidente e dos elementos de universalidade que este último, no seu conjunto, soube ou pôde construir. A contaminação com outras culturas ou civilizações não é mais bemvinda. Não se trata de ordenar razoavelmente a imigração, mas de impedi-la com o objetivo de barrar uma suposta “somalização” – termo de abjeta inspiração racista forjado descaradamente nos círculos dirigentes.
Sintomático, em todo este contexto, o pressuposto de que em nosso tempo a unidade política fundamental é – deve ser – o Estado-nação. O mitológico Atlas, aqui, corrói e corrompe os fundamentos de uma obra que não é só sua, mas, de fato, coletiva, erguida sobre os escombros de grandes conflitos.
Transnacional por natureza, tal obra pretendia limitar a soberania absoluta dos Estados, introduzindo duas novidades capitais. Primeiro, o veto às anexações de território, com fins expansionistas; segundo, a construção paulatina de uma rede de órgãos e instâncias dedicados à promoção dos direitos humanos em cada uma das entidades nacionais. Se quiser, um embrião de sociedade civil internacional, a se movimentar segundo a máxima de que todo poder corrompe e, por isso, deve ser limitado e condicionado.
O programa essencial do trumpismo consiste em destruir esse embrião e, simultaneamente, arremeter contra a própria sociedade civil interna, enfraquecendo os clássicos mecanismos de controle e participação. O resultado pretendido é a disseminação das formas autoritárias de mando em cada realidade nacional, bem como a perigosa competição entre Estados-nação autocraticamente constituídos. E, ao proclamar com brutalidade a consigna “America first”, a certeza é de que, no Hemisfério Ocidental, a primazia caberá, por uma espécie de lei natural darwiniana, ao país econômica e militarmente mais forte.
A União Europeia, por isso, é uma indesejada entidade supranacional a ser cancelada e conduzida de volta aos velhos nacionalismos, responsáveis por séculos de derramamento de sangue. Para esta tarefa, de resto, se convocam e incentivam os tais “partidos patrióticos” da extrema direita, hoje em plena ofensiva eleitoral.
A América Latina, por seu turno, deve se contentar com ser objeto do “corolário Trump” à Doutrina Monroe, destituída de qualquer sentido anticolonial que possa ter tido no passado. Como demonstrado na Venezuela pós-sequestro do ditador, não é impossível que a vontade imperial se combine, sem maiores complicações, com o mesmo regime de antes, simbolicamente decapitado. Se tudo isso faz sentido, só uma resposta profundamente democrática – e cosmopolita, à altura do tempo – impedirá que voltemos a empregar, ainda com mais rigor, a metáfora das veias abertas do nosso continente.
Em toda e qualquer ruptura subitamente ficam para trás, deixando só um tênue rastro, as antigas maneiras de pensar. Há apenas alguns anos, o ex-presidente Joseph Biden, um liberal no sentido norte-americano, tentava formular diversamente o conflito global. Ele consistiria na acirrada competição entre regimes democráticos e não democráticos, à frente dos quais a China, depois de interrompida sua relativa liberalização política na segunda década do século 21. A superioridade de uns sobre os outros não se definiria só em termos de bem-estar material, mas também de afirmação de sociedades mais abertas e inclusivas.
O horizonte proposto pelo presidente Trump é de outra natureza. Por um lado, segundo ele, seu país deve renunciar ao papel de Atlas a suportar nos ombros, como antes, a ordem global em nome de princípios liberais. Por outro, bem vistas as coisas, há no argumento trumpista uma nada oculta apologia dos homens fortes e das respectivas autocracias. No plano estritamente pessoal, aliás, são mais do que evidentes as afinidades eletivas entre Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, para não mencionar autocratas menos votados.
Manifestações retóricas à parte, os Estados Unidos passaram a abrir mão do soft power do século americano, que terá se estendido por muitas décadas até a grande recessão de 2008 e suas devastadoras consequências. A cultura daquele país, agora, deve perder seu caráter expansivo e se fechar no louvor paroquial às glórias e aos heróis do passado, considerados pelo metro de um nacionalismo branco e cristão que recorda formas de fascismo.
A identidade “ocidental” proclamada é a negação do Ocidente e dos elementos de universalidade que este último, no seu conjunto, soube ou pôde construir. A contaminação com outras culturas ou civilizações não é mais bemvinda. Não se trata de ordenar razoavelmente a imigração, mas de impedi-la com o objetivo de barrar uma suposta “somalização” – termo de abjeta inspiração racista forjado descaradamente nos círculos dirigentes.
Sintomático, em todo este contexto, o pressuposto de que em nosso tempo a unidade política fundamental é – deve ser – o Estado-nação. O mitológico Atlas, aqui, corrói e corrompe os fundamentos de uma obra que não é só sua, mas, de fato, coletiva, erguida sobre os escombros de grandes conflitos.
Transnacional por natureza, tal obra pretendia limitar a soberania absoluta dos Estados, introduzindo duas novidades capitais. Primeiro, o veto às anexações de território, com fins expansionistas; segundo, a construção paulatina de uma rede de órgãos e instâncias dedicados à promoção dos direitos humanos em cada uma das entidades nacionais. Se quiser, um embrião de sociedade civil internacional, a se movimentar segundo a máxima de que todo poder corrompe e, por isso, deve ser limitado e condicionado.
O programa essencial do trumpismo consiste em destruir esse embrião e, simultaneamente, arremeter contra a própria sociedade civil interna, enfraquecendo os clássicos mecanismos de controle e participação. O resultado pretendido é a disseminação das formas autoritárias de mando em cada realidade nacional, bem como a perigosa competição entre Estados-nação autocraticamente constituídos. E, ao proclamar com brutalidade a consigna “America first”, a certeza é de que, no Hemisfério Ocidental, a primazia caberá, por uma espécie de lei natural darwiniana, ao país econômica e militarmente mais forte.
A União Europeia, por isso, é uma indesejada entidade supranacional a ser cancelada e conduzida de volta aos velhos nacionalismos, responsáveis por séculos de derramamento de sangue. Para esta tarefa, de resto, se convocam e incentivam os tais “partidos patrióticos” da extrema direita, hoje em plena ofensiva eleitoral.
A América Latina, por seu turno, deve se contentar com ser objeto do “corolário Trump” à Doutrina Monroe, destituída de qualquer sentido anticolonial que possa ter tido no passado. Como demonstrado na Venezuela pós-sequestro do ditador, não é impossível que a vontade imperial se combine, sem maiores complicações, com o mesmo regime de antes, simbolicamente decapitado. Se tudo isso faz sentido, só uma resposta profundamente democrática – e cosmopolita, à altura do tempo – impedirá que voltemos a empregar, ainda com mais rigor, a metáfora das veias abertas do nosso continente.
domingo, 25 de janeiro de 2026
Fim de uma era
A Europa foi o centro do mundo desde que as grandes navegações começaram a moldar a geopolítica em que vivemos. Portugal e Espanha dividiram o mundo por intermédio do Tratado de Tordesilhas, que não foi reconhecido por franceses, ingleses e holandeses. Uns invadiram os outros e começaram a dividir as áreas de interesse. Ingleses se espalharam pelos continentes e criaram o império onde o sol jamais se punha, com a inclusão da Índia, a joia da Coroa. Faz sentido. O diamante Koh-i-Noor, um dos maiores diamantes lapidados do mundo, originário da Índia, é a peça central da coroa britânica. O diamante pertencente à Índia foi "cedido" à rainha Vitória em 1848.
Os europeus dividiram a África entre si, com exceção do Congo Belga, que se transformou em posse particular do rei Leopoldo II. Europeus se espalharam pela África e pelas Américas. No sul, Espanha e Portugal dividiram o território. No norte, ingleses dominaram as 13 colônias que se formaram ao longo do Atlântico. Depois, Napoleão vendeu a Louisiana para os norte-americanos, que, em seguida, compraram a Flórida dos espanhóis, o Alaska dos russos e invadiram o México para fazer a costa oeste com Califórnia, Texas, Novo México e outros estados. Surgiu o país chamado Estados Unidos, que fez a guerra de independência contra a Inglaterra com auxílio bélico efetivo dos franceses.
Sem falar no processo de colonização da Ásia e do Oriente Médio, tudo, portanto, começa, na história moderna, pela Europa. Os europeus brigaram entre si duas vezes no século passado. Da segunda, o mundo ocidental sobreviveu por causa da efetiva participação dos Estados Unidos. Evitou a queda da Inglaterra e seu auxílio foi fundamental para auxiliar a União Soviética superar a máquina de guerra nazista. Não fosse esse auxílio, os europeus hoje estariam falando alemão.
E, na Ásia, os povos estariam dominados pelo Japão imperialista. Tudo isso tem preço. Ingleses terminaram de pagar suas dívidas de guerra com os Estados Unidos em 2006. A China recuperou sua independência, expulsou os japoneses da Manchúria e, hoje, é uma potência. A Coreia do Sul, também expulsou os japoneses, e se transformou num tigre asiático, depois de fazer guerra contra seu vizinho do Norte.
Esse mundo, aparentemente, acabou nesta semana.
Donald Trump anunciou que cada país que integra a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) terá que pagar pela proteção que Washington oferece ao continente. Acabou o conforto do guarda-chuva norte-americano. Cada um por si. Lembra o momento quando o russo Mikhail Gorbachev anunciou aos países que integravam a União Soviética que não mais teriam a proteção do Exército Vermelho. Eles optaram pela independência e dissolveram o mundo comunista. Fenômeno semelhante, com sinal trocado, está acontecendo neste momento. Com o agravante de que Trump quer colocar a Groenlândia sob domínio dos Estados Unidos. Sonha em ter o Canadá integrado a seu território. (O Canadá, formalmente, pertence à Comunidade Britânica de Nações, sua autoridade maior é o rei da Inglaterra).
As consequências diretas são claras: a Otan aparentemente perdeu o sentido, uma vez que ela foi criada para conter uma possível invasão dos comunistas. Os comunistas não existem mais, porém Vladimir Putin insiste em dominar a Ucrânia, o que ameaça os países da Europa Ocidental. Trump não faz qualquer pressão contra os russos. Prefere que Zelensky, o ucraniano, faça as concessões para acabar com o conflito. Os europeus estão em pânico porque não possuem meios e modos para confrontar os norte-americanos. Em termos bélicos, nem pensar. No capítulo comércio, podem promover algum dano ao adversário, mas vão sofrer muito mais.
O anunciado tratado entre a União Europeia e o Mercosul sofreu um abalo. Ele terá que ser examinado por instâncias judiciais. Os caipiras são reacionários e temem os produtos originários dos países do sul que são melhores e de menor custo. Eles prejudicam a comunidade na defesa de seus subsídios. Os norte-americanos que construíram o maior império da atualidade elegeram um czar para dirigir suas necessidades. Ele pensa apenas em dinheiro, lucro, investimento e manter o mercado de emprego ativado dentro de suas fronteiras.
O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, foi objetivo. Disse, em Davos, que "a velha ordem não vai regressar. Estamos no meio de uma ruptura, não de uma transição". Mais claro impossível. O discurso dele foi impressionante. Não reproduzo aqui por falta de espaço. Ele anunciou que seu país vai dobrar o investimento em defesa, com base na indústria local, melhorar o ambiente de negócios, reduzir impostos, incentivar exportações e procurar acordos comerciais com países ou grupos de países, inclusive o Mercosul. Sem querer, o canadense anunciou excelente programa de governo para candidatos que pretendem disputar a Presidência no Brasil, na eleição deste ano.
Os europeus dividiram a África entre si, com exceção do Congo Belga, que se transformou em posse particular do rei Leopoldo II. Europeus se espalharam pela África e pelas Américas. No sul, Espanha e Portugal dividiram o território. No norte, ingleses dominaram as 13 colônias que se formaram ao longo do Atlântico. Depois, Napoleão vendeu a Louisiana para os norte-americanos, que, em seguida, compraram a Flórida dos espanhóis, o Alaska dos russos e invadiram o México para fazer a costa oeste com Califórnia, Texas, Novo México e outros estados. Surgiu o país chamado Estados Unidos, que fez a guerra de independência contra a Inglaterra com auxílio bélico efetivo dos franceses.
Sem falar no processo de colonização da Ásia e do Oriente Médio, tudo, portanto, começa, na história moderna, pela Europa. Os europeus brigaram entre si duas vezes no século passado. Da segunda, o mundo ocidental sobreviveu por causa da efetiva participação dos Estados Unidos. Evitou a queda da Inglaterra e seu auxílio foi fundamental para auxiliar a União Soviética superar a máquina de guerra nazista. Não fosse esse auxílio, os europeus hoje estariam falando alemão.
E, na Ásia, os povos estariam dominados pelo Japão imperialista. Tudo isso tem preço. Ingleses terminaram de pagar suas dívidas de guerra com os Estados Unidos em 2006. A China recuperou sua independência, expulsou os japoneses da Manchúria e, hoje, é uma potência. A Coreia do Sul, também expulsou os japoneses, e se transformou num tigre asiático, depois de fazer guerra contra seu vizinho do Norte.
Esse mundo, aparentemente, acabou nesta semana.
Donald Trump anunciou que cada país que integra a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) terá que pagar pela proteção que Washington oferece ao continente. Acabou o conforto do guarda-chuva norte-americano. Cada um por si. Lembra o momento quando o russo Mikhail Gorbachev anunciou aos países que integravam a União Soviética que não mais teriam a proteção do Exército Vermelho. Eles optaram pela independência e dissolveram o mundo comunista. Fenômeno semelhante, com sinal trocado, está acontecendo neste momento. Com o agravante de que Trump quer colocar a Groenlândia sob domínio dos Estados Unidos. Sonha em ter o Canadá integrado a seu território. (O Canadá, formalmente, pertence à Comunidade Britânica de Nações, sua autoridade maior é o rei da Inglaterra).
As consequências diretas são claras: a Otan aparentemente perdeu o sentido, uma vez que ela foi criada para conter uma possível invasão dos comunistas. Os comunistas não existem mais, porém Vladimir Putin insiste em dominar a Ucrânia, o que ameaça os países da Europa Ocidental. Trump não faz qualquer pressão contra os russos. Prefere que Zelensky, o ucraniano, faça as concessões para acabar com o conflito. Os europeus estão em pânico porque não possuem meios e modos para confrontar os norte-americanos. Em termos bélicos, nem pensar. No capítulo comércio, podem promover algum dano ao adversário, mas vão sofrer muito mais.
O anunciado tratado entre a União Europeia e o Mercosul sofreu um abalo. Ele terá que ser examinado por instâncias judiciais. Os caipiras são reacionários e temem os produtos originários dos países do sul que são melhores e de menor custo. Eles prejudicam a comunidade na defesa de seus subsídios. Os norte-americanos que construíram o maior império da atualidade elegeram um czar para dirigir suas necessidades. Ele pensa apenas em dinheiro, lucro, investimento e manter o mercado de emprego ativado dentro de suas fronteiras.
O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, foi objetivo. Disse, em Davos, que "a velha ordem não vai regressar. Estamos no meio de uma ruptura, não de uma transição". Mais claro impossível. O discurso dele foi impressionante. Não reproduzo aqui por falta de espaço. Ele anunciou que seu país vai dobrar o investimento em defesa, com base na indústria local, melhorar o ambiente de negócios, reduzir impostos, incentivar exportações e procurar acordos comerciais com países ou grupos de países, inclusive o Mercosul. Sem querer, o canadense anunciou excelente programa de governo para candidatos que pretendem disputar a Presidência no Brasil, na eleição deste ano.
À margem da lei
"O Agente Secreto" e "Ainda Estou Aqui" expressam a força do cinema brasileiro. E isso merece muita, mas muita comemoração. Ambos os filmes retratam, no entanto, um país à margem da lei, como "Cidade de Deus" ou "Cabra Marcado para Morrer", também aclamados internacionalmente.
"Ainda Estou Aqui" retrata o arbítrio como política de Estado. A tortura, os desaparecimentos forçados e a perseguição de dissidentes foram transformadas em instrumentos de manutenção de poder. A Constituição foi suspensa por sucessivos atos institucionais, que transferiram o poder aos militares, restringiram direitos e retiraram as ações repressivas do controle judicial. Instituições foram criadas ou receberam expressa determinação para torturar e matar.
A partir da história real de Rubens Paiva, "Ainda Estou Aqui" descreve a face mais macabra do regime de exceção. Mas nos brinda, por outro lado, com a força moral dos que sobreviveram e resistiram. A família de Eunice nos comove, com sua coragem e disposição para buscar justiça e construir um país melhor.
"O Agente Secreto", que também se passa durante o regime militar, retrata uma outra dimensão do estado de exceção, que se enraíza no tecido social. Desde a primeira cena somos expostos à banalidade da vida. O corpo no chão não gera nenhuma reação do agente do Estado ou do cidadão. Como se a morte de uma pessoa não trouxesse nenhuma consequência moral ou jurídica. Numa terra sem lei, só os cachorros parecem se interessar por aquele corpo.
A trama nos transporta para a perseguição de um professor e sua família pelo simples fato de estarem determinados a levar suas vidas de forma honesta, não se curvando à ambição empresarial, entrelaçada e protegida pelo regime. Novamente somos expostos às entranhas, não mais do regime, mas dos matadores de aluguel que coabitam a marginalidade com os agentes da lei e os empreendedores de então. Em "O Agente Secreto" os perseguidos não são dissidentes políticos, mas pessoas comuns, que têm suas vidas reviradas simplesmente por agirem com retidão. Mais uma vez, o sopro de esperança e humanidade vem dos que resistem; de Dona Sebastiana, Armando e Flávia.
Impossível assistir a esses filmes sem pensar num Brasil que parece incapaz de superar um profundo mal-entendido com a lei. Mal-entendido que transcende os períodos autoritários. Que se encontra enraizado nas relações cotidianas e no modo como são operadas nossas instituições, por meio do "familismo", exposto por Oliveira Vianna, da perversa "cordialidade", descrita por Sérgio Buarque de Hollanda, do "patrimonialismo", de Raymundo Faoro, do "você sabe com quem está falando?", de Roberto da Matta, ou da "grande conciliação", de Michel Debrun. São espectros que não nos abandonam, escancarando uma indisposição de acatar a lei como regra geral.
É paradoxal que num país em que a imensa maioria da população acorda cedo para trabalhar e cumprir suas obrigações sobreviva uma cultura tão forte e arraigada de descumprimento da lei e desrespeito aos direitos mais elementares.
Da cornucópia do Banco Master, com seus tentáculos sobre a Faria Lima e os Poderes do Estado, incluindo a cúpula de tribunais, à explosão de feminicídios; da chacina comandada pelo governo do Rio de Janeiro, com amplo apoio popular, à tentativa de golpe do 8 de Janeiro, sob o comando do ex-presidente e seus generais; o país parece incapaz de respeitar da lei e suas autoridades, de abraçar um código de conduta.
Que as Eunices e Sebastianas nos deem forças para continuar lutando por justiça e por um país melhor.
"Ainda Estou Aqui" retrata o arbítrio como política de Estado. A tortura, os desaparecimentos forçados e a perseguição de dissidentes foram transformadas em instrumentos de manutenção de poder. A Constituição foi suspensa por sucessivos atos institucionais, que transferiram o poder aos militares, restringiram direitos e retiraram as ações repressivas do controle judicial. Instituições foram criadas ou receberam expressa determinação para torturar e matar.
A partir da história real de Rubens Paiva, "Ainda Estou Aqui" descreve a face mais macabra do regime de exceção. Mas nos brinda, por outro lado, com a força moral dos que sobreviveram e resistiram. A família de Eunice nos comove, com sua coragem e disposição para buscar justiça e construir um país melhor.
"O Agente Secreto", que também se passa durante o regime militar, retrata uma outra dimensão do estado de exceção, que se enraíza no tecido social. Desde a primeira cena somos expostos à banalidade da vida. O corpo no chão não gera nenhuma reação do agente do Estado ou do cidadão. Como se a morte de uma pessoa não trouxesse nenhuma consequência moral ou jurídica. Numa terra sem lei, só os cachorros parecem se interessar por aquele corpo.
A trama nos transporta para a perseguição de um professor e sua família pelo simples fato de estarem determinados a levar suas vidas de forma honesta, não se curvando à ambição empresarial, entrelaçada e protegida pelo regime. Novamente somos expostos às entranhas, não mais do regime, mas dos matadores de aluguel que coabitam a marginalidade com os agentes da lei e os empreendedores de então. Em "O Agente Secreto" os perseguidos não são dissidentes políticos, mas pessoas comuns, que têm suas vidas reviradas simplesmente por agirem com retidão. Mais uma vez, o sopro de esperança e humanidade vem dos que resistem; de Dona Sebastiana, Armando e Flávia.
Impossível assistir a esses filmes sem pensar num Brasil que parece incapaz de superar um profundo mal-entendido com a lei. Mal-entendido que transcende os períodos autoritários. Que se encontra enraizado nas relações cotidianas e no modo como são operadas nossas instituições, por meio do "familismo", exposto por Oliveira Vianna, da perversa "cordialidade", descrita por Sérgio Buarque de Hollanda, do "patrimonialismo", de Raymundo Faoro, do "você sabe com quem está falando?", de Roberto da Matta, ou da "grande conciliação", de Michel Debrun. São espectros que não nos abandonam, escancarando uma indisposição de acatar a lei como regra geral.
É paradoxal que num país em que a imensa maioria da população acorda cedo para trabalhar e cumprir suas obrigações sobreviva uma cultura tão forte e arraigada de descumprimento da lei e desrespeito aos direitos mais elementares.
Da cornucópia do Banco Master, com seus tentáculos sobre a Faria Lima e os Poderes do Estado, incluindo a cúpula de tribunais, à explosão de feminicídios; da chacina comandada pelo governo do Rio de Janeiro, com amplo apoio popular, à tentativa de golpe do 8 de Janeiro, sob o comando do ex-presidente e seus generais; o país parece incapaz de respeitar da lei e suas autoridades, de abraçar um código de conduta.
Que as Eunices e Sebastianas nos deem forças para continuar lutando por justiça e por um país melhor.
'Orwell: 2+2=5': Como chegámos ao futuro que George Orwell quis evitar
Há um certo prazer mórbido em ver Orwell: 2+2=5 numa sala de cinema escura, por isso por favor não esperem pelo streaming. Não aquele prazer cinéfilo de festival de cinema, mas o prazer desconfortável de perceber que o escritor que achámos paranóico era, afinal, só um tipo atento ao que aí vinha. Raoul Peck conduz este documentário como quem levanta um cadáver histórico e constata que, surpresa, o morto está mais vivo do que todos nós juntos. Em 2026, George Orwell (1910-1950) parece indirectamente um influencer involuntário do nosso colapso democrático, só lhe faltou ter contas nas redes sociais e um podcast político.
Peck não faz o clássico documentário de escritor: nada de colecções de depoimentos de especialistas bocejantes ou teses académicas embaladas em música de piano. O cineasta haitiano, residente nos EUA — já mestre em provocar ressacas morais com Eu Não Sou o Teu Negro (2017), a partir da obra do escritor James Baldwin — prefere usar Orwell como lente, espelho e arma. A vida do autor está lá, claro, desde o Eric Blair — o seu verdadeiro nome — colonial ao tuberculoso exilado na ilha de Jura, mas funciona sobretudo como backstage do verdadeiro espectáculo: a forma como o totalitarismo se veste, se adapta e se infiltra até parecer lifestyle. Orwell tinha aquele talento irritante de simplificar o terror: “Liberdade é escravidão”, “Ignorância é força”, “Guerra é paz”. Hoje chamamos-lhe “narrativa”, “spin”, “media training” e “soft power”. Que delicados que somos todos nós.
Orwell: 2+2=5 joga imagens de Basra, Ucrânia, Gaza, Washington e outras geografias do desastre com a voz delicadamente “assassina” do actor britânico Damian Lewis (Homeland) a citar Orwell. A montagem faz o que os noticiários evitam: liga pontos. De repente, a frase sobre “ser corrompido sem viver num regime totalitário” cai em cima de imagens de líderes eleitos com saudades do autoritarismo, dos influencers do ressentimento, e da malta que grita “liberdade!” e diz ser contra o “sistema”, enquanto defende censura, vigilância e deportações. É bonito ver Orwell a constatar, lá do além, que a estupidez moral também evolui, apesar de toda a tecnologia.
Há quem acuse Peck de didatismo e sim, está lá a fúria discursiva, o dedo na ferida, os paralelos explícitos. Mas talvez seja precisamente isso que faltava. O cinema documental político anda há anos a tentar convencer-nos com metáforas, metáforas e mais metáforas. Peck abdica da subtileza e diz: olhem, isto foi o que Orwell escreveu, isto é o que está a acontecer, isto é o que vocês estão a permitir. Podemos discutir depois se é fascismo, proto-fascismo, populismo, capitalismo de vigilância ou apenas a versão tecnológica da velha estupidez humana. Para Peck, o essencial é a mecânica: primeiro distorce-se a linguagem, depois distorce-se a realidade, depois distorce-se a memória, e no fim insiste-se no 2+2=5, como na tortura, e ninguém reclama porque toda a gente está demasiado ocupada a comentar posts das redes sociais, e ler pouco livros, jornais ou revistas.
A certa altura, o documentário deixa de ser sobre George Orwell e passa a ser sobre nós. Sobre a facilidade com que aceitamos tecnologias que monitorizam tudo, governos que reescrevem factos, plataformas que modulam o que vemos, jornais que abdicam de chamar mentira à mentira, e populações que confundem liberdade com impunidade. Orwell imaginou um grande televisor bidirecional na sala, nós pagamos para ter um pequeno no bolso, com GPS, histórico, publicidade personalizada e mera teoria da conspiração que grava tudo que dizemos, para depois aparecerem os produtos nos banners. O Big Brother não precisou de invadir as nossas casas: nós fizemos fila para o comprar nas Apple Store ou da Goggle.
Peck percebe bem que a genialidade de Orwell não estava na previsão dos tiranos — tiranos existem desde que alguém descobriu que o poder é viciante — mas sim na psicologia da servidão voluntária. A verdadeira violência totalitária não é a tortura na Sala 101, é a sensação de que já não vale a pena resistir porque a realidade se fragmentou ao ponto de cada um ter a sua. É a democracia tratada como entretenimento. É o cidadão convertido em consumidor. É a mentira transformada em hábito higiénico.
No fim, Orwell: 2+2=5 funciona como uma espécie de consulta médica: Orwell diagnosticou o tumor, nós ignorámos os sintomas, e Peck aparece a dizer que o cancro já fez metástases. Não é um filme pessimista, é simplesmente realista. O otimismo, esse, ficou para depois do genérico, quando regressa a internet e os mesmos algoritmos que nos serviram propaganda ontem já estão a afinar o que veremos amanhã.
O que sobra é a pergunta que Peck não formula, mas deixa a marinar: se Orwell não era ficção, então de que lado da história estamos nós? Porque de uma coisa Orwell tinha a certeza: o futuro não é escrito pelos que dormem. É escrito pelos que acreditam que 2+2=4, mesmo quando o mundo inteiro jura que dá 5.
Peck não faz o clássico documentário de escritor: nada de colecções de depoimentos de especialistas bocejantes ou teses académicas embaladas em música de piano. O cineasta haitiano, residente nos EUA — já mestre em provocar ressacas morais com Eu Não Sou o Teu Negro (2017), a partir da obra do escritor James Baldwin — prefere usar Orwell como lente, espelho e arma. A vida do autor está lá, claro, desde o Eric Blair — o seu verdadeiro nome — colonial ao tuberculoso exilado na ilha de Jura, mas funciona sobretudo como backstage do verdadeiro espectáculo: a forma como o totalitarismo se veste, se adapta e se infiltra até parecer lifestyle. Orwell tinha aquele talento irritante de simplificar o terror: “Liberdade é escravidão”, “Ignorância é força”, “Guerra é paz”. Hoje chamamos-lhe “narrativa”, “spin”, “media training” e “soft power”. Que delicados que somos todos nós.
Orwell: 2+2=5 joga imagens de Basra, Ucrânia, Gaza, Washington e outras geografias do desastre com a voz delicadamente “assassina” do actor britânico Damian Lewis (Homeland) a citar Orwell. A montagem faz o que os noticiários evitam: liga pontos. De repente, a frase sobre “ser corrompido sem viver num regime totalitário” cai em cima de imagens de líderes eleitos com saudades do autoritarismo, dos influencers do ressentimento, e da malta que grita “liberdade!” e diz ser contra o “sistema”, enquanto defende censura, vigilância e deportações. É bonito ver Orwell a constatar, lá do além, que a estupidez moral também evolui, apesar de toda a tecnologia.
Há quem acuse Peck de didatismo e sim, está lá a fúria discursiva, o dedo na ferida, os paralelos explícitos. Mas talvez seja precisamente isso que faltava. O cinema documental político anda há anos a tentar convencer-nos com metáforas, metáforas e mais metáforas. Peck abdica da subtileza e diz: olhem, isto foi o que Orwell escreveu, isto é o que está a acontecer, isto é o que vocês estão a permitir. Podemos discutir depois se é fascismo, proto-fascismo, populismo, capitalismo de vigilância ou apenas a versão tecnológica da velha estupidez humana. Para Peck, o essencial é a mecânica: primeiro distorce-se a linguagem, depois distorce-se a realidade, depois distorce-se a memória, e no fim insiste-se no 2+2=5, como na tortura, e ninguém reclama porque toda a gente está demasiado ocupada a comentar posts das redes sociais, e ler pouco livros, jornais ou revistas.
A certa altura, o documentário deixa de ser sobre George Orwell e passa a ser sobre nós. Sobre a facilidade com que aceitamos tecnologias que monitorizam tudo, governos que reescrevem factos, plataformas que modulam o que vemos, jornais que abdicam de chamar mentira à mentira, e populações que confundem liberdade com impunidade. Orwell imaginou um grande televisor bidirecional na sala, nós pagamos para ter um pequeno no bolso, com GPS, histórico, publicidade personalizada e mera teoria da conspiração que grava tudo que dizemos, para depois aparecerem os produtos nos banners. O Big Brother não precisou de invadir as nossas casas: nós fizemos fila para o comprar nas Apple Store ou da Goggle.
Peck percebe bem que a genialidade de Orwell não estava na previsão dos tiranos — tiranos existem desde que alguém descobriu que o poder é viciante — mas sim na psicologia da servidão voluntária. A verdadeira violência totalitária não é a tortura na Sala 101, é a sensação de que já não vale a pena resistir porque a realidade se fragmentou ao ponto de cada um ter a sua. É a democracia tratada como entretenimento. É o cidadão convertido em consumidor. É a mentira transformada em hábito higiénico.
No fim, Orwell: 2+2=5 funciona como uma espécie de consulta médica: Orwell diagnosticou o tumor, nós ignorámos os sintomas, e Peck aparece a dizer que o cancro já fez metástases. Não é um filme pessimista, é simplesmente realista. O otimismo, esse, ficou para depois do genérico, quando regressa a internet e os mesmos algoritmos que nos serviram propaganda ontem já estão a afinar o que veremos amanhã.
O que sobra é a pergunta que Peck não formula, mas deixa a marinar: se Orwell não era ficção, então de que lado da história estamos nós? Porque de uma coisa Orwell tinha a certeza: o futuro não é escrito pelos que dormem. É escrito pelos que acreditam que 2+2=4, mesmo quando o mundo inteiro jura que dá 5.
Assinar:
Comentários (Atom)