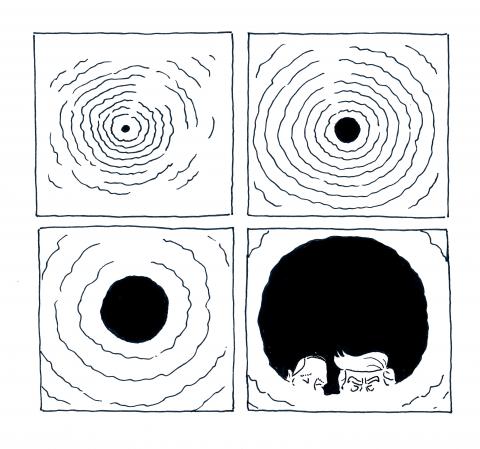segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026
Era de autorregulação das big techs está chegando ao fim
O avanço coordenado entre governos europeus indica que a lógica de autorregulação das big techs está se enfraquecendo. Na semana passada, a Espanha deu mais um passo nessa direção ao anunciar planos para proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais – o que reforça a tendência regulatória no continente. O premiê Pedro Sánchez disse que a iniciativa é para proteger crianças e adolescentes de um “ambiente digital sem lei”, marcado por abuso, vício, pornografia, discurso de ódio e manipulação algorítmica.
Em dezembro, a Austrália se tornou o primeiro país do mundo a banir redes sociais para menores de 16 anos, obrigando empresas como TikTok, Instagram e Snapchat a remover milhões de contas e a implementar mecanismos mais rígidos de controle. França, Reino Unido, Dinamarca, Grécia e Irlanda avaliam medidas parecidas.
Trata-se de uma reafirmação do Estado diante de empresas privadas que, ao longo de anos, acumularam escala, recursos e influência política em grau incompatível com qualquer noção tradicional de soberania democrática. À medida que as plataformas se tornaram infraestruturas centrais de comunicação, informação e mobilização, a retomada do poder público na definição de regras é um desfecho inevitável – sobretudo considerando que os próprios donos dessas plataformas, como Elon Musk, passaram a intervir de forma agressiva na política europeia.
A proposta espanhola ainda tem de ser aprovada pelo Parlamento, mas integra um pacote mais amplo de medidas. Entre elas, estão a exigência de sistemas de verificação de idade, a responsabilização de executivos por conteúdos ilegais e a criminalização de práticas deliberadas de amplificação algorítmica de material ilícito.
A reação das big techs e de seus líderes tem sido previsível. Musk chamou Sánchez de “tirano” e “fascista”, enquanto Pavel Durov, fundador do Telegram, enviou mensagens em massa a usuários espanhóis acusando o governo de promover censura e vigilância.
Por trás da resistência das big techs está um modelo de negócio: quanto mais tempo o usuário permanecer conectado, maior a coleta de dados e mais lucrativa a venda de publicidade. Moderação robusta e checagem sistemática de fatos são caras, complexas e reduzem o alcance de conteúdos virais. Evitá-las sempre foi, do ponto de vista comercial, a opção mais racional, mesmo que enfraquecesse a democracia.
É nesse contexto que se entende a aproximação de grandes plataformas com Donald Trump, ressalta o jurista David Allen Green no Financial Times.
Diante da expectativa de regulações mais duras na União Europeia – e em países como o Brasil –, empresas como Meta e X concluíram que não podem enfrentar sozinhas governos e sistemas jurídicos fora dos EUA.
Essa lógica se mostrou no caso brasileiro, quando, após resistir a ordens do STF, o X acabou cumprindo as determinações. Buscar o apoio da Casa Branca tornou-se parte central da estratégia. Green observa que essa guinada não revela força, mas fragilidade: se essas empresas fossem realmente capazes de conter a regulação por conta própria, não precisariam de apoio americano.
A história mostra que, em confrontos decisivos, o Estado tende a prevalecer sobre corporações. A Companhia das Índias Orientais – empresa mais poderosa do mundo até então – foi dissolvida pelo Parlamento britânico em 1874. O Bell System, que dominava as telecomunicações nos EUA, foi desmembrado por leis antitruste nos anos 1980. Empresas podem acumular poder extraordinário, mas, como l embra Green, sua existência jurídica e seus direitos dependem, em última instância, da legislação.
Críticas alertam para o risco de empurrar jovens para espaços digitais ainda menos regulados ou de abrir margem para excessos estatais. A Europa aposta que, assim como ocorreu com energia, finanças e telecomunicações, o mundo digital entrou na fase em que o interesse público volta a impor limites ao poder privado – e o Estado, pressionado pela magnitude dessas empresas, reassume o papel de árbitro.
Apesar dos riscos, a guinada é positiva. Não porque o Estado seja infalível, mas porque só ele dispõe de mandato democrático, instrumentos de coerção legítima e autoridade para estabelecer limites quando interesses privados passam a ameaçar o funcionamento da própria democracia.
Em dezembro, a Austrália se tornou o primeiro país do mundo a banir redes sociais para menores de 16 anos, obrigando empresas como TikTok, Instagram e Snapchat a remover milhões de contas e a implementar mecanismos mais rígidos de controle. França, Reino Unido, Dinamarca, Grécia e Irlanda avaliam medidas parecidas.
Trata-se de uma reafirmação do Estado diante de empresas privadas que, ao longo de anos, acumularam escala, recursos e influência política em grau incompatível com qualquer noção tradicional de soberania democrática. À medida que as plataformas se tornaram infraestruturas centrais de comunicação, informação e mobilização, a retomada do poder público na definição de regras é um desfecho inevitável – sobretudo considerando que os próprios donos dessas plataformas, como Elon Musk, passaram a intervir de forma agressiva na política europeia.
A proposta espanhola ainda tem de ser aprovada pelo Parlamento, mas integra um pacote mais amplo de medidas. Entre elas, estão a exigência de sistemas de verificação de idade, a responsabilização de executivos por conteúdos ilegais e a criminalização de práticas deliberadas de amplificação algorítmica de material ilícito.
A reação das big techs e de seus líderes tem sido previsível. Musk chamou Sánchez de “tirano” e “fascista”, enquanto Pavel Durov, fundador do Telegram, enviou mensagens em massa a usuários espanhóis acusando o governo de promover censura e vigilância.
Por trás da resistência das big techs está um modelo de negócio: quanto mais tempo o usuário permanecer conectado, maior a coleta de dados e mais lucrativa a venda de publicidade. Moderação robusta e checagem sistemática de fatos são caras, complexas e reduzem o alcance de conteúdos virais. Evitá-las sempre foi, do ponto de vista comercial, a opção mais racional, mesmo que enfraquecesse a democracia.
É nesse contexto que se entende a aproximação de grandes plataformas com Donald Trump, ressalta o jurista David Allen Green no Financial Times.
Diante da expectativa de regulações mais duras na União Europeia – e em países como o Brasil –, empresas como Meta e X concluíram que não podem enfrentar sozinhas governos e sistemas jurídicos fora dos EUA.
Essa lógica se mostrou no caso brasileiro, quando, após resistir a ordens do STF, o X acabou cumprindo as determinações. Buscar o apoio da Casa Branca tornou-se parte central da estratégia. Green observa que essa guinada não revela força, mas fragilidade: se essas empresas fossem realmente capazes de conter a regulação por conta própria, não precisariam de apoio americano.
A história mostra que, em confrontos decisivos, o Estado tende a prevalecer sobre corporações. A Companhia das Índias Orientais – empresa mais poderosa do mundo até então – foi dissolvida pelo Parlamento britânico em 1874. O Bell System, que dominava as telecomunicações nos EUA, foi desmembrado por leis antitruste nos anos 1980. Empresas podem acumular poder extraordinário, mas, como l embra Green, sua existência jurídica e seus direitos dependem, em última instância, da legislação.
Críticas alertam para o risco de empurrar jovens para espaços digitais ainda menos regulados ou de abrir margem para excessos estatais. A Europa aposta que, assim como ocorreu com energia, finanças e telecomunicações, o mundo digital entrou na fase em que o interesse público volta a impor limites ao poder privado – e o Estado, pressionado pela magnitude dessas empresas, reassume o papel de árbitro.
Apesar dos riscos, a guinada é positiva. Não porque o Estado seja infalível, mas porque só ele dispõe de mandato democrático, instrumentos de coerção legítima e autoridade para estabelecer limites quando interesses privados passam a ameaçar o funcionamento da própria democracia.
Os bandidos de Deus
Efetivos da Polícia Militar do Rio de Janeiro foram filmados a derrubar uma grande estrela de David instalada no alto de uma caixa de água em Parada de Lucas, símbolo que marcava o Complexo de Israel, área controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Um jornal de Goiás dizia que na mesma operação, a polícia demoliu o imóvel de luxo do “Peixão”, chefe local do tráfico, que estava construído numa área de proteção ambiental.
Este TCP é um grupo criminoso que vai ganhando expressão nacional como terceira força do crime organizado no Brasil, logo depois do PCC e do Comando Vermelho. A sua expansão tem sido acelerada e está a chamar a atenção das autoridades. Neste momento está a implantar-se nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Ceará e Amapá, e por vezes a sua penetração em novas regiões resulta de alianças com outros grupos criminosos.
A característica principal desta quadrilha é a sua identificação através de simbologia e slogans ligados ao mundo evangélico e neste momento já começa a ser alvo de denúncias de intolerância religiosa, como o encerramento forçado de terreiros e perseguição a outras vertentes religiosas.
Os investigadores que se têm dedicado a estudar o fenómeno classificam o Terceiro Comando Puro como “narcopentecostalismo”, com base na articulação entre a estética cristã, ao nível da simbologia utilizada com as práticas criminosas utilizadas como forma de controlo do território, mas também como forma de assegurar a coesão interna.
O TCP mantém ligações próximas com o PCC e diversas milícias, como forma de ampliar e explorar as rotas e mercados do crime. Mas é previsível que o choque de interesses decorrente do crescimento acelerado possa elevar o risco de confrontos em regiões onde a violência já impõe o medo e por vezes paralisa alguns serviços essenciais. A nosso ver o fenómeno do narcopentecostalismo decorre de algumas causas.
Primeiro devido à perda da ética pessoal e social que caracterizava o povo evangélico até aos anos sessenta. Antes, a ênfase estava na imposição de usos e costumes nas comunidades de fé, que traduziam um certo calvinismo pessoal, porém cultivava-se o alheamento social. Os pecados eram apenas pessoais – e não sociais – e a política ou mesmo a simples intervenção cívica por fiéis evangélicos era considerada coisa inconveniente.
A partir dos anos setenta e oitenta verificou-se um abastardamento do sentido de ser evangélico, ao ponto de a antiga ética pessoal e social ter sido gradualmente substituída pela atracção do poder. Foi aí que o neopentecostalismo começou a reconfigurar a ética cristã. Ao substituir a ética pessoal pela pretensão de governar a sociedade, boa parte do evangelicalismo perdeu a alma e entrou em contramão com os princípios bíblicos que até aí lhe eram fundamentais, na linha da boa tradição protestante.
Essa parte do evangelicalismo brasileiro hipotecou a sua herança histórica vendendo-a por um prato de lentilhas, e passou a disputar no campo da política, não como forma de sobrevivência mas por ensejo de poder e muitas vezes de destruição de outras propostas religiosas. É aqui que entram os pontapés na imagem de Aparecida, o fecho forçado de terreiros dos cultos africanos e os ataques violentos aos seus adeptos.
Esta narrativa de conquista e poder não é senão uma revisitação da velha igreja europeia medieval, das cruzadas, da Inquisição e da missionação forçada, que constituem páginas negras na história do catolicismo. Pois bem, chegou a vez do mundo evangélico repetir o mesmo erro.
Os grupos criminosos que mandam nas favelas e nos negócios das drogas e do crime inspiraram-se na simbologia e discurso cristão evangélico, não por ser uma mensagem de salvação e dignificação do ser humano, mas pela pulsão de poder que representa. No fundo, encontraram aí um sentido para sobreviver no buraco moral em que se encontram.
De facto, os textos bíblicos conferem-lhes um certo conforto, em particular no Antigo Testamento, onde o pequeno povo do Antigo Israel conseguiu grandes feitos porque Deus era com eles. Mas também a divisa paulina aplicada aos cristãos face à hostilidade do império romano “Se Deus é por nós, quem será contra nós?” (Romanos 8:31) é francamente apelativa para quem tem contra si as leis, a moral e o estado. Bandidos, sim, mas bandidos de Deus é bem melhor. Será mesmo?
Este TCP é um grupo criminoso que vai ganhando expressão nacional como terceira força do crime organizado no Brasil, logo depois do PCC e do Comando Vermelho. A sua expansão tem sido acelerada e está a chamar a atenção das autoridades. Neste momento está a implantar-se nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Ceará e Amapá, e por vezes a sua penetração em novas regiões resulta de alianças com outros grupos criminosos.
A característica principal desta quadrilha é a sua identificação através de simbologia e slogans ligados ao mundo evangélico e neste momento já começa a ser alvo de denúncias de intolerância religiosa, como o encerramento forçado de terreiros e perseguição a outras vertentes religiosas.
Os investigadores que se têm dedicado a estudar o fenómeno classificam o Terceiro Comando Puro como “narcopentecostalismo”, com base na articulação entre a estética cristã, ao nível da simbologia utilizada com as práticas criminosas utilizadas como forma de controlo do território, mas também como forma de assegurar a coesão interna.
O TCP mantém ligações próximas com o PCC e diversas milícias, como forma de ampliar e explorar as rotas e mercados do crime. Mas é previsível que o choque de interesses decorrente do crescimento acelerado possa elevar o risco de confrontos em regiões onde a violência já impõe o medo e por vezes paralisa alguns serviços essenciais. A nosso ver o fenómeno do narcopentecostalismo decorre de algumas causas.
Primeiro devido à perda da ética pessoal e social que caracterizava o povo evangélico até aos anos sessenta. Antes, a ênfase estava na imposição de usos e costumes nas comunidades de fé, que traduziam um certo calvinismo pessoal, porém cultivava-se o alheamento social. Os pecados eram apenas pessoais – e não sociais – e a política ou mesmo a simples intervenção cívica por fiéis evangélicos era considerada coisa inconveniente.
A partir dos anos setenta e oitenta verificou-se um abastardamento do sentido de ser evangélico, ao ponto de a antiga ética pessoal e social ter sido gradualmente substituída pela atracção do poder. Foi aí que o neopentecostalismo começou a reconfigurar a ética cristã. Ao substituir a ética pessoal pela pretensão de governar a sociedade, boa parte do evangelicalismo perdeu a alma e entrou em contramão com os princípios bíblicos que até aí lhe eram fundamentais, na linha da boa tradição protestante.
Essa parte do evangelicalismo brasileiro hipotecou a sua herança histórica vendendo-a por um prato de lentilhas, e passou a disputar no campo da política, não como forma de sobrevivência mas por ensejo de poder e muitas vezes de destruição de outras propostas religiosas. É aqui que entram os pontapés na imagem de Aparecida, o fecho forçado de terreiros dos cultos africanos e os ataques violentos aos seus adeptos.
Esta narrativa de conquista e poder não é senão uma revisitação da velha igreja europeia medieval, das cruzadas, da Inquisição e da missionação forçada, que constituem páginas negras na história do catolicismo. Pois bem, chegou a vez do mundo evangélico repetir o mesmo erro.
Os grupos criminosos que mandam nas favelas e nos negócios das drogas e do crime inspiraram-se na simbologia e discurso cristão evangélico, não por ser uma mensagem de salvação e dignificação do ser humano, mas pela pulsão de poder que representa. No fundo, encontraram aí um sentido para sobreviver no buraco moral em que se encontram.
De facto, os textos bíblicos conferem-lhes um certo conforto, em particular no Antigo Testamento, onde o pequeno povo do Antigo Israel conseguiu grandes feitos porque Deus era com eles. Mas também a divisa paulina aplicada aos cristãos face à hostilidade do império romano “Se Deus é por nós, quem será contra nós?” (Romanos 8:31) é francamente apelativa para quem tem contra si as leis, a moral e o estado. Bandidos, sim, mas bandidos de Deus é bem melhor. Será mesmo?
Brasil 2026: justiça para pobres, perdão para ricaços?
Começar 2026 falando de justiça é quase um ato de humor. O Brasil adora a palavra, mas costuma praticá-la como quem serve cafezinho ralo: muita fumaça, pouco conteúdo. O debate da vez mistura anistia política, crimes econômicos e credibilidade nacional — um trio que, se fosse samba de gafieira, sairia em dó maior.
De um lado direito, discute-se aliviar penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Do lado esquerdo, observa-se com lupa embaçada a responsabilização de grandes operadores financeiros cujas decisões (ou omissões) custaram bilhões, empregos, poupança e paz de espírito. A pergunta que fica é simples, direta e indigesta: quem paga a conta deste Brasil? Serão os mesmos? Claro! O Zé e a Chiquinha já estão na mira e nem sabem.
Anistia, historicamente, foi instrumento de reconciliação nacional. Na redemocratização, fez sentido. O problema começa quando a anistia vira atalho político — ora para apaziguar ruas, ora para agradar bases, ora para “virar a página” sem ler o capítulo. Não se trata aqui de defender punições exemplares por vingança, mas de coerência. Estado de Direito não é buffet livre: não se escolhe a sobremesa e ignora o prato principal. O famoso advogado dos Tribunais Superiores, apareceu, em filmeto nacional e sem cortes, expondo as vísceras dos nossos tribunais e a interferência dos familiares. Que coisa maluca! Vai ficar assim? A coisa cai ou não cai?
Mário Henrique Simonsen já alertava: confiança é o ativo invisível da economia. Quando ela evapora, o custo aparece nos juros, no câmbio, no investimento que não vem. E os 15% ao ano, da segunda maior taxa básica de juros do mundo… baixarão? Nunquinha! não há clima. A primeira é da Turquia e a dos Estados Unidos varia entre 3,0 e 3,5% ao ano. Ainda seremos americanos ou turcos?
A sociedade reage com emoção aos eventos políticos — e com razão. Mas reage com decepção técnica aos escândalos financeiros, como se fossem “coisa de especialista”. Aí mora o erro. Um prejuízo bilionário não é abstrato: ele se traduz em crédito mais caro, imposto mais alto, emprego mais raro e de malas prontas para os países vizinhos. Roberto Campos, com seu humor seco, diria que não existe almoço grátis — alguém sempre paga, geralmente quem não foi convidado para a mesa.
Casos recentes de turbulência bancária — como o do Banco Master — expuseram uma engrenagem sensível: quando a governança falha e o porrete chega tarde, o dano se espalha e o emprego voa. O debate público (fofoca), porém, corre em paralelo, como se a punição aos responsáveis fosse detalhe técnico. Não é. É política econômica em estado puro. É sempre bom espalhar o que o nosso professor de microeconomia, Senador Jeferson Peres, não cansava de lembrar: o Banco Central existe para cuidar da nossa moeda e o Supremo tem a finalidade de tomar conta da nossa Constituição. Estarão conseguindo esse mínimo?
Estarão as nossas Instituições em rota de colisão ou do nosso lado?
O Brasil gosta de dizer que suas instituições “funcionam”. Funcionam, sim — mas às vezes como um motor desalinhado: cada peça gira num ritmo. Quando tribunais, órgãos de controle e reguladores se atropelam, o resultado é insegurança. Investidor odeia surpresa; poupador odeia silêncio. A interferência excessiva onde deveria haver técnica — e a técnica tímida onde deveria haver decisão — criam o pior dos mundos. É sempre bom lembrar que o dinheiro só exige segurança para o “crescei e multiplicai-vos”. Caso contrário, ele sai pela porta, pelas janelas, pelo buraco da fechadura, pega a internet e voa.
Aqui, a ironia dói: rigor máximo para a pessoa física, flexibilidade infinita para a pessoa jurídica poderosa. A lei vira elástico. Estica para uns, encolhe para outros. E o recado ao mundo é péssimo: o Brasil pune mal o erro que destrói valor e debate demais o erro que destrói vitrines.
Soberania não é só bandeira. É previsibilidade institucional. O Brasil, relativizando crimes econômicos mina a sua própria moeda moral. O capital — lê sinais. Se percebe que a régua muda conforme o CEP, ele cobra prêmio: juros mais altos, investimento mais curto, inovação mais lenta. Resultado? Crescimento capenga, inflação teimosa, frustração cíclica.
Simonsen ensinava que estabilização é disciplina. Roberto Campos lembrava que liberalismo sem responsabilidade vira caricatura. Ambos concordariam num ponto: sem punição clara para quem quebra a confiança do sistema, não há mercado que se sustente.
Não é preciso reinventar o Brasil. Bastam três obviedades:
Responsabilização harmônica: crime político e crime econômico devem enfrentar a mesma seriedade — cada qual com sua tipificação, sem espetáculo nem indulgência. Sem heróis.
Coordenação institucional: menos vaidade, mais técnica. Reguladores regulam; tribunais julgam; controle fiscaliza — com diálogo e prazos. Sem artistas.
Transparência que doa: silêncio custa caro. Comunicação clara reduz pânico, boato e oportunismo. Sem lirismo.
Encerrar 2026 com crescimento exigirá coragem para dizer não ao perdão seletivo e sim à justiça previsível. Caso contrário, seguiremos campeões mundiais da pergunta errada: “Quem foi?”, quando a certa é “Quem paga?”. E, no Brasil, pagar — quase sempre — é tarefa dos mesmos de sempre e eternamente.
Lembrando: os presos do 8 de janeiro, e do Banco Master, serão decisivos na eleição de 2026.
Roberto Caminha Filho
De um lado direito, discute-se aliviar penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Do lado esquerdo, observa-se com lupa embaçada a responsabilização de grandes operadores financeiros cujas decisões (ou omissões) custaram bilhões, empregos, poupança e paz de espírito. A pergunta que fica é simples, direta e indigesta: quem paga a conta deste Brasil? Serão os mesmos? Claro! O Zé e a Chiquinha já estão na mira e nem sabem.
Anistia, historicamente, foi instrumento de reconciliação nacional. Na redemocratização, fez sentido. O problema começa quando a anistia vira atalho político — ora para apaziguar ruas, ora para agradar bases, ora para “virar a página” sem ler o capítulo. Não se trata aqui de defender punições exemplares por vingança, mas de coerência. Estado de Direito não é buffet livre: não se escolhe a sobremesa e ignora o prato principal. O famoso advogado dos Tribunais Superiores, apareceu, em filmeto nacional e sem cortes, expondo as vísceras dos nossos tribunais e a interferência dos familiares. Que coisa maluca! Vai ficar assim? A coisa cai ou não cai?
Mário Henrique Simonsen já alertava: confiança é o ativo invisível da economia. Quando ela evapora, o custo aparece nos juros, no câmbio, no investimento que não vem. E os 15% ao ano, da segunda maior taxa básica de juros do mundo… baixarão? Nunquinha! não há clima. A primeira é da Turquia e a dos Estados Unidos varia entre 3,0 e 3,5% ao ano. Ainda seremos americanos ou turcos?
A sociedade reage com emoção aos eventos políticos — e com razão. Mas reage com decepção técnica aos escândalos financeiros, como se fossem “coisa de especialista”. Aí mora o erro. Um prejuízo bilionário não é abstrato: ele se traduz em crédito mais caro, imposto mais alto, emprego mais raro e de malas prontas para os países vizinhos. Roberto Campos, com seu humor seco, diria que não existe almoço grátis — alguém sempre paga, geralmente quem não foi convidado para a mesa.
Casos recentes de turbulência bancária — como o do Banco Master — expuseram uma engrenagem sensível: quando a governança falha e o porrete chega tarde, o dano se espalha e o emprego voa. O debate público (fofoca), porém, corre em paralelo, como se a punição aos responsáveis fosse detalhe técnico. Não é. É política econômica em estado puro. É sempre bom espalhar o que o nosso professor de microeconomia, Senador Jeferson Peres, não cansava de lembrar: o Banco Central existe para cuidar da nossa moeda e o Supremo tem a finalidade de tomar conta da nossa Constituição. Estarão conseguindo esse mínimo?
Estarão as nossas Instituições em rota de colisão ou do nosso lado?
O Brasil gosta de dizer que suas instituições “funcionam”. Funcionam, sim — mas às vezes como um motor desalinhado: cada peça gira num ritmo. Quando tribunais, órgãos de controle e reguladores se atropelam, o resultado é insegurança. Investidor odeia surpresa; poupador odeia silêncio. A interferência excessiva onde deveria haver técnica — e a técnica tímida onde deveria haver decisão — criam o pior dos mundos. É sempre bom lembrar que o dinheiro só exige segurança para o “crescei e multiplicai-vos”. Caso contrário, ele sai pela porta, pelas janelas, pelo buraco da fechadura, pega a internet e voa.
Aqui, a ironia dói: rigor máximo para a pessoa física, flexibilidade infinita para a pessoa jurídica poderosa. A lei vira elástico. Estica para uns, encolhe para outros. E o recado ao mundo é péssimo: o Brasil pune mal o erro que destrói valor e debate demais o erro que destrói vitrines.
Soberania não é só bandeira. É previsibilidade institucional. O Brasil, relativizando crimes econômicos mina a sua própria moeda moral. O capital — lê sinais. Se percebe que a régua muda conforme o CEP, ele cobra prêmio: juros mais altos, investimento mais curto, inovação mais lenta. Resultado? Crescimento capenga, inflação teimosa, frustração cíclica.
Simonsen ensinava que estabilização é disciplina. Roberto Campos lembrava que liberalismo sem responsabilidade vira caricatura. Ambos concordariam num ponto: sem punição clara para quem quebra a confiança do sistema, não há mercado que se sustente.
Não é preciso reinventar o Brasil. Bastam três obviedades:
Responsabilização harmônica: crime político e crime econômico devem enfrentar a mesma seriedade — cada qual com sua tipificação, sem espetáculo nem indulgência. Sem heróis.
Coordenação institucional: menos vaidade, mais técnica. Reguladores regulam; tribunais julgam; controle fiscaliza — com diálogo e prazos. Sem artistas.
Transparência que doa: silêncio custa caro. Comunicação clara reduz pânico, boato e oportunismo. Sem lirismo.
Encerrar 2026 com crescimento exigirá coragem para dizer não ao perdão seletivo e sim à justiça previsível. Caso contrário, seguiremos campeões mundiais da pergunta errada: “Quem foi?”, quando a certa é “Quem paga?”. E, no Brasil, pagar — quase sempre — é tarefa dos mesmos de sempre e eternamente.
Lembrando: os presos do 8 de janeiro, e do Banco Master, serão decisivos na eleição de 2026.
Roberto Caminha Filho
As vidas dos outros… e a nossa
Se, num jantar, um amigo, um conhecido ou um estranho sentado ao seu lado o questionar sobre quantas vezes por semana faz amor com o seu cônjuge ou se tem um(a) amante e onde se encontram, quantos minutos demora o ato sexual, se tem sempre um orgasmo, sentirá certamente repulsa. Que absurdo, que intromissão! Sente asco deste parágrafo. E, no entanto, se usar um anel ou uma pulseira inteligente, esta informação estará disponível para o produtor da pulseira e todos os seus fornecedores, e ainda terceiros a quem os seus dados sejam vendidos… o seu ritmo cardíaco está lá para o denunciar. Está também disponível para quem, com ou sem a sua autorização, aceda aos seus dados. Não é assim tão difícil. Os filhos adultos oferecem pulseiras aos pais para garantir que estão bem… poderão ficar a saber mais do que desejavam. A encriptação de dados não está sujeita a qualquer standard legal e por isso se alguém quiser saber o seu paradeiro a uma determinada hora, num certo dia, poderá sempre recorrer a alguém mais engenhoso ou até ao ChatGPT para obter um guia de acesso (em 2024 a OpenAI divulgou um relatório sobre como o ChatGPT estava a ser utilizado por hackers).
Se lhe disserem que o seu telefone está sob escuta, e que alguém reúne e cataloga a informação que partilha numa conversa telefónica, como se sente? Não praticou nenhum crime, não tem conhecimento de ter contacto com alguém envolvido em atividades criminosas… A que propósito o juiz teria autorizado a escuta? E, no entanto, sem qualquer autorização judicial, a Google recolhe e cataloga todas as suas pesquisas online. O seu telefone regista todos os sítios onde se desloca, via o GPS, que até pode não ter propositadamente instalado, mas lhe permite saber a meteorologia, a todo o momento, em qualquer ponto do mundo, incluindo nas várias freguesias da cidade onde se encontra. A Amazon cataloga todas as suas compras e infere se está grávida, que idade tem, o seu sexo, a sua condição de saúde.
As suas leituras não estão imunes. Que temas lhe interessam e como se posiciona politicamente. Não partilhou com ninguém a sua opinião sobre uma greve geral. Provavelmente ainda está em processo de formar uma posição final, mas o algoritmo já consegue inferir com grande grau de probabilidade a sua posição e agora, para o manter online, só tem de lhe sugerir conteúdos semelhantes, reforçando uma predisposição.
Quando falamos de privacidade, estamos já condicionados pela propaganda de quem utiliza a nossa intimidade como fonte de lucro. Tem algo a esconder? Como se pretender manter reserva sobre a vida pessoal fosse uma afronta e não um direito inalienável. Um indício de culpa de uma atividade criminosa ou moralmente reprovável.
A Constituição Portuguesa estabelece no seu art.º 35: “É proibida a atribuição de um número nacional único aos cidadãos.” Não é uma disposição recente, constou logo da primeira versão aprovada em 1976 e visava pôr fim a um projeto do Estado Novo, um registo único para cada indivíduo. Tudo sobre alguém num único lugar. Um poderoso instrumento de vigilância e coerção. Hoje, sem número único, mas munidas de autorizações de consentimento, empresas de tecnologia recolhem informação, agregam info recolhida por outras, analisam, criam perfis. Com esta informação, “educam” as nossas opiniões. Condicionam aquilo que pensamos e como agimos. Reforçam receios, manipulam desejos. O seu objetivo é o lucro e os seus serviços estão à venda para quem saiba usá-los, sejam políticos hábeis na utilização do TikTok e do Instagram, Estados terceiros empenhados em criar a divisão (encontra-se em curso pela Comissão Europeia uma investigação à influência russa nas eleições presidenciais na Roménia, via TikTok) ou uma seguradora que lhe oferece um seguro de saúde.
A Comissão Europeia prepara-se para rever o RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados). Insiste-se que é demasiado complexo, demasiado exigente, que trava a inovação. E, no entanto, o RGPD já hoje não protege a nossa intimidade, ao permitir que num clique nos tornemos um livro aberto. Não se trata de maior transparência sobre como os nossos dados são utilizados, mas de que há dados que não deveriam nunca ser armazenados e vendidos. São nossos, individuais e intransmissíveis.
Na revisão do RGPD, cidadãos e seus representantes no Parlamento Europeu devem combater a retórica da eficiência. Importa que prevaleça como valor inviolável o direito à intimidade na vida privada, nossa e dos outros.
Se lhe disserem que o seu telefone está sob escuta, e que alguém reúne e cataloga a informação que partilha numa conversa telefónica, como se sente? Não praticou nenhum crime, não tem conhecimento de ter contacto com alguém envolvido em atividades criminosas… A que propósito o juiz teria autorizado a escuta? E, no entanto, sem qualquer autorização judicial, a Google recolhe e cataloga todas as suas pesquisas online. O seu telefone regista todos os sítios onde se desloca, via o GPS, que até pode não ter propositadamente instalado, mas lhe permite saber a meteorologia, a todo o momento, em qualquer ponto do mundo, incluindo nas várias freguesias da cidade onde se encontra. A Amazon cataloga todas as suas compras e infere se está grávida, que idade tem, o seu sexo, a sua condição de saúde.
As suas leituras não estão imunes. Que temas lhe interessam e como se posiciona politicamente. Não partilhou com ninguém a sua opinião sobre uma greve geral. Provavelmente ainda está em processo de formar uma posição final, mas o algoritmo já consegue inferir com grande grau de probabilidade a sua posição e agora, para o manter online, só tem de lhe sugerir conteúdos semelhantes, reforçando uma predisposição.
Quando falamos de privacidade, estamos já condicionados pela propaganda de quem utiliza a nossa intimidade como fonte de lucro. Tem algo a esconder? Como se pretender manter reserva sobre a vida pessoal fosse uma afronta e não um direito inalienável. Um indício de culpa de uma atividade criminosa ou moralmente reprovável.
A Constituição Portuguesa estabelece no seu art.º 35: “É proibida a atribuição de um número nacional único aos cidadãos.” Não é uma disposição recente, constou logo da primeira versão aprovada em 1976 e visava pôr fim a um projeto do Estado Novo, um registo único para cada indivíduo. Tudo sobre alguém num único lugar. Um poderoso instrumento de vigilância e coerção. Hoje, sem número único, mas munidas de autorizações de consentimento, empresas de tecnologia recolhem informação, agregam info recolhida por outras, analisam, criam perfis. Com esta informação, “educam” as nossas opiniões. Condicionam aquilo que pensamos e como agimos. Reforçam receios, manipulam desejos. O seu objetivo é o lucro e os seus serviços estão à venda para quem saiba usá-los, sejam políticos hábeis na utilização do TikTok e do Instagram, Estados terceiros empenhados em criar a divisão (encontra-se em curso pela Comissão Europeia uma investigação à influência russa nas eleições presidenciais na Roménia, via TikTok) ou uma seguradora que lhe oferece um seguro de saúde.
A Comissão Europeia prepara-se para rever o RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados). Insiste-se que é demasiado complexo, demasiado exigente, que trava a inovação. E, no entanto, o RGPD já hoje não protege a nossa intimidade, ao permitir que num clique nos tornemos um livro aberto. Não se trata de maior transparência sobre como os nossos dados são utilizados, mas de que há dados que não deveriam nunca ser armazenados e vendidos. São nossos, individuais e intransmissíveis.
Na revisão do RGPD, cidadãos e seus representantes no Parlamento Europeu devem combater a retórica da eficiência. Importa que prevaleça como valor inviolável o direito à intimidade na vida privada, nossa e dos outros.
O crescimento do populismo no mundo
O populismo, outrora um fenómeno esporádico e localizado, tornou-se, nas últimas décadas, uma força global. De Donald Trump nos Estados Unidos a Lula e Jair Bolsonaro no Brasil, de Giorgia Meloni em Itália a Viktor Orbán na Hungria, passando por movimentos populistas em França, Polónia, Argentina e até Portugal, assistimos à emergência ou consolidação de lideranças políticas que se reclamam da “vontade do povo” contra as elites.
Mas o populismo é um sintoma ou uma doença da democracia? Estará em crescimento sustentado ou apenas a surfar ondas temporárias de descontentamento? A resposta exige uma leitura crítica do nosso tempo.
Embora o populismo assuma formas diferentes consoante os contextos políticos e culturais, há características comuns que o definem: a retórica da divisão entre “o povo puro” e “a elite corrupta”, o ataque às instituições tradicionais (como parlamentos, justiça e imprensa), a promessa de soluções simples para problemas complexos, e uma liderança forte, carismática e autoritária.
O crescimento do populismo tem sido evidente não só em países em desenvolvimento, mas também em democracias consolidadas, onde, paradoxalmente, deveria haver mais resistência a este tipo de discurso. Segundo vários estudos internacionais, o número de eleitores que se identificam com partidos populistas triplicou desde os anos 90.
Entre os fatores que alimentam o populismo, estão as crises econômicas e a desigualdade. A crise financeira de 2008, a austeridade que se seguiu, a precarização do trabalho e o aumento da desigualdade foram o terreno fértil para o crescimento populista. Milhões de cidadãos sentiram que o sistema económico deixou de os representar, tornando-se terreno fértil para promessas de “ruptura” e combate ao “sistema”.
Mais recentemente, a pandemia e a inflação aceleraram esta sensação de perda de segurança económica, tornando os discursos simplistas ainda mais apelativos.
Nos últimos tempos, tem crescido a desconfiança nas instituições democráticas. A percepção de que os partidos tradicionais são todos iguais, de que os políticos servem interesses privados, ou de que a justiça é lenta e parcial, mina a legitimidade democrática.
Neste cenário, os populistas apresentam-se como “antissistema”, mesmo quando integram ou aspiram ao poder.
Há, ainda, a considerar que muitos movimentos populistas de direita exploram o receio de perda de identidade cultural, associando a imigração e a multiculturalidade a uma suposta ameaça aos valores nacionais. A globalização, ao promover a circulação de pessoas, bens e ideias, é apresentada como uma força que dilui as fronteiras e enfraquece a soberania nacional.
O populismo promete, assim, “recuperar o controle”: das fronteiras, da economia, da cultura.
Outra frente de impulso são as redes sociais, que revolucionaram a forma como os cidadãos se informam e participam politicamente. Permitiram acesso direto a líderes, mas também facilitaram a desinformação, o discurso de ódio e a polarização. Os populistas, geralmente bons comunicadores, sabem explorar estas plataformas para amplificar as suas mensagens, contornar as mídias tradicionais e atacar os adversários sem filtros.
Quem cresce mais é o populismo de Direita, que ganha mais visibilidade mediática, especialmente na Europa e América, Já o populismo de esquerda – que denuncia as elites econômicas, o neoliberalismo, e promete justiça social e redistribuição – tem se arrefecido nos últimos tempos. Ambos têm em comum o apelo direto ao povo, a desconfiança nas instituições e a rejeição dos partidos tradicionais. No entanto, diferem profundamente nas suas propostas políticas, com a direita focada na identidade e ordem, e a esquerda na igualdade e inclusão.
Que consequências o crescimento do populismo tem para a democracia? O efeito sobre o sistema democrático é ambíguo. Por um lado, obriga o sistema a ouvir os marginalizados e a corrigir excessos de tecnocracia ou afastamento político. Por outro, fragiliza a democracia liberal ao atacar a separação de poderes, a liberdade de imprensa e os direitos das minorias.
Em regimes mais frágeis, os populistas no poder podem caminhar para o autoritarismo, silenciando a oposição, controlando os tribunais e alterando regras eleitorais. A democracia transforma-se então numa casca institucional com pouco conteúdo pluralista.
Vejamos o caso de Portugal, onde o populismo teve expressão marginal durante décadas, mas a partir da última década viu-se o crescimento de partidos como o Chega, que canalizam o descontentamento social com uma retórica populista, securitária e nacionalista. Ainda que longe de dominar o sistema, os seus resultados nas eleições e impacto no discurso público são significativos.
Tal como noutros países, o populismo português nasce do descontentamento acumulado com as políticas tradicionais, do medo face à mudança e da sensação de injustiça permanente.
Em suma, o populismo está a crescer no mundo, não como uma aberração, mas como uma resposta – legítima ou não – a falhas reais das democracias contemporâneas. Desigualdade, insegurança, corrupção e desinformação são combustível constante deste tipo de discurso.
Enfrentar o populismo exige mais do que condená-lo moralmente. Requer reformar as instituições, reduzir as desigualdades, promover literacia política e devolver dignidade à ação pública. Só assim será possível responder às angústias do presente sem sacrificar os princípios fundamentais da democracia.
Mas o populismo é um sintoma ou uma doença da democracia? Estará em crescimento sustentado ou apenas a surfar ondas temporárias de descontentamento? A resposta exige uma leitura crítica do nosso tempo.
Embora o populismo assuma formas diferentes consoante os contextos políticos e culturais, há características comuns que o definem: a retórica da divisão entre “o povo puro” e “a elite corrupta”, o ataque às instituições tradicionais (como parlamentos, justiça e imprensa), a promessa de soluções simples para problemas complexos, e uma liderança forte, carismática e autoritária.
O crescimento do populismo tem sido evidente não só em países em desenvolvimento, mas também em democracias consolidadas, onde, paradoxalmente, deveria haver mais resistência a este tipo de discurso. Segundo vários estudos internacionais, o número de eleitores que se identificam com partidos populistas triplicou desde os anos 90.
Entre os fatores que alimentam o populismo, estão as crises econômicas e a desigualdade. A crise financeira de 2008, a austeridade que se seguiu, a precarização do trabalho e o aumento da desigualdade foram o terreno fértil para o crescimento populista. Milhões de cidadãos sentiram que o sistema económico deixou de os representar, tornando-se terreno fértil para promessas de “ruptura” e combate ao “sistema”.
Mais recentemente, a pandemia e a inflação aceleraram esta sensação de perda de segurança económica, tornando os discursos simplistas ainda mais apelativos.
Nos últimos tempos, tem crescido a desconfiança nas instituições democráticas. A percepção de que os partidos tradicionais são todos iguais, de que os políticos servem interesses privados, ou de que a justiça é lenta e parcial, mina a legitimidade democrática.
Neste cenário, os populistas apresentam-se como “antissistema”, mesmo quando integram ou aspiram ao poder.
Há, ainda, a considerar que muitos movimentos populistas de direita exploram o receio de perda de identidade cultural, associando a imigração e a multiculturalidade a uma suposta ameaça aos valores nacionais. A globalização, ao promover a circulação de pessoas, bens e ideias, é apresentada como uma força que dilui as fronteiras e enfraquece a soberania nacional.
O populismo promete, assim, “recuperar o controle”: das fronteiras, da economia, da cultura.
Outra frente de impulso são as redes sociais, que revolucionaram a forma como os cidadãos se informam e participam politicamente. Permitiram acesso direto a líderes, mas também facilitaram a desinformação, o discurso de ódio e a polarização. Os populistas, geralmente bons comunicadores, sabem explorar estas plataformas para amplificar as suas mensagens, contornar as mídias tradicionais e atacar os adversários sem filtros.
Quem cresce mais é o populismo de Direita, que ganha mais visibilidade mediática, especialmente na Europa e América, Já o populismo de esquerda – que denuncia as elites econômicas, o neoliberalismo, e promete justiça social e redistribuição – tem se arrefecido nos últimos tempos. Ambos têm em comum o apelo direto ao povo, a desconfiança nas instituições e a rejeição dos partidos tradicionais. No entanto, diferem profundamente nas suas propostas políticas, com a direita focada na identidade e ordem, e a esquerda na igualdade e inclusão.
Que consequências o crescimento do populismo tem para a democracia? O efeito sobre o sistema democrático é ambíguo. Por um lado, obriga o sistema a ouvir os marginalizados e a corrigir excessos de tecnocracia ou afastamento político. Por outro, fragiliza a democracia liberal ao atacar a separação de poderes, a liberdade de imprensa e os direitos das minorias.
Em regimes mais frágeis, os populistas no poder podem caminhar para o autoritarismo, silenciando a oposição, controlando os tribunais e alterando regras eleitorais. A democracia transforma-se então numa casca institucional com pouco conteúdo pluralista.
Vejamos o caso de Portugal, onde o populismo teve expressão marginal durante décadas, mas a partir da última década viu-se o crescimento de partidos como o Chega, que canalizam o descontentamento social com uma retórica populista, securitária e nacionalista. Ainda que longe de dominar o sistema, os seus resultados nas eleições e impacto no discurso público são significativos.
Tal como noutros países, o populismo português nasce do descontentamento acumulado com as políticas tradicionais, do medo face à mudança e da sensação de injustiça permanente.
Em suma, o populismo está a crescer no mundo, não como uma aberração, mas como uma resposta – legítima ou não – a falhas reais das democracias contemporâneas. Desigualdade, insegurança, corrupção e desinformação são combustível constante deste tipo de discurso.
Enfrentar o populismo exige mais do que condená-lo moralmente. Requer reformar as instituições, reduzir as desigualdades, promover literacia política e devolver dignidade à ação pública. Só assim será possível responder às angústias do presente sem sacrificar os princípios fundamentais da democracia.
Assinar:
Comentários (Atom)