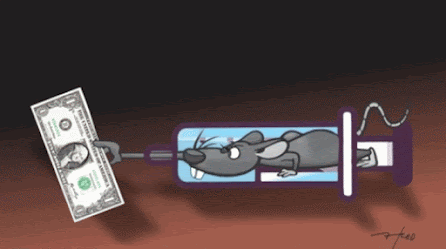Maringá é bem mais do que se mostra ao visitante em seu tradicional city-tour: A cidade planejada, super arborizada, detentora de um dos melhores índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do país. Além disso, também é pólo submerso de transações empresariais, políticas e partidárias, de gente que atua nas sombras e opera tenebrosas negociatas, contratos e acordos com a marca do Centrão, principal grupo de sustentação atual do governo. Sempre com antena ligada para captar novos sinais do vento a favor, para aderir ao poderoso da vez em Brasília. É nos desvãos deste espaço cinzento – que se abrem ou se fecham negócios envolvendo o poder público em mistura espúria com interesses privados (a exemplo da compra da vacina da Covaxin) – que atua o chefe maior do grupo, filiado ao PP (uma das “grifes” políticas mais notórias da corrupção nacional nas últimas décadas), o deputado Barros, que todos os sinais e revelações conhecidos até aqui apontam como envolvido até o pescoço nesta escandalosa negociata. Segundo revelou o deputado Luiz Miranda (DEM-DF), que levou dados do malfeito ao presidente em seu gabinete, e ouviu dele: “Isso é coisa do Barros, esse…”.
O estuário da política e dos negócios de Ricardo Barros, sabe-se agora, é também a cidade onde o líder do governo cuida de seu bunker dos acordos e jogadas. Aí, ele mantém um tabuleiro de xadrez, de pedras em mármore verdes e brancas, cores da bandeira do Paraná, sobre a mesa de reuniões de seu escritório político, no centro histórico de Maringá, principal reduto do parlamentar, que já foi prefeito do lugar, transformado em feudo de seus familiares, sócios, cabos eleitorais e amigos.
“As peças estão sempre arrumadas como que aguardando o movimento inicial, e servem de testemunhas silenciosas das reuniões deste líder do Centrão com prefeitos, empresários, parlamentares e altos funcionários públicos, como aparece em fotos nas redes sociais”, relata o atento e competente repórter Gil Alessi, em reportagem do jornal espanhol El País. Tem mais, muito mais, mas ficamos por aqui, por enquanto, até por questão de espaço. Semana que vem está marcado o depoimento de Ricardo Barros na CPI, aguardado com grande expectativa de revelações por alguns, e evidente nervosismo e temor por outros, instalados no núcleo do poder federal. Quem sabe a nação ficará sabendo a função e significado de cada peça do tabuleiro em Maringá. A conferir.