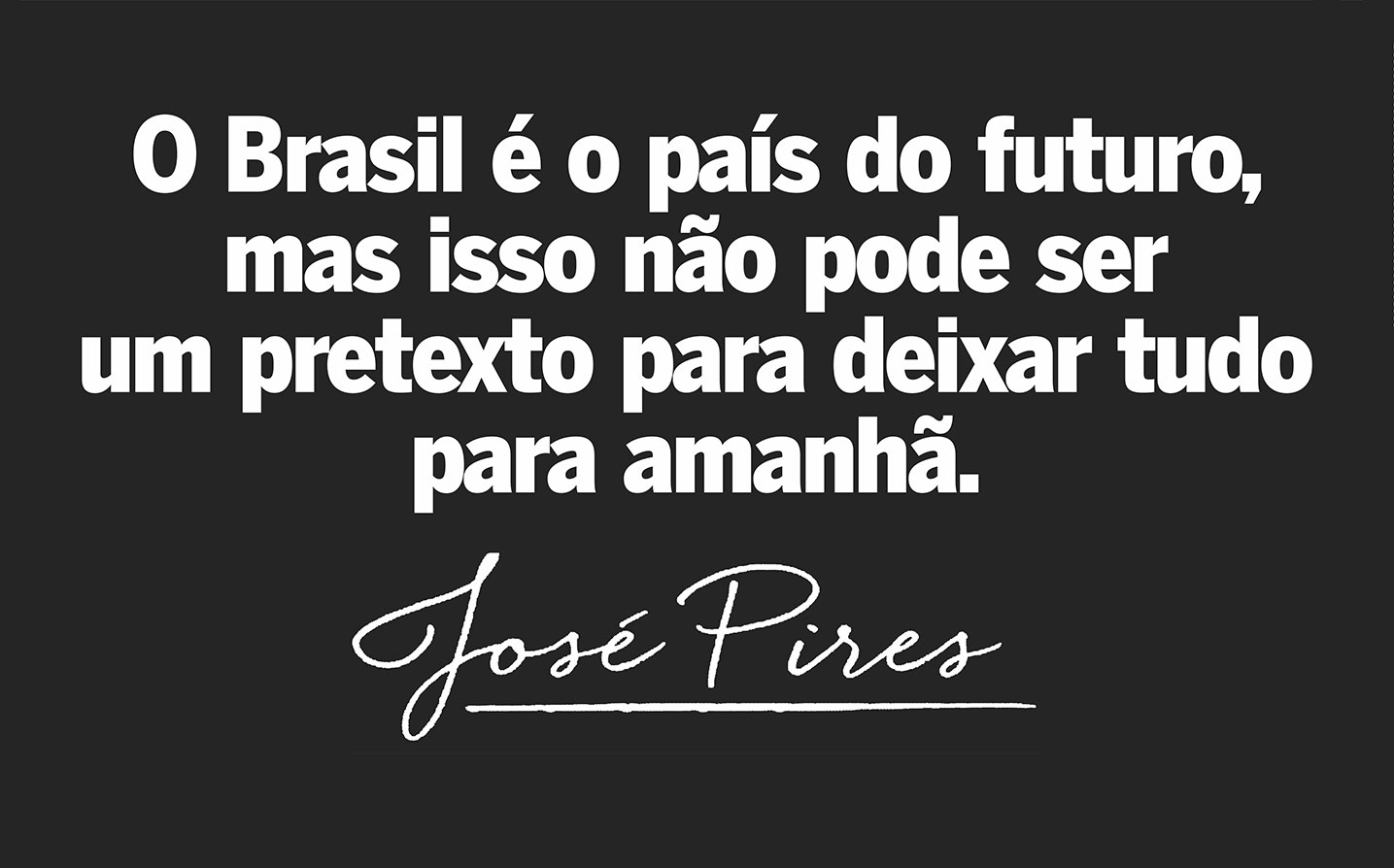As últimas Conferências do Clima das Nações Unidas avançaram nas estimativas sobre o aquecimento global. A essa altura, já se conhece os setores econômicos que mais emitem, bem como os países e regiões. Da mesma forma, sabe-se os efeitos causados aos biomas e às populações, e o montante de prejuízos acumulado.
É bem verdade que as tratativas evoluíam razoavelmente até que a COVID19 seguida da guerra na Ucrânia arrefeceram a disposição dos governos e das empresas de cumprir as metas multilaterais de descarbonização, especialmente nos setores de energia, combustíveis e alimentos.
Contudo, nem o Corona Vírus e nem Putin podem ser condenados como carrascos isolados (nem sequer principais) da desaceleração das providências previstas nos acordos climáticos vigentes.
Acontece que o fator limitante dos avanços é estrutural e se encontra entre os pilares da economia moderna, que fundamentam tanto o investimento privado como o gasto público que o subsidia. Ao final, seja governo, seja empresa, ninguém se anima em fechar seus balanços no vermelho.
 |
| Thiago Lucas |
Para sermos mais exatos, a regra básica dos mercados é não apenas fechar no azul, como também maximizar esses resultados positivos. É uma ‘lei’ da eficiência que não merece juízo de valor em si, porque busca a obtenção dos melhores resultados possíveis, como em qualquer outra atividade humana.
Para isso, um caminho comprovadamente eficaz é minimizar os custos. E é exatamente nessa minimização de custos que o setor privado desde sempre tem exagerado em economizar, negligenciando nos princípios da Responsabilidade Socioambiental (RSE) ou, mais recentemente, Governança Social e Ambiental (ESG).
O passivo ambiental e social vem sendo percebido, contabilizado, regulamentado e tratado gradualmente, a partir das legislações e políticas trabalhistas, de saúde pública, saneamento, poluição do ar e água. O problema é que a produção industrial, a agropecuária, as cidades, a população e o consumo crescem muito mais rápido do que o nível de conscientização geral sobre a degradação que se provoca sobre as condições de sustentação da vida em grau planetário.
Até algumas décadas atrás, só se percebeu a escala global do estrago depois que ele estava feito. Em certo momento, fez todo o sentido quando Al Gore chamou o dilema climático de “verdade inconveniente”, porque se tratava de um despertar para um problema temporal difícil de responder: como corrigir os estragos passados, estancar os estragos atuais, prevenir os estragos futuros e se adaptar aos estragos irreversíveis?
Hoje, mesmo sendo possível prever o agravamento e os efeitos futuros, a resposta poderia ser mais fácil se não estivesse inevitavelmente associada a questões adicionais: como resolver tudo isso ao mesmo tempo, sem parar a economia e sem aprofundar as desigualdades sociais? Dito de outra forma, como descascar o abacaxi da mudança climática mantendo o setor privado lucrativo, os governos eficientes e os pobres menos pobres.
Vai ser difícil chegar a uma solução efetiva sem um volume de investimento em tecnologias, infraestruturas e serviços (públicos e privados) que transcende as vacas sagradas da economia e da administração contemporâneas. Será indispensável rever as definições de público, privado, lucro, risco, custo, produtividade, riqueza e soberania. Em alguma medida, ninguém vai escapar de pagar essa conta.
 |
| Rodrigo de Matos |
O recente período de selvageria, barbárie e obscurantismo pelo qual o Brasil passou e, residualmente, ainda passa equivocadamente deu-se a ver, para muitos, como vitória final do totalitarismo inaugurado em 1964. Desde o golpe pseudorrepublicano de 1889, o povo brasileiro vem sendo tratado como inimigo estrangeiro do país. Com tudo que tem acontecido, é difícil saber quem é o amigo. Essa é a chave para compreender nosso atraso político crônico.
Nem ficou claro o que explica o fato fantástico de que o mesmo país tenha dado passos gigantescos, com os pés, as mãos e o cérebro, do “inimigo”, na direção de uma sociedade quase desenvolvida. O “inimigo” interno tem sido, justamente, o revolucionário e transformador do Brasil do atraso num Brasil de modernidade própria e criativa.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2023/e/P/u5Z0KfRgSBPUFwgDHErg/foto09cul-201-social-d4.jpg)
Um interessantíssimo artigo - “Mormaço e parceria na floresta” - assinado por Almir Suruí, cacique do povo Paíter-suruí, de Rondônia, e Marcelo Thomé, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, publicado na “Folha de S. Paulo” do dia 1º de junho, torna visível as reais características e possibilidades de um Brasil pouco visto, pouco ouvido e pouco conhecido.
No entanto, o Brasil se move para fora do caos e dos preconceitos de uma ignorância social e política que arrasta o país para o fundo do abismo de uma opção histórica antibrasileira e antissocial.
Os dois autores expressam a vitalidade criativa da diferença cultural e linguística que os torna inventivos e capazes de uma rica consciência brasileira do que o Brasil precisa para assegurar o futuro de todos. Sobretudo das novas gerações de brasileiros de diferentes subidentidades nacionais.
O artigo ressalta os desafios criativos de uma nova problemática do mundo e de uma nova consciência democrática da mundialidade do mundo. A que tem no centro as possibilidades da Amazônia e a enorme relevância da questão ambiental na gestação de uma nova realidade social e econômica.
Estamos em face de uma nova concepção de desenvolvimento econômico com desenvolvimento social, de uma economia e de uma realidade social que emerge das fraturas produzidas por uma concepção equivocada de capitalismo, obsoleta e antissocial, anticapitalista e autodestrutiva.
Os antiquados protagonistas da história social, política e econômica não estão sendo os protagonistas e inventores desse mundo novo, aberto, abrangente, inventivo, de conciliação integrativa dos diferentes e das diferenças, tolerante. Regido por aguda consciência da diversidade e do alcance criativo das esdrúxulas carências sociais detonadas por um neoliberalismo econômico anti-humano. Os seres humanos estão de volta, de diferentes modos, no mundo inteiro.
É simbólico que um cacique do povo paíter seja um dos protagonistas desse acontecimento histórico. Há pouco mais de meio século, quando os brancos começavam a se aproximar dessa nação e a invadir seu território, em Rondônia, quando o cacique com eles se defrontou, estendeu-lhes as mãos e proclamou “branco, eu te amanso”.
Eu fazia pesquisa na região amazônica sobre a expansão da fronteira econômica interna e chegara a Rondônia pouco depois de uma tragédia shakespeariana envolvendo, justamente, um adolescente suruí e uma adolescente branca, filha de colonos capixabas.
Oréia havia aprendido português nos primeiros contatos com a Funai e se integrou com a equipe de aproximação entre brancos e indígenas. Apaixonou-se por Orminda, e ela por ele. Foi imensa a resistência da família dela a um eventual casamento dos dois.
Oréia fez o que foi comum na relação entre índios e brancos, até os anos 1970, o rapto de brancos por indígenas e o rapto de indígenas por brancos. A moça foi recapturada pela família e enviada de volta ao Espírito Santo, para os parentes que lá ficaram.
Oréia entrou em profunda depressão. Os amigos de seu grupo de idade atacaram a família da moça, imaginando retomá-la. Houve mortes. A família atacada reagiu e atacou a aldeia indígena. Matou e esquartejou um Oréia inerte, na rede, e espalhou seus restos pela mata onde provavelmente seria devorado pelos animais.
O artigo de Almir Paíter-Suruí e de Marcelo Thomé mostra que a luta do povo Suruí nesse meio século triunfou no amansamento do branco, no reconhecimento do indígena como ser de uma pluralidade situacional complexa, da qual o ser humano é o principal protagonista da recriação do mundo como um todo, como árvore, rio e chuva, flor e fruta, comida e remédio, cântico e alegria, sonho e esperança, como bem comum, como humanização do homem.
O incrível significado dessa aliança inteligente nos fala de outros indícios de insurgência histórica que irrompem nas brechas de um mundo destroçado.
As decisões tomadas nas últimas semanas confirmam que grande parte da classe política acredita na máxima criada por Millôr Fernandes: “O Brasil tem um enorme passado pela frente”. Ataque à agenda ambiental, tentativa de reduzir os direitos dos povos indígenas, confusão entre o que é liberdade de expressão e os crimes de ódio na internet, subsídios temporários à velha indústria automobilística (e não às suas novas formas) e, o mais fascinante choque de temporalidades, a descoberta de corrupção alimentada pelo secular clientelismo na compra de itens de robótica para escolas. Essa é apenas parte de uma lista de um país cuja elite ainda não entendeu que precisamos montar uma agenda para enfrentar os desafios do século XXI.
É óbvio que montar uma agenda para o futuro supõe atuar contra mazelas atuais ou que nunca foram realmente vencidas, como o racismo. Mas não é possível lutar contra o que está errado hoje com as mesmas armas do passado. Fazer a ponte entre o combate ao atraso estrutural do Brasil e as necessidades do século XXI deveria ser a tarefa mais importante de nossa elite política e social.
Infelizmente, a maioria dos políticos brasileiros está adotando o retrovisor como guia de suas ações. Uma parte deles para defender grupos de interesses que não querem mudar seu status quo, pois manter o país como ele é hoje significa consagrar um modelo social que os privilegiou até agora. Outra porção luta contra o futuro porque tem medo de mudar, temendo uma sociedade mais aberta. Há ainda uma parcela que escolhe visões de mundo ultrapassadas por seguir ideologias ou porque não entende o sentido das transformações contemporâneas. De todo modo, poucos têm se arriscado em defender ideias que olhem basicamente para frente.

Mesmo não havendo um guia completamente certeiro para definir os caminhos futuros do país, alguns estudos e evidências apontam para temas com impacto amplo sobre os principais problemas brasileiros, de modo a gerar um efeito bola de neve, que traz ganhos crescentes à sociedade. São poderosas alavancas para enfrentarmos melhor os desafios do século XXI e, ao mesmo tempo, reduzirmos drasticamente o legado negativo do passado.
Haveria uma lista maior de alavancas para o futuro, mas três podem ser destacadas aqui, neste curto espaço da coluna, por terem um impacto amplo e profundo. A primeira delas é a política para a primeira infância. É claro que outras faixas etárias de crianças e jovens também precisam de atenção, especialmente os adolescentes que têm abandonado a escola, seguindo para o mundo do crime ou para uma profissionalização precária, o que os condena ao desemprego ou à informalidade com baixos rendimentos nos próximos anos.
A escolha pela centralidade estratégica da primeira infância ocorre não em detrimento de outras faixas etárias, mas por ser um investimento com maior alcance e profundidade sobre as gerações futuras. As evidências científicas revelam que se crianças até os 6 anos de idade receberem os cuidados e estímulos necessários, elas terão mais chances de se desenvolverem no futuro. Aprenderão e avançarão mais na escola, terão melhor saúde, menos possibilidades de entrarem na criminalidade, poderão encontrar empregos mais qualificados e tenderão a ser mais resilientes frente aos inúmeros desafios da vida adulta.
Ter jovens mais preparados para a vida é fundamental para todos os países. Ao caso brasileiro, acrescente-se mais uma coisa: investir na primeira infância é uma arma fundamental contra suas enormes desigualdades. Neste sentido, quando se fala em política pública para crianças até os 6 anos de idade, o objetivo maior é atingir aquelas que vivem nos territórios e famílias mais vulneráveis. Combate-se assim o mal das disparidades sociais em suas raízes, garantindo aos indivíduos uma maior igualdade de oportunidades num momento temporal que afeta os demais ciclos etários.
O impacto das políticas de primeira infância, ressalte-se, não atinge apenas as crianças envolvidas. As famílias são fortemente beneficiadas por esse tipo de ação, gerando maior informação, apoio e recursos para a criação de suas filhas e filhos. As mães podem trabalhar mais tranquilamente e ter acesso a práticas de cuidado que podem melhorar a compreensão do mundo à sua volta.
Interessante notar que se a política de primeira infância for efetivamente integral, abarcando todos os aspectos necessários para o desenvolvimento infantil, esse efeito do indivíduo (a criança) pode chegar às suas famílias e, depois, pode se ampliar para outros grupos familiares na vizinhança, que participando dessas políticas mudam coletivamente a sua visão de mundo (o mindset) e podem inclusive conversar sobre todo esse processo.
Eis aqui uma das razões de essa política pública ser uma alavanca tão poderosa de transformação social apontada para um futuro melhor: ela faz a ponte entre a mudança individual futura e o impacto imediato no coletivo de pais e mães de um território.
Os desafios de uma política integral de primeira infância são imensos. O seu sucesso passa, primeiro, por uma maior articulação colaborativa entre os três entes federativos com o intuito de dar escala a essa política numa estrutura municipal bastante desigual. Depois, é fundamental garantir a intersetorialidade, pois a criança deve receber serviços articulados nos campos da saúde, educação e assistência. E, por fim, é preciso capacitar bem os profissionais da ponta do sistema, para que possam atuar de forma efetiva junto às famílias mais carentes, tornando-as também partícipes do processo de desenvolvimento infantil de seus filhos e filhas.
Como se vê, a política da primeira infância é uma tarefa ampla e complexa, mas que pode mudar o futuro do país. É nisto que os políticos de Brasília e de todos os recantos do país deveriam estar pensando, e não em agendas particulares, exotéricas ou do passado.
Uma segunda alavanca para nos jogar mais rapidamente a um futuro melhor é a reforma tributária. Isso se deve a duas razões. A primeira é que a lógica dos tributos brasileiros geralmente é regressiva, prejudicando os mais pobres. Mudar esse padrão é fundamental para combater a desigualdade. Existe também uma segunda razão, tão importante quanto a primeira: o atual sistema de impostos e contribuições é um obstáculo para o crescimento econômico e para a criação de empregos.
A tributação indireta brasileira é um manicômio econômico, portadora de grande instabilidade jurídica e objeto de mudanças constantes e negociações nem sempre transparentes com grupos econômicos em busca de privilégios. Se há uma certeza grande no Brasil, é que esse modelo tributário fracassou por completo. Reformá-lo é uma porta importante para termos um futuro econômico e social melhor. Claro que ainda será necessário mexer com os impostos diretos, a fim de aumentar a justiça fiscal e, por tabela, garantir um tratamento equânime aos brasileiros.
Caso o Congresso Nacional apoie tais reformas no campo tributário, será uma sinalização de que é possível sair da agenda do passado e começar a do futuro. Obviamente que vários grupos de interesse vão pressionar para manter seu status quo e privilégios fiscais. Os políticos vão saber escolher o justo neste jogo? Quem defenderá os pobres e a produtividade econômica nesta batalha? Não se trata de imaginar que tudo tem de ser aprovado como o Executivo quer, pois numa democracia é preciso ouvir vozes dissonantes e incorporar demandas legítimas. Mas é preciso dizer aos congressistas: a cara que eles derem à versão final valerá sobretudo para definir a qualidade de vida de seus filhos e netos, que se dará ou num país desigual e violento, ou numa nação mais igualitária, prospera e sustentável.
E aqui entra a terceira agenda garantidora de um futuro melhor ao Brasil: a sustentabilidade. O efeito bola de neve de ganhos crescentes é evidente neste tema. É um caminho para transformar a questão ambiental numa forma de gerar mais riqueza, de aumentar a importância internacional do país, de estabelecer uma matriz energética verde como um ativo econômico poderosíssimo e de mudar o padrão predatório de sociedade, algo que vale tanto para os bandidos que depredam a natureza na Amazônia, como também para os governantes locais e seus pactos empresariais que prometem um futuro de Blade Runner às grandes cidades brasileiras.
Se as outras duas agendas abrem portas larguíssimas para se ter um horizonte social mais saudável, não cuidar da sustentabilidade significará, necessariamente, não ter um futuro melhor do que o passado. Ir contra o meio ambiente é como fazer gol contra, só que prejudicando mais os que virão depois, sendo eles herdeiros de fazendeiros, de banqueiros, de professores, de empregadas domésticas ou até mesmo de políticos.
É preciso perguntar à elite da classe política brasileira se ela quer seguir a lógica do retrovisor ou preparar o Brasil para os desafios do século XXI. A próxima eleição é sempre muito perto, mas o lugar que se ganha nos livros de história continua sendo o melhor termômetro de uma geração de políticos. Ulysses Guimarães fez a redemocratização e alçou o Congresso a um lugar de grande respeitabilidade. O que dirá o futuro de quem não conseguiu largar o passado e o atraso?
A América Latina foi sempre um continente extravagante. Por aqui acontecem coisas inusitadas que não ocorrem em nenhum outro lugar do mundo. Afora o fracasso generalizado de todos os nossos países em construir economias saudáveis e prósperas, apesar da abundância de recursos, temos sido pródigos em experimentos políticos equivocados e desastrados.
Comparando a história política de nosso infeliz continente nos últimos 80 anos com a história dos países ocidentais mais bem sucedidos, não é possível fechar os olhos para as diferenças. Enquanto por lá surgiram homens como Roosevelt, Churchill, De Gaulle, Adenauer, Mitterrand, Kohl, Kennedy, por aqui a galeria é quase sempre sombria: Getúlio, Peron, Fidel Castro, Pinochet, autocratas impiedosos e obscurantistas que envenenaram nossa cultura política e deixaram marcas profundas em nossas instituições, pois seus fantasmas ainda vagam impunes entre nós.
Tivemos é claro nossos interlúdios democráticos, os quais introduziram na vida do país elementos civilizatórios. Agora parece que, pelo menos aqui no Brasil, estamos imunizados contra as tentações autoritárias, embora nossas instituições pareçam ainda funcionar de um modo desajeitado, resultado de uma cultura política que contém muitos traços de uma lógica autocrática.

Neste momento vivemos no pior dos mundos. Nossas instituições estão funcionando no limite da desordem e como resultado o Estado está caminhando para uma espécie de paralisação. Os Poderes estão se movendo em desarmonia, cada qual numa esfera própria, sem qualquer sinergia. Tanto nossa sociedade como nossa economia não estão acostumadas a funcionar sem o Estado. Isto provem de uma forte herança cultural, pois no Brasil o Estado é anterior à sociedade e sempre vivemos sob o manto de uma autoridade centralizada. Quando o Estado se ausenta ou deixa de ter uma liderança ativa e clara, sociedade e economia entram num certo modo de dormência. É onde estamos neste momento. Ninguém sabe onde está o Estado: no Governo, na Câmara, no Senado, ou no Supremo?
O Parlamento invadiu áreas que são próprias do Governo e mantem uma agenda paralela, construída no improviso. O Judiciário invade sistematicamente as competências do Legislativo e se arroga uma autoridade normativa que não tem e é incompatível com o regime democrático, onde só a vontade da população tem o poder de fazer as leis. Inventamos um regime tricameral. Diante desta realidade o Governo parece ter desistido de uma agenda transformadora e reduz a Presidência da República à mera gestão de poder político, indiferente às questões estruturais de longo prazo e às mudanças institucionais. Estamos em um universo em desordem.
Este é um estado de coisas que não pode perdurar por muito tempo. Um país ferido como o nosso, que está se atrasando em relação ao resto do mundo e cuja população está cada vez mais pobre e sem expectativas, não pode viver de crise em crise. Estamos nos encaminhando perigosamente para um beco sem saída, embora uma liderança esclarecida e generosa sempre possa iniciar uma reação, porque há reservas de racionalidade no interior de toda sociedade.
Este teria sido o papel do Presidente Lula. Eleito pelo voto de um universo bastante heterogêneo, que incluiu amplos segmentos da opinião pública brasileira não identificados com a velha agenda e com o modo de governar do Partido dos Trabalhadores, ele poderia ter optado por um governo plural, modernizante e pacificador. Pela sua idade e pela experiência adquirida em dois governos era legitimo que se esperasse dele essa grandeza. Seu governo, no entanto, tem sido o contrário de tudo isto.
Lula não percebeu, ou não aceitou, a nova correlação de forças na sociedade e no sistema político. Por meio de escolhas, de gestos e de palavras a cada dia deixa mais claro que não se conforma com as mudanças nos sentimentos da população. Se governar para todos e com todos significa renunciar às suas velhas crenças e às lealdades do passado, prefere não governar.
Infelizmente, é apenas isto o que nos espera.
Uma das razões que me levam a ler cada vez menos os jornais de língua inglesa é o problema do acesso. As notícias e reportagens baseiam-se cada vez mais na Wikipedia, no Twitter e nas outras redes sociais.
O mal é que interrompo logo a leitura para ir à Wikipedia e ao Twitter ver as fontes e, sem querer, formar logo uma opinião sobre o artigo em questão. É uma proximidade indesejável para quem gosta de ler os jornais, levando à exclamação igualmente indesejável: “Assim também eu…”
O mal ainda não chegou aos países latinos, mas, à medida que a Internet vai crescendo e se vai vulgarizando, é inevitável que chegue.

Dantes, os jornalistas tinham fontes que não eram imediatamente acessíveis aos leitores: arquivos próprios do jornal onde trabalhavam, livros e entrevistas com pessoas difíceis de contactar. Esta condição privilegiada — de ter acesso a fontes que não eram atingíveis pelo comum dos mortais — fazia com que o leitor quisesse partilhar os frutos desse acesso.
Também o trabalho do jornalista — trabalho de correr de um lado para o outro, falando com pessoas muito diferentes, compilando e contrastando testemunhos — atraía o leitor que, gulosa e preguiçosamente, queria beneficiar das conclusões.
Agora o jornalismo americano e inglês tende para ser a Wikipedia Plus. Apetece gritar. E aquilo que apetece gritar é aquilo que qualquer leitor quer: “Ó pá, diz-me alguma coisa que eu não saiba, baseado nalguma coisa que eu não possa ir ver!”
Um truque recente é escrever um texto baseado na Wikipedia que, para se justificar, aponta deficiências nas entradas que se consultaram. A ironia é pesada: a Wikipedia incorpora imediatamente a correção e, quando os leitores vão verificar, ficam com a ideia de que o jornalista está maluco.
Para mais, hoje em dia, todos os portadores de telemóveis se consideram investigadores exímios e o passatempo principal é pôr em causa o trabalho dos jornalistas. É preciso voltar às fontes inacessíveis.



/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2023/e/P/u5Z0KfRgSBPUFwgDHErg/foto09cul-201-social-d4.jpg)