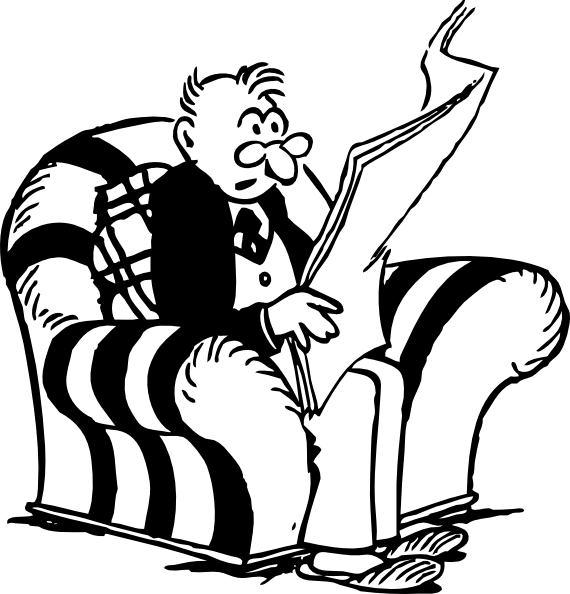O exemplo é o apanágio dos humanos. Esses bichos que não nascem prontos são programados para não ter programa e, por viverem na dúvida, precisam de mandamentos, leis e ideologias quase sempre vindas do céu e dos deuses que variam entre si, dependem de pessoas e, como ensinou Marx, de circunstâncias. O que é amizade aqui, é corrupção por lá; o que é ativismo político acolá, é crime aqui... Por isso, esse “bicho-homem” mata em nome da vida, suplicia em nome de Deus, torna-se criminoso aviltando boas causas.

Eu fico chocado quando ouço pessoas falando do “Brasil” como se elas não fossem também o Brasil e não precisassem de ninguém para fazer o Brasil que desejam. Na nossa alma, somente o “governo” é responsável e capaz de modificar o Brasil. Nesse caso, o exemplo viria dos administradores donos não somente do poder (na fórmula de Faoro), mas desse coisificado Brasil.
Uma visão vertical do sistema, nos leva a olhar quem está por cima (para pedir ou obedecer) ou por baixo (para favorecer ou cuidar), mas uma perspectiva horizontal hoje obrigatória muda tudo. Agora, o exemplo vem, esperamos, dos “supremos”, mas também do bom senso igualitário: de um olhar agudo para os lados. Sem isso, vamos continuar procurando messias e santos e encontrando caudilhos e boçais.
*
Cito uma um exemplo clássico:
“Quando Xerxes o grande Rei dos Persas perguntou como aquelas cidades gregas sem rei se levantariam contra ele, Demaratus (rei de Esparta exilado) replicou: Eles têm, sim, um senhor e esse senhor é a lei que eles temem muito mais do que qualquer dos seus súditos. O que esse mestre comanda eles obedecem e esse comando jamais varia – ele jamais retrocede nas guerras em qualquer que sejam as circunstâncias e permanecem em formação para conquistar ou morrer.” (ver On Politics, de Alan Ryan.)
*
Estamos muito longe dos gregos e mais ainda dos “índios”, que a boçalidade cultural situa na “idade da pedra”. Como ibéricos, o que vale para uns não vale para os outros. Cada caso é um caso e, embora a lei seja a mesma, o que conta não é o crime, mas quem o praticou. Não é a lei que submete o “paciente”; é – estamos pagando para ver – o “paciente” que a engloba.
A lei, reiterei no domingo de Páscoa com um desalento esperançoso, depende de quem estamos falando.
*
No livro de Suzanne Chantal, A Vida Cotidiana em Portugal ao Tempo do Terramoto (1755), Lisboa: Livros do Brasil, 1962, ela fala de uma instituição pouco analisada, mas rotineira lá e aqui: o empenho.
“O chefe da família (e da casa) era, mais ou menos, o responsável (...) pelo casamento das raparigas e pelo emprego dos rapazes. Acresce, assim, que muitas vezes tinha que meter empenhos por seus protegidos, e fazia-o sem escrúpulos nem vergonha. ‘Nomeie, pois, este rapaz oficial num dos seus regimentos – dizia tranquilamente um português ao Conde de Lippe, vindo para reorganizar o exército – ele foi meu companheiro durante vinte e cinco anos e isso merece recompensa.’
Custava recusar qualquer coisa a um amigo – que, aliás, era quase sempre um pouco compadre ou parente (...), por isso abundavam funcionários inúteis, legiões de criados, os procuradores parasitas que gravitavam, obsequiosos e sem problemas, à volta de todo homem de bem.
A proteção (...) estendia-se aos mais deserdados, mas também aos menos merecedores. Recomendava-se um incapaz e afiançava-se sem hesitações um malandrim. Desde que fosse primo de uma criada ou bastardo de um primo irrequieto. Uma pessoa influente pede a outra em benefício de uma terceira, geralmente indigna ou nula, e obtém para esta um favor imerecido, ou a sua isenção de um antigo merecido. De fato (...) a influência pessoal era usada a torto e a direito. (...) Um pedido tornava-se um teste. Quanto pior fosse o caso, quanto mais o protegido tivesse ofendido a moral ou a lei, quanto mais obstáculos houvesse a vencer, mais o protetor afirmaria o seu poder.(...)” (pág. 141).
Seria daí que viria o exemplo?