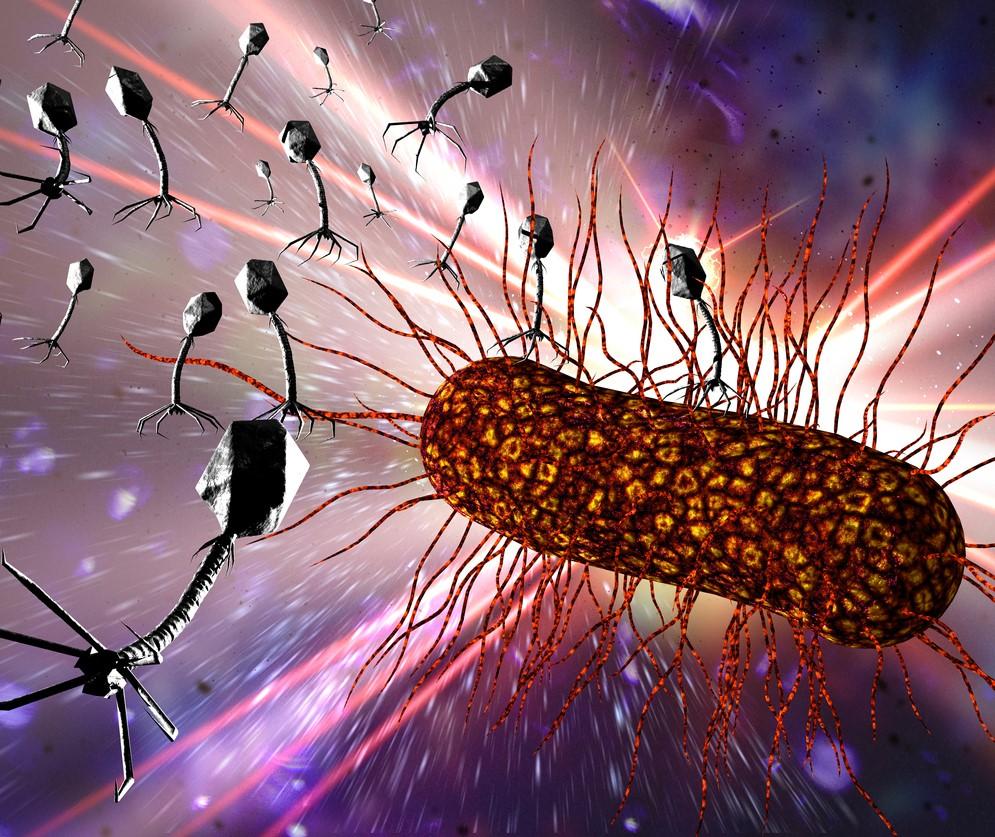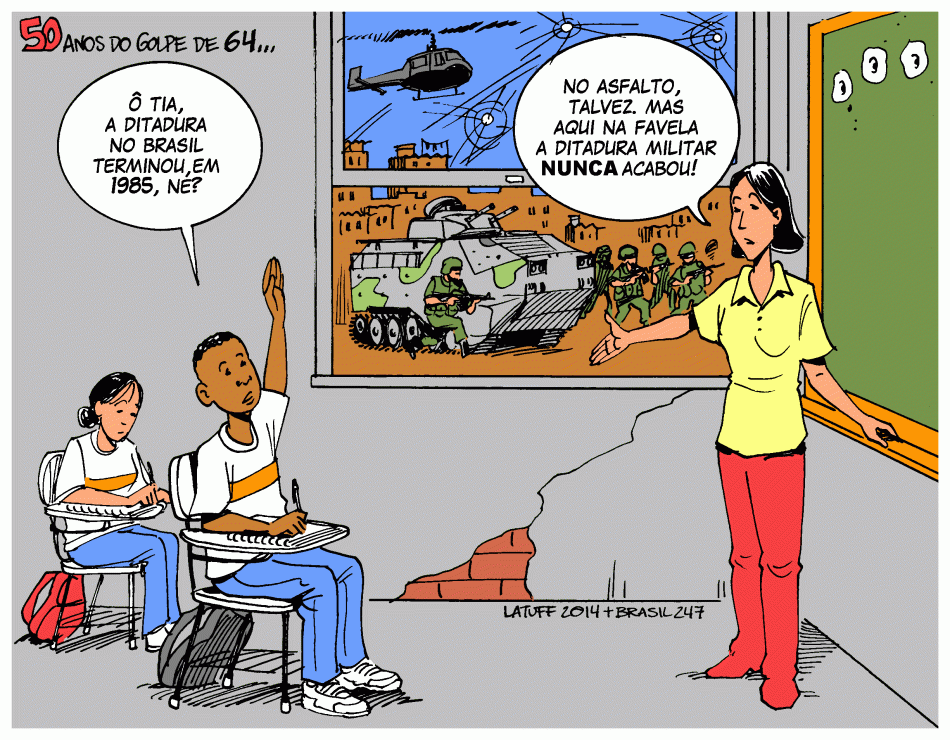No processo dos surpreendidos nos atos delinquentes da intentona política de 8 de janeiro de 2023, a variedade de tipos vai se tornando clara. Da multidão, as evidências indicam que essa variedade ganha perfil na mentalidade dos envolvidos de uma cultura de baixa classe média que tem componentes bem nítidos. Um deles, o componente religioso, sobretudo fundamentalista e pentecostal, do medo ao inferno e satanás.
Não é de agora que a mobilização popular se dá na cultura de medo e do pavor à modernidade e, aqui, na problemática modernização dos costumes. Os democratas prestariam um grande serviço à democracia se em sua militância levassem em conta a importância do diálogo respeitoso com a cultura anacrônica e tradicionalista dos simples. Que é, na verdade, repositório de valores sociais populares e insurgentes, socialmente criativos, em vez de desprezá-los e abandoná-los à voracidade de poder da classe média reacionária.
Convém ler Gramsci e Henri Lefebvre para compreender esse Brasil misterioso, um país do avesso.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2024/i/e/H5CRolQ2SHexUJo0udQw/05cul-100-social-d3-img01.jpg)
Uma cultura de pavor começou a ganhar corpo e sentido há mais de meio século em uma anômica consciência de fim de mundo, de que a modernização dos costumes seria um sinal. Sinal, também, de que essa modernização se explicaria pela recusa de Deus e consequentemente pela vitória de satanás.
Não só entre católicos do catolicismo popular mas também entre protestantes e evangélicos. Entre esses, na concepção de que é possível assegurar a salvação enquanto há tempo, coisa de um deus mercenário vulnerável à venda de um lugar de primeira classe da carruagem de fogo de Elias. Ou mesmo para nela acolher os destituídos de meios, no pagamento por meio do sofrimento voluntário, como a fome por opção penitencial.
Foi o que aconteceu em Minas Gerais, em meados dos anos 1950, em Malacacheta, quando na Semana Santa um grupo de adventistas da promessa entrou em vigília de oração, à espera do profeta que viria buscá-los. E acabou matando crianças e animais, que estavam com fome porque perturbavam a celebração do arrebatamento próximo e a ascensão dos crentes ao céu.
Esse episódio está documentado num estudo de cientistas sociais da USP que foram ao local quando a polícia prendeu os participantes. Nesse estudo inspirado, Jorge Andrade escreveu a peça de teatro “Vereda da Salvação”, que Anselmo Duarte adaptou para o cinema no filme do mesmo nome.
Livrar o país desse satanás apocalíptico é o mote de uma cultura persistente e disseminada, herética, que tem contaminado vários âmbitos da realidade brasileira e desde os anos 2018, o âmbito das seitas religiosas instrumentalizadas pelo nosso autoritarismo político saudoso da ditadura militar.
Nos depoimentos divulgados do processo de 8 de janeiro, vários são de evangélicos que alegam ter ido a Brasília e participado da invasão dos palácios do Executivo, do Legislativo e do Judiciário para orar pelo Brasil, de joelhos. O que é perda de tempo pois Deus está do lado da democracia e do direito. Os fiéis dessa religiosidade tosca não sabem é que o cristianismo pressupõe que Deus é onipresente e onisciente. Brasília foi, portanto, um pretexto inútil.
Se o Estado brasileiro não fosse o de um país possuído pelo satanás do oportunismo, do autoritarismo e da saudade pela ditadura da repressão, da tortura e dos assassinatos, do republicanismo forçado, do capitalismo rentista e anticapitalista, provavelmente não teria havido o 8 de janeiro.
Teria em tempo tomado providências enérgicas e sérias para impedir que os lugares do poder fossem transformados em templos heréticos de uma religiosidade tosca e materialista. Se nesse sentido a Constituição e nela a separação entre Estado e religião fosse observada com rigor.
Um eloquente exemplo dessa religiosidade partidária foi a manifestação da então primeira-dama, em 7 de agosto de 2022, na igreja batista pentecostal da Lagoinha, em Belo Horizonte: “Vamos continuar orando, intercedendo em todos os lugares, sabem por quê? Por muito tempo aquele lugar (o Palácio do Planalto) foi um lugar consagrado a demônios e hoje consagrado ao Senhor Jesus. (...) Essa cadeira é do presidente maior, o rei que governa esta nação”. Bolsonaro ajuntou: “A função que ocupo é função de Deus”.
A baderna de 8 de janeiro foi momento de uma conspiração para transformar o Brasil numa república teocrática, antidemocrática, para colocar o país de joelhos. Sua lógica não é política porque imune à lei e às instituições. O castigo da punição dos que foram presos apenas lhes confirma que não se trata de punição educativa, mas provação justa e redentora, prêmio divino, pela transgressão da Constituição e pela violência contra as instituições.
Somos perfeitos como alvo não apenas para os vetores, mas para os agentes causadores de doenças em si. O ser humano é tudo o que vírus, bactérias, parasitas e fungos precisam para viver e se multiplicar. Somos extremamente numerosos, estamos em toda parte, nos adaptamos a qualquer lugar, comemos de tudo. E os agentes infecciosos têm vida curta, não têm tempo a perder. Por isso, mesmo se adaptam depressa. E produzimos o lugar ideal para eles.
Marcia Chame, bióloga e pesquisadora titular da Fiocruz
Existem datas que, pelos malefícios ou maldades provocados, jamais podem ser esquecidas. Uma delas é o 1.º de abril de 1964, que instituiu uma ditadura que durou 21 anos e completou 60 anos há poucos dias.
Não pretendo substituir-me à ampla e minuciosa rememoração daqueles acontecimentos publicada dias atrás por este jornal, mas relembrar certos períodos e fatos ocorridos ou que eu próprio presenciei. Eu era jornalista em Brasília e recordo com nitidez a sessão do Congresso Nacional em que o senador-presidente, sem qualquer debate, declarou “vaga” a Presidência da República – numa sessão em plena madrugada e que durou no máximo dez minutos. O pretexto invocado fora uma carta ao Congresso em que o então chefe da Casa Civil informava que o presidente da República iria transferir o governo para Porto Alegre, “em vista dos últimos acontecimentos militares”.
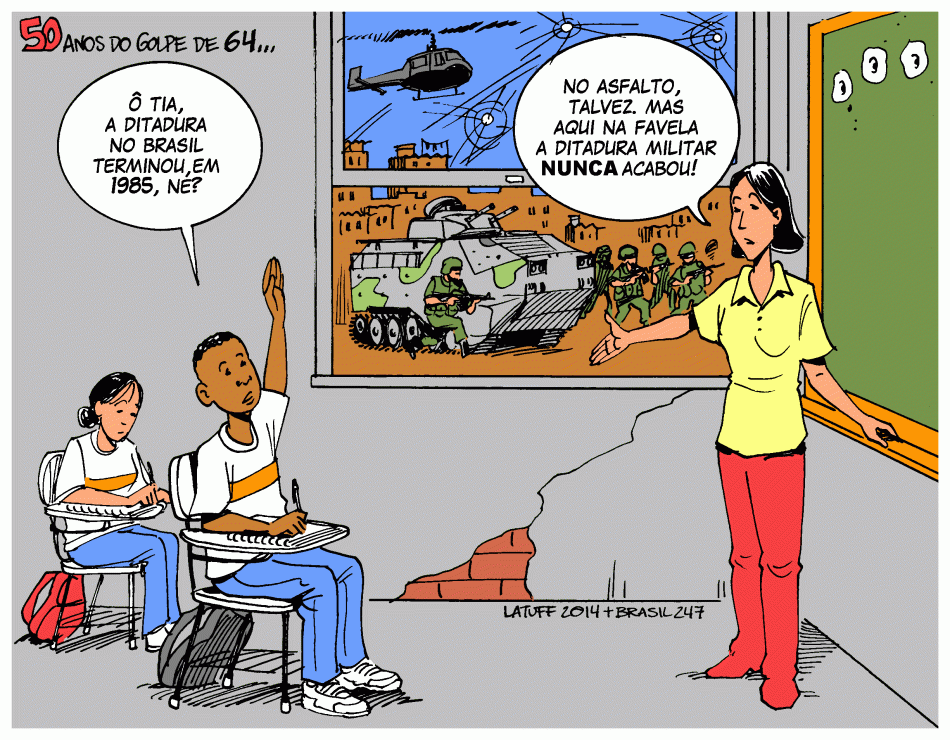
Consumava-se, assim, a tentativa de dar aparência legal ao levante militar iniciado em 31 de março em Minas Gerais, pelo general Mourão Filho. Era o começo de um longo período, marcado pela derrubada da frágil democracia na qual vivia o Brasil e implantada pela Constituição de 1946, após a destituição de Getúlio Vargas no ano anterior.
Daí em diante, ocorreram atos nefastos ao longo de mais de duas décadas. Começaram com prisões a esmo e a cassação de mandatos parlamentares ou a tortura como método de interrogatório dos presos políticos, e logo a censura na imprensa, rádio e televisão. Tudo se fazia por meio dos “Atos Institucionais” impostos pelos comandos do Exército, da Marinha e Aeronáutica. Era o início da ditadura militar, que se ampliou com o Ato Institucional número 2, ao extinguir os partidos políticos e anular a projetada eleição presidencial de 1965.
Os golpistas protestavam contra as “reformas de base”, especialmente contra a reforma agrária e a reforma financeira e fiscal, que eles apresentavam como a “comunização do País” e o início da “extinção da propriedade privada”. O pretexto fora o comício de 13 de março no Rio de Janeiro, em que o presidente João Goulart anunciou a estatização das refinarias privadas e a desapropriação das áreas rurais não cultivadas junto das rodovias federais.
Dias antes, em São Paulo, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade reuniu dezenas de milhares de pessoas (encabeçadas por dona Leonor de Barros, esposa do então governador Adhemar de Barros) para protestar contra o governo federal. Já pré-candidato à Presidência da República, o governador paulista era conhecido pelo lema “rouba, mas faz”.
A pregação do sacerdote irlandês-americano Patrick Peyton, vindo ao Brasil para preparar a marcha, mostrava a escondida influência estrangeira nos acontecimentos.
Anos depois do golpe, a historiadora Phyllis Parker descobriu, nos arquivos da CIA e do Departamento de Estado, a Operação Brother Sam, que descrevia a participação americana no golpe. Naqueles tempos, em pleno auge da guerra fria, a paranoia anticomunista dominava os Estados Unidos e o mundo Ocidental. Em meu livro 1964 – O Golpe, exponho parte daquela documentação, que agora não cabe detalhar.
Mostro aqui, no entanto, um fato que define a raiz do movimento golpista. A esquadra americana partiu da base naval de Norfolk, com o portaaviões Forrestal à frente, com destino a Santos, para intervir no Brasil. Indago: o portaaviões não indicaria até um eventual bombardeio aéreo?
Dia 2 de abril, a esquadra recebeu ordem de voltar, pois o presidente João Goulart tinha desistido de resistir e o movimento golpista já havia triunfado.
Meses antes do golpe, o embaixador Lincoln Gordon (em reunião com o então presidente John Kennedy) tinha logrado substituir o adido militar dos EUA no Brasil pelo coronel Vernon Walters, que falava perfeitamente nosso idioma pois fora oficial de enlace dos EUA com as tropas do Brasil durante a 2.ª Guerra na Itália. Lá, fez-se íntimo do então coronel Castello Branco, seu colega no lado brasileiro.
Castello Branco foi o primeiro ditador, eleito pelo Congresso como candidato único numa verdadeira simulação em que o voto era cantado publicamente sob ameaça de cassação do mandato. Até o ex-presidente e então senador Juscelino Kubitschek votou em Castello, que, meses depois, cassou seu mandato parlamentar.
Desde a consolidação do golpe, incorporou-se ao nosso idioma o não usual verbo “cassar”, nunca com o sentido de “caçar” animais ou criminosos, mas de terminar com mandatos parlamentares ou suspender direitos políticos ao longo de dez anos.
O golpe no Brasil serviu de modelo para que em diferentes países da América do Sul ocorressem movimentos militares semelhantes, em que as Forças Armadas assumiram o poder político e aplicaram todo horror possível. Os mais notórios golpes de Estado ocorreram no Chile e na Argentina e, logo, se estenderam a outras nações.
Por tudo isso (além de outros detalhes), os 60 anos do golpe militar não podem ser esquecidos e são uma data a sempre lembrar.
Em 1932, um jornalista português, António Ferro, 37 anos, conseguiu o que era dado como impossível: entrevistar o quase inatingível António de Oliveira Salazar, todo-poderoso de um governo que se definia como ditadura. Ferro teve com Salazar longas conversas, reunidas num livro de 300 páginas com o pensamento do ditador de Portugal.
Como foram essas conversas? A bordo de carros em movimento, à mesa de jantar, em torno de "fumegantes caldos verdes" e em passeios a pé por estradas, às vezes "à beira do anoitecer" ou sob "uma chuva miudinha e enervante". As perguntas de Ferro eram curtas, como sói, mas as respostas de Salazar eram caudalosas e demoradas, de páginas e páginas.
Como veterano entrevistador, tiro o chapéu para António Ferro. Em 1932, não havia gravadores, os alemães só lançariam o magnetofone em 1935. Ferro teve de anotar tudo a lápis ou caneta, nas terríveis condições descritas, e Salazar não as deve ter ditado com vagar. E eu queria ver Ferro taquigrafar no escuro, debaixo de chuva.
Donde só há uma explicação: todas as palavras atribuídas a Salazar são de Ferro. Por que Salazar se submeteria a tal? Porque confiava nele. Ferro era culto, ladino, muito inteligente —aliás, amigo dos modernistas brasileiros e colaborador da revista Klaxon. E os dois tinham muito em comum: desprezo pelo povo português, aversão ao Judiciário, ódio à democracia e admiração por Mussolini e Hitler.
A extrema direita costuma ser creditada a certos governantes. Mas eles talvez fossem apenas os executores da estratégia de um pensador maléfico, à direita da extrema direita. Ferro pode ter sido para Salazar o que Marinetti, criador do futurismo, foi para Mussolini; Oswald Spengler, para Hitler; Steve Bannon, para Donald Trump; e Olavo de Carvalho, para Bolsonaro. O que nos salva é quando esses governantes se empolgam e resolvem pensar por conta própria.
Certa vez, um amigo meu, de um país da Escandinávia, que aqui morava há algum tempo, da representação diplomática, me falou que “não conseguia entender como funciona o Brasil”. Disse-lhe, lacônico e com certa ironia, que ele não conseguia entender porque “o Brasil não é um país, é uma bagunça”. Não tem forma, não há um projeto de nação.
Philippe Schmitter, brasilianista, de quem fui aluno em Chicago, dizia em aula que o Brasil era o caso mais bem sucedido do Ocidente de controle social por uma elite. Que os partidos políticos podiam mudar ao longo do tempo, alteravam-se as siglas, mas as elites continuavam as mesmas, sempre no poder, na carniça do Estado. Os partidos políticos eram variações, dentro do tempo, daquilo que as elites permitiam.
Max Weber nos fala de três tipos de dominação política: a racional-legal, caracterizada por burocracias estáveis no atendimento das demandas dos cidadãos; a carismática, com líderes emocionais que alteram os rumos das sociedades, para melhor, ou para pior; e a patrimonial, onde o estado é o fim em si mesmo, o estado como gerador e hospedeiro da riqueza, na anteposição ao cidadão. Este é o caso brasileiro.

Vejamos os números. O Brasil é a 9ª economia do mundo, com PIB de US$ 2,1 trilhões. Em renda per capita, estamos na 63ª colocação, com US$ 11.073,00 anuais. No IDH, que mede a qualidade de vida em função de bens e serviços para 191 países, o Brasil encontra-se na 87ª posição. No índice de GINI, que mede a distribuição de riqueza para 162 países, o Brasil encontra-se na 154ª posição. No PISA, que mede o desempenho de alunos do ensino médio em 81 países, o Brasil encontra-se na 52ª posição em leitura, 61ª em ciências, e 65ª em matemática. Na renda per capita, estamos atrás de Barbados, Trinidad e Tobago, e Costa Rica. No IDH, atrás da Rússia, China, e de Cuba. No índice de GINI, atrás da Nicarágua, Venezuela, e do Zimbabwe. No PISA, atrás da Colômbia, Tailândia, e do Cazaquistão.
No Brasil, a carga tributária, uma das maiores do mundo, é de 33,71% do PIB, ou seja, o Estado administra US$ 707,9 bilhões por ano. O número de funcionários públicos é de 11 milhões no país, na remuneração por serviços. No Congresso Nacional, são 513 Deputados Federais e 81 Senadores, em sua maioria eleitos e representantes de grupos econômicos que, no geral, usufruem de reservas de mercado. Como diz Wright Mills em A Elite do Poder, manda o econômico e executa o político. Entre o executivo e o legislativo, podemos estimar em cerca de 10 mil pessoas que participam do jogo político e econômico das verbas no país, ou seja, cerca de 5/1000 de 1% de nossa população para 1/3 dos recursos totais. É uma briga ferrenha na manutenção do poder. Como diz a música na Marquês da Sapucaí, “quem comeu, comeu, quem não comeu não come mais”. E o resto, que se lixe. Vide a Dengue.
Por sinal, prolifera no mundo a perda de projetos de nação, devido à concentração da riqueza e aumento da desigualdade, com ideologias esdrúxulas na deterioração social.
Difícil saída.
"Viver é muito perigoso." É o mote repetido insistentemente no monólogo de Riobaldo no "Grande Sertão: Veredas", de Guimarães Rosa. Não deixa de ser uma tirada à conselheiro Acácio, como notou Nelson Rodrigues, mas revela uma realidade inescapável. "São demais os perigos desta vida", confirmou Vinicius de Moraes no "Soneto do Corifeu". Conselhos desnecessários para quem habita qualquer canto do Brasil.
Não é só a guerra entre bandido e polícia que mata gente inocente. Estão aí, soltas, as pedras portuguesas. Apesar da beleza, elas são conhecidas entre os cariocas como pedras assassinas. Desapareceram os mestres calceteiros, que consertavam com perícia as ondas do calçadão de Copacabana ou uma simples passagem. O poeta Hermínio Bello de Carvalho, que acaba de completar 89 anos, levou um tombo em Botafogo, feriu a vista, lesionou a coluna e está no estaleiro.

Além das calçadas, há os choques mortíferos. Uma vítima recente foi Leonardo da Silva, porteiro em Ipanema, casado, pai de uma adolescente de 14 anos, que encostou num poste, recebeu uma descarga e bateu com a cabeça no chão. O ano passado registrou 853 acidentes graves por choque elétrico no país; 592 pessoas morreram. Na maioria dos casos os fios de postes, desencapados, são os vilões.
O cenário criminoso é aquele que todos estão cansados de saber: ligações clandestinas, sobrecarga, falta de manutenção preventiva, a exposição e o furto de fios e cabos e, sobretudo, o péssimo serviço prestado pelas distribuidoras de energia. Se não conseguem fornecer nem a luz, quanto mais garantir a segurança da população.
No espetáculo da morte estúpida, as selfies são imbatíveis. Em 2023, 17 pessoas perderam a vida tirando fotos de si mesmas em encostas e mirantes do Rio. Há um termo em inglês para definir a fatalidade: killfie. Pensando bem, Riobaldo estava certo em seu acacianismo: "Viver é muito perigoso".

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2024/i/e/H5CRolQ2SHexUJo0udQw/05cul-100-social-d3-img01.jpg)