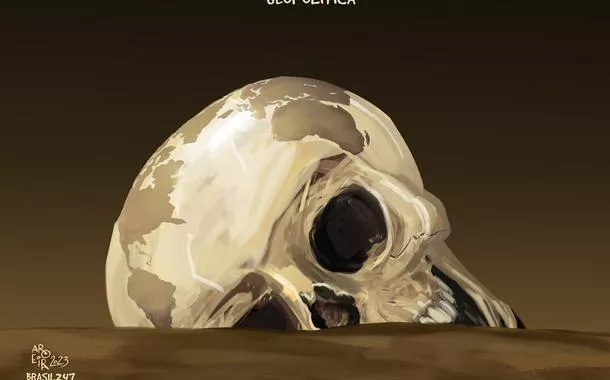O movimento negro brasileiro consolidou o conceito de racismo estrutural e desconstruiu a tese de que o Brasil é uma democracia racial, devido à miscigenação e ao voto direto, secreto e universal, que garante a negros, mulatos e pardos — classificação agora considerada “politicamente incorreta” — os mesmos direitos políticos da “elite branca”. O racismo estrutural, porém, limita o alcance desses direitos do ponto de vista econômico, social e mesmo político, se considerarmos as estruturas de poder.
Consiste na organização da sociedade de maneira a que privilegie um grupo de certa etnia ou cor em detrimento de outro, percebido como subalterno. A exclusão e discriminações complexas mascaram o fenômeno. O racismo estrutural é uma forma de exploração e opressão, enraizada na estrutura social e nas relações institucionais, econômicas, culturais e políticas.
Uma outra forma de racismo estrutural é o antissemitismo, que tem características completamente diferentes, porque não está associado à condição econômica e social subalterna, ao contrário, mas à condição étnica, especificamente, e ao preconceito cultural. Enquanto em relação aos negros, o racismo vem dos tempos da escravidão, no início do século XVI, o nosso antissemitismo tem origem na atuação da Inquisição católica, nos tempos da Reconquista, que expulsou árabes e judeus da Península Ibérica.

Sim, árabes e judeus são semitas. Na Antiguidade, fenícios, hebreus (judeus), babilônicos, arameus e outros se deslocaram da Península Arábica para a Mesopotâmia, 3 mil anos antes de Cristo. O termo semita como designação para esses povos do Oriente Médio foi cunhado pelo historiador alemão August Ludwig von Schloezer, em 1871, a partir de referências bíblicas. Apesar das diferenças religiosas e étnicas, segundo o Antigo Testamento, todos eram descendentes de um dos três filhos de Noé: Sem.
Entretanto, o termo antissemitismo é usado para designar o ódio e a aversão contra judeus por conta dos eventos históricos que resultaram na migração desses povos para vários cantos do mundo, como aconteceu com as famílias sefarditas na Espanha e Portugal. A primeira sinagoga das Américas, a Kahal Zur Israel (Rocha de Israel), foi fundada no Recife, em 1641, durante a dominação holandesa (1630-1657), pelo rabino luso-holandês Isaac Aboab da Fonseca. Com a derrota dos invasores holandeses na Batalha dos Guararapes, os judeus migraram de Pernambuco para Nova Amsterdã, atual Nova York, onde formaram a Congregação Shearith Israel, a primeira sinagoga da América do Norte.
O surgimento do movimente sionista no século XIX, em resposta à diáspora e à milenar perseguição aos judeus, com objetivo de reocupar a Palestina e construir um Estado-nação, apartou árabes e judeus. Sion significa Jerusalém, a cidade sagrada para os judeus, muçulmanos e cristãos, cujo lado oriental, que era administrado pela Jordânia, foi ocupado por Israel em 1967, na Guerra dos Seis Dias.
Sempre houve resistência ao sionismo entre os judeus, principalmente entre os judeus assimilados da Europa. A filósofa judia-alemã Hannah Arendt chegou a participar do movimento sionista, mas se desvinculou na década de 1940. Autora de A Condição Humana e Raizes do Totalitarismo, Arendt cunhou a expressão “banalidade do mal”para explicar o Holocausto, ao descrever o julgamento do criminoso nazista Adolf Eichmann.
Sequestrado num subúrbio de Buenos Aires por um comando israelense, em 1960, Eichmann foi levado para Jerusalém. No mais importante julgamento de um criminoso nazista depois do tribunal de Nuremberg, em vez do monstro sanguinário, surgiu um burocrata medíocre e carreirista, incapaz de refletir sobre os próprios atos ao receber uma ordem. Para Arendt, o processo desnudou a capacidade de o Estado transformar o exercício da violência homicida em organogramas e mero cumprimento de metas.
O julgamento legitimou a grande vitória sionista que fora a criação do Estado de Israel, pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1948, com objetivo de evitar um novo Holocausto, como o perpetrado pelo líder da Alemanha nazista, Adolph Hitler, na Segunda Guerra Mundial. Entretanto, os palestinos (de maioria muçulmana), que já viviam no atual território de Israel, não aceitaram a hegemonia judaica. Desde então, conflitos e guerras inviabilizaram a criação de um Estado palestino.
O radicalismo político e religioso de ambas as partes inviabilizou todos os acordos. No atual conflito, o ataque terrorista do Hamas, inimaginável e inaceitável, não justifica o que ocorre em termos humanitários em Gaza, onde a população civil está sem água, energia elétrica, combustível, alimentos e remédios, forçada ao êxodo por bombardeios indiscriminados do Exército israelense.
O pior é que essa crise desperta o antissemitismo em quase todos os lugares. No caso do Brasil, árabes e judeus se integraram à vida nacional e convivem em harmonia, traduzem sua cultura para a nossa realidade (viva o Arranco de Varsóvia!), sem chauvinismo nem perda de identidade. É uma conquista civilizatória à qual não devemos nunca renunciar.
Bombas agem com indiferença. Matam e destroem o que está em seu raio de ação. É coisa de espaço. Métrica que delimita a área da morte provável. Não liga para a cor da pele, nacionalidade, religião, inclinação política ou quaisquer outras dessas besteiras que a gente inventa para dizer que gente não é tudo igual. Ela só explode e acaba-se.
Para quem morre, tanto faz se foi morto a tiro, explosão, susto ou raiva. Mas faz diferença para quem mata. Mortos são todos iguais em sua mórbida paralisia. Assassinos é que são diferentes em suas formas de matar.
Quem mata a facada sente o hálito de quem mata. Suja as mãos de sangue. É coisa quase íntima.
Quem atira, tem alvo. Dispara chumbo ou cobre numa direção específica, com um propósito mortífero específico. Ou a esmo, quando tanto faz em quem acertar. Seja como for, é um tiro para uma morte. Tiro tem direção e limite. Não se espalha por aí indiferente à reta que o define.
Mas a bomba, que mata aos montes, é morte provocada por quem não está nem aí para quantos ou quem morrerá. É ferramenta de matar aos montes. Todo lançar de bombas é meio genocida. Da mesma forma que a bomba mata com indiferença. Quem mata com bomba também é indiferente ao matar quem provoca.
Matar só por matar, seja de que jeito for, é coisa rara de acontecer. Mistura de loucura, maldade e tédio. O comum é matar dizendo o porquê do morto merecer morrer. Apela-se às diferenças para justificar a diferença que há entre deixar-se viver e fazer morrer.
Pessoas que matam com bombas – e as que aplaudem quem mata com bombas – são diferentes de bombas. Não são indiferentes como as bombas que lançam com indiferença sobre os que creem não merecer viver. Agem movidos por simpatias e antipatias anteriores às bombas lançadas. E fazem, das mesmas bombas que estraçalham gente, boas ou más dependendo de quem se está a matar.
O curioso é que matar gente com bomba pararia se não olhássemos outros como diferentes. Se não inventássemos e enchêssemos de ódio tantas diferenças, qualquer bomba que mata seria um absurdo. Seria um crime não contra palestino ou israelense. Ou russo ou ucraniano. Mas crime contra a humanidade. Contra o humano que há em mim e em você.
Talvez, na indiferença que nos iguala a todos como humanos só porque somos igualmente capazes de sentir e pensar, pudéssemos ser indiferentes às diferenças do que sentimos e pensamos. Talvez, só talvez, a humanidade pudesse experimentar aquela paz tão falada, tão desejada e tão pouco buscada.
Em tempos de precipício, alguma clareza ajuda: não pode haver espaço para relativizar a barbárie do terrorismo islâmico. Ela é absoluta e implacável. Nosso compasso humano não precisa saber se os bebês judeus foram degolados, carbonizados ou fuzilados pelos atacantes para nos situar como humanos.
De início, a matança espetaculosa desencadeada pelo Hamas contra Israel na manhã do último dia 7 não conseguiu desencadear uma guerra com mais atores. Foi, essencialmente, um atentado terrorista de crueldade máxima contra o maior número possível de judeus. Planejado e executado com ferocidade calculada pelo Hamas (acrônimo, em árabe, de Movimento de Resistência Islâmica, a entidade controladora dos 2,3 milhões de palestinos de Gaza), o ataque conseguiu o que pretendia: aterrorizar os civis, humilhar os militares e atrair as Forças Armadas do governo de Benjamin Netanyahu para o ardil de uma invasão ao enclave palestino.
Os 36 artigos da fundação do Hamas, criado em 1987, a que foram acrescidos outros 42 elaborados em 2017, deixam tudo às claras, por escrito — a necessidade de obliteração total de Israel, o estabelecimento de um Estado palestino teocrático do Mar Mediterrâneo até o Rio Jordão, a proibição de qualquer negociação, iniciativa internacional ou proposta de acordo, a purificação de crianças pela sharia, a conformidade obrigatória à lei islâmica da idealizada nação. O futuro e solução para o povo palestino seria um só, a qualquer preço: a jihad, guerra santa.

O poder do terror reside em fazer crer que é capaz do impossível. É a propaganda por meio do ato, a pedagogia por meio do assassinato — a propaganda e o produto. Não precisa sequer vencer o inimigo, basta humilhá-lo por meio do horror, impotência e desespero que gera. É comum grupos terroristas não terem pátria nem precisarem de conquistas territoriais para se sentir vitoriosos. Em 2001, os 19 jihadistas da Al-Qaeda que sequestraram quatro aviões comerciais, derrubaram as Torres Gêmeas, deixaram Nova York e Washington de joelhos e causaram a morte de mais de 3 mil civis aleatórios em pouco mais de uma hora não conquistaram 1 centímetro de terra. Não era seu propósito. Tampouco imaginaram conseguir afundar o governo de George W. Bush e a sociedade americana em duas décadas de guerras de retaliação — ambas equivocadas, invencíveis e ruinosas, ambas com gritantes violações do Direito internacional. E ambas com crimes de guerra comparáveis aos atos do terror.
Sim, também guerras têm um manual de regras. Ele vem sendo aperfeiçoado e frequentemente violado depois de cada conflito mundial. O recurso a armas químicas, o sequestro de civis, o genocídio, a execução de prisioneiros civis ou militares, ataques a populações não combatentes constituem alguns dos crimes de guerra ou contra a humanidade acordados pelas nações. Que não se aplicam a grupos terroristas, justamente por estarem fora de qualquer lei. Mas o Hamas parece ter calculado com assustadora precisão como arrastar as Forças de Defesa de Israel, as temidas e invencíveis FDI, para o pântano de uma guerra suja em vielas espremidas de Gaza. Fez mais de uma centena de reféns entre jovens, crianças, famílias inteiras, idosos civis e militares, e os entocou no enclave para usá-los como escudo humano e abominável trunfo. Ainda é difícil saber o objetivo final do Hamas para além da matança-surpresa.
É fácil, em contrapartida, imaginar a prioridade para Israel: a erradicação, a qualquer custo, da capacidade tentacular do grupo extremista. Primeiro foi cortado o suprimento de água, luz, comida e possibilidade de vida à população de Gaza, sublinhada por dias e noites de bombardeios ferozes. Na sexta-feira, o ultimato para que 1,1 milhão de palestinos do Norte abandonassem tudo e fugissem para o Sul prenunciava o pior. O resgate dos reféns, a possibilidade de um corredor humanitário, o destino de estrangeiros sem porta de escape daquela terra condenada — era tudo incerteza. Cinquenta anos atrás, uma colossal ofensiva militar da Síria e do Egito também pegou Israel de surpresa. Foram 19 dias de combates ferozes que transformaram a cena política do país e da região. Golda Meir, chefe do governo trabalhista que erguera Israel das cinzas do Holocausto, renunciou ao cargo por não ter prevenido o duplo assalto. Deixou aos inimigos uma das frases mais profundas e amargas da História:
— Eu não os odeio por terem matado nossas crianças. Eu os odeio por terem me levado a matar as vossas crianças.
A causa palestina de um Estado independente, laico e de convívio com Israel precisa ser possível, precisa ser viável. Não é mais possível desviar o olhar do que está à nossa frente: um povo em busca de existência.
Os tempos de paz foram, porventura, uma ilusão. Até porque ao longo das décadas em que pensávamos estar a viver em paz, nunca deixaram de existir guerras, conflitos escondidos e ataques desmesurados aos direitos humanos. Havia, no entanto, uma diferença fundamental em relação ao que se observa agora: apesar de as armas nunca se terem calado, a esmagadora maioria dos líderes mundiais continuava, em público, a falar da necessidade de pacificação mundial. Por isso, em busca de reconhecimento ou de uma glória efémera, desdobravam-se em conversações e em tentativas de acordos de paz – com a fotografia da assinatura a ficar guardada para a posteridade. Havia vergonha em apelar à guerra. Havia…
Os tempos mudaram. Em especial desde a retirada das tropas americanas e dos seus aliados no Afeganistão – o momento em que foi anunciado, com estrondo, o fim da chamada pax americana, em que vivíamos desde o final da Guerra Fria. Desde então, ficou livre o caminho para a criação de novas esferas de influência, em que vários atores procuram ganhar poder regional ou até reconhecimento mundial.

Agora, há ataques contínuos e cada vez mais explícitos à ordem internacional saída dos escombros da II Guerra Mundial. Não há zona do globo onde não se registem tensões e um escalar de conflitos que acabam por ter implicações em todo o mundo.
O que está a ocorrer no Médio Oriente é bem o exemplo desta nova desordem mundial, em que mergulhámos, de forma desprevenida, mas com consequências dramáticas, como sucede em todas as guerras. Aquela que foi uma das regiões mais martirizadas do globo nas últimas décadas parecia estar a caminhar, segundo uma visão superficial, para uma certa normalidade. Havia aproximações entre a Arábia Saudita e Israel, percebiam-se as tentativas de alguma parte do bloco ocidental para criar pontes com o Irão, apesar de o regime continuar a desenvolver o seu plano nuclear e a persistir na repressão dos direitos humanos. Afinal, era tudo uma ilusão. Os últimos dias demonstraram que organizações como o Hamas – mas também o Hezbollah – têm o poder para mergulhar a região no caos. E, mais uma vez, ficou demonstrado que os discursos de líderes autoritários e populistas, como Benjamin Nethanyau, sempre a insistir na tecla da segurança, são afinal ilusórios perante a realidade. Só isso explica que aqueles que eram considerados os melhores serviços secretos do mundo tenham sido apanhados completamente desprevenidos perante o ataque assassino perpetrado pelo Hamas, que visou diretamente a população civil de Israel.
Duma forma ou doutra, esta ação terrorista do Hamas não deixa de ser inspirada na invasão da Ucrânia pelas tropas de Vladimir Putin, outro momento fundador desta nova desordem mundial. E cujas consequências estão a alastrar pela zona europeia, com uma escalada preocupante no conflito adormecido entre a Sérvia e o Kosovo, nos Balcãs, mas também a servir de “combustível”, mesmo que indireto, para a tentativa do Azerbaijão de controlar o enclave de Nagorno-Karabakh na Arménia, que já provocou dezenas de milhares de refugiados.
Em África, por seu lado, sucedem-se os golpes militares na região do Sahel, criando um efeito de contágio que ameaça alastrar a outros pontos do continente, onde o combate à violência jihadista é aproveitado pela Rússia, através do grupo Wagner, para ganhar novos aliados. E, para cúmulo de tudo, nos EUA assistimos, atualmente, a um descontrolo total nas estruturas do poder, por causa da deriva extremista que está a tomar conta do Partido Republicano e, com isso, a paralisar o normal funcionamento das instituições da maior potência mundial. Quem beneficia, afinal, desta desordem? A resposta, infelizmente, ainda vai demorar a ser encontrada.
Em toda disputa, o maior objetivo é provocar no adversário a reação esperada. A previsibilidade decorrente dessa tática permite o planejamento estratégico. Quem domina essa técnica é capaz de manter a iniciativa. Reduzido à condição de coadjuvante, o adversário consome seu tempo e energia reagindo, enquanto o protagonista se ocupa do próximo lance.
Se dois atores em lados opostos souberem empregar esse método com maestria e sem limites morais, ele se torna a única tática efetiva. O centro do tabuleiro é esvaziado, e a eletricidade se concentra nos polos opostos. Os extremistas palestinos e israelenses empregam essa técnica há 80 anos. Sua eficácia avassaladora e seu custo humano são comprovados mais uma vez.

As Forças de Defesa de Israel ignoraram as advertências dos serviços de inteligência israelense, egípcio e americano. Elas falharam durante as incursões do Hamas no dia 7 porque suas atenções estavam voltadas para as prioridades do governo de Binyamin Netanyahu: a expansão das colônias judaicas na Cisjordânia e o acesso de fiéis judeus ao complexo da Mesquita de Al-Aqsa.
O governo israelense não concede alvará de construção para palestinos na Cisjordânia e demole casas novas, assim como as residências das famílias de palestinos acusados de atos de violência. Ao mesmo tempo, financia a construção de novas moradias e a criação de novos assentamentos para judeus na Cisjordânia.
Essa política tem elevado as tensões e fomentado a atuação de células terroristas e de ataques de palestinos contra colonos judeus e contra as forças de segurança israelenses. Os judeus podem andar armados; os palestinos, não.
Os colonos, muitos deles recém-chegados da Europa e dos Estados Unidos, invadem casas de palestinos cujas famílias moram na Cisjordânia há muitas gerações, e os agridem, gritando frases como “vão embora, aqui não é a sua terra”. Algumas vezes, sob o olhar de aprovação de soldados israelenses.
REGRA. O ministro de Segurança Itamar Ben-Gvir, líder dos colonos judeus da Cisjordânia, defende o livre acesso de fiéis judeus ao complexo da Mesquita de Al-Aqsa. Grupos religiosos judeus acreditam que suas orações nesse local dariam início à construção do 3.º Templo. O 2.º Templo foi destruído pelos romanos no ano 70.
No mesmo local foi construída a mesquita entre 685 e 715. Os tratados de Paris e de Berlim, que regem o acesso a lugares sagrados em áreas disputadas, firmados em 1856 e 1878 respectivamente, determinam que só os judeus rezem no Muro das Lamentações, as fundações que restaram do 2.º Templo, e só os muçulmanos tenham acesso à parte de cima.
Israel tradicionalmente respeitou essa regra, violada pelo atual governo ultranacionalista. No terceiro dia da festa judaica dos Tabernáculos, dia 1.º, a polícia israelense ordenou que os palestinos fechassem suas lojas na Cidade Velha de Jerusalém, e impediu o acesso dos muçulmanos, para garantir a entrada de judeus no complexo de Al-Aqsa.
O Hamas denominou a incursão no dia 7 de “Inundação de Al-Aqsa”. Segundo seu comandante militar, Mohammed Deif, a operação começou a ser planejada em maio de 2021, depois que policiais israelenses invadiram a mesquita, durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã, espancaram e arrastaram palestinos de dentro de lá, alegando que eles os haviam atacado.
O Hamas venceu as eleições de 2006 na Faixa de Gaza e seu rival palestino, o Fatah, ganhou na Cisjordânia. Mas Estados Unidos e União Europeia anunciaram o corte da ajuda de meio bilhão de dólares cada para os palestinos, se o Hamas assumisse, por considerá-lo organização terrorista. O Fatah então continuou governando Gaza até o ano seguinte, quando o Hamas tomou o poder no território à força.
Desde então, houve cinco guerras entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, que está sob bloqueio israelense. Metade da população do território está desempregada. Segundo o Programa de Alimentos da ONU, 1,84 milhão de palestinos não tem comida suficiente, ou seja, um terço da população nos dois territórios e mais Jerusalém Oriental. Desses, 1,1 milhão vive em “grave insegurança alimentar” – 90% deles na Faixa de Gaza.
Esse ambiente estimula o radicalismo palestino. Os ultranacionalistas israelenses sabem disso. A perpetuação do conflito interessa a ambos. Fazer essa análise não é justificar a violência. É entender suas causas. E, nesse sentido, honrar suas vítimas.