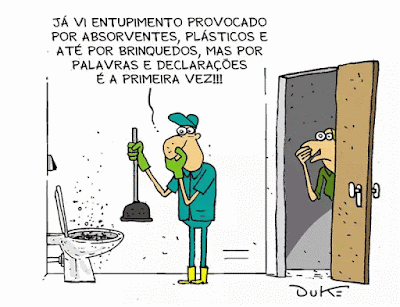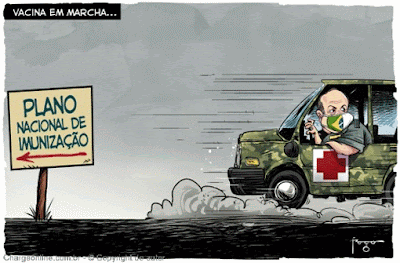sexta-feira, 4 de dezembro de 2020
'Agitador' profissional
Hoje, não basta apenas nos preocuparmos com a carreira militar. Devemos nos preocupar com tudo que está ao nosso ladoJair Bolsonaro, em solenidade com aspirantes da Aeronáutica em São Paulo
A autoridade da voz
Há quem já tenha estabelecido a diferença entre a voz da autoridade e a autoridade da voz. Aquela, entendida como a voz de quem ocupa um cargo; esta, como a de quem a possui por méritos que transcendem e independem do título.
A primeira tem prazo de validade que pode expirar de forma precoce, antes mesmo do mandato. A segunda tem prazo indefinido e pode se estender por toda a vida e atravessar a história.
O tema veio em conversa recente com o ex- presidente do Supremo Tribunal Federal, Ayres Brito, em torno de fatores institucionais que importam a estabilidade política, entre os quais se insere a preservação da liturgia do poder.
O caminho mais erosivo para a voz da autoridade é a banalização do discurso, por sua frequência e superficialidade. Um presidente da República, por exemplo, deve sempre falar com o país, mas precisa ter o que dizer – e saber dizê-lo, com propriedade e oportunidade.
A voz dessa autoridade é importante para exercer o convencimento na hora de mudanças, exibir imparcialidade, trazer luz a debates que importam à sociedade e prestar contas, entre tantos outros objetivos inerentes à missão.
São fartos os exemplos de um e de outro. Para ficar na história recente e doméstica, vale lembrar o período tenso que precedeu nosso primeiro impeachment, quando Fernando Collor, alcançado por escândalos de corrupção, resistia à renúncia com discursos desorientados.
O jurista e ex-ministro Leitão de Abreu o classificou na ocasião como uma autoridade sem voz, ao dizer que se transformara em um presidente que já não era mais ouvido. O diagnóstico de Leitão foi o de “perda da autoridade política” e a situação impunha que alguém comunicasse isso ao presidente. O final da história é conhecido.
O presidente Jair Bolsonaro segue a mesma trilha ao banalizar a voz do chefe de governo em um dos períodos mais difíceis (senão o mais) do país. Pior que isso, fez de seu ministério, como um todo, um conjunto de autoridades sem voz e credibilidade a produzir frivolidades diárias.
Tome-se por exemplo, por ser um dos principais cargos de qualquer governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, a quem o mercado e o meio político chamam nos bastidores de “animador de auditório”.
Quando economistas admitem o risco de uma taxa de desemprego entre 15% e 20% em 2021, não se conhece um roteiro para orientar a economia, mas todo dia tem discurso reativo aos críticos dessa omissão que passaram à categoria de “detratores”.
Ao contrário, a expectativa de sobrevivência do governo passou a ser a aliança com o centrão, visto pelo ambiente econômico e financeiro como “a turma do gasto”. Ou seja, não há temor pela esquerda ou direita, mas pelo centrão, cujo aumentativo não o põe no centro político, mas no centro de custos.
No vácuo de ações, o tempo vai exibindo bizarrices como a exclusão de negros da fundação Palmares, cujo objetivo é resgatar e afirmar os valores… negros. Aqui e ali, o ministro da Saúde, general Pazuello, reafirma sua continência ao discurso anti-vacina comunista.
E, na mais pura ironia, o comandante do Exército, Edson Pujol, voz mais sensata até aqui justamente por dizer o óbvio, caiu do cavalo (literalmente).
O Brasil clama por uma voz com autoridade entre tantas autoridades sem voz.
O primeiro passo é conhecer o Brasil
Se você acredita que o Brasil está progredindo a um ritmo medíocre, está certo; se pensa que estamos na iminência de um retrocesso grave, é provável que esteja certo também.
Só estará errado se achar que dispomos do tipo e do montante de conhecimentos de que vamos precisar para sair desta enrascada em que há anos nos vimos arrastando. Afirmação arrojada, bem o sei. No transcurso das últimas três ou quatro décadas, as pesquisas de opinião e os levantamentos do IBGE têm nos proporcionado uma montanha de informações de altíssimo valor. O problema, creio eu, é que tais informações não respondem em sua inteireza às indagações que se imporão quando nos depararmos com o inexorável desafio de reformar a sério nossa sociedade e nossas instituições políticas.
Ao dizer “inexorável”, peço permissão para passar ao largo do mar de mazelas que debatemos dia sim e outro também: estagnação econômica, desigualdades abissais, nível médio de escolaridade abaixo da crítica e condições sanitárias cujas deficiências conhecíamos de longa data, mas sobre as quais agora, com a pandemia, não cabe mais discussão. Tampouco me parece caber dúvida quanto à persistente perda de consistência das instituições: da alta administração pública, civil e militar, assim como do Legislativo e do Judiciário.
Só estará errado se achar que dispomos do tipo e do montante de conhecimentos de que vamos precisar para sair desta enrascada em que há anos nos vimos arrastando. Afirmação arrojada, bem o sei. No transcurso das últimas três ou quatro décadas, as pesquisas de opinião e os levantamentos do IBGE têm nos proporcionado uma montanha de informações de altíssimo valor. O problema, creio eu, é que tais informações não respondem em sua inteireza às indagações que se imporão quando nos depararmos com o inexorável desafio de reformar a sério nossa sociedade e nossas instituições políticas.
Ao dizer “inexorável”, peço permissão para passar ao largo do mar de mazelas que debatemos dia sim e outro também: estagnação econômica, desigualdades abissais, nível médio de escolaridade abaixo da crítica e condições sanitárias cujas deficiências conhecíamos de longa data, mas sobre as quais agora, com a pandemia, não cabe mais discussão. Tampouco me parece caber dúvida quanto à persistente perda de consistência das instituições: da alta administração pública, civil e militar, assim como do Legislativo e do Judiciário.
Volto aos conhecimentos de que necessitamos. A montanha de informações de que dispomos se compõe basicamente de dados “atomizados”, quero dizer, colhidos por meio da aplicação de questionários a indivíduos isolados e depois agrupados em categorias (classes A, B, C, D, diferenças entre grandes e pequenos municípios, etc.). Os resultados de tais operações não são grupos reais. Se nosso objetivo é evitar retrocessos e construir um sistema político capaz de impulsionar o desenvolvimento, informações desse tipo não são suficientes. Sociedades e sistemas políticos assentam-se sobre estruturas, vale dizer, sobre tramas de relações interindividuais e intergrupais, por sua vez amalgamadas por valores e crenças que não se dão a conhecer ao primeiro estímulo de um entrevistador.
Quem deu um passo adiante foi o antropólogo Roberto DaMatta, ao dissecar a expressão “você sabe com quem está falando?”. De fato, a proverbial “carteirada” é um retrato da estratificação autoritária que permeia nossa sociedade. Penso, no entanto, que a necessidade de um indivíduo de status superior se dirigir a um de status inferior ordenando-lhe pôr-se “em seu lugar” indica que a estratificação já está sendo questionada. Não precisaria fazê-lo caso se tratasse de uma estratificação estática, imemorial.
Façamos uma comparação com a França. Em 1920, em sua maravilhosa Busca do Tempo Perdido, Marcel Proust evoca “... a ideia um tanto indiana que os burgueses (de algum tempo atrás) formavam a respeito da sociedade, considerando-a composta de castas fechadas, onde cada qual se via, desde o nascimento, colocado na posição que ocupavam seus pais, e de onde nada os poderia tirar para que penetrassem numa casta superior, a não ser raros acasos de uma carreira excepcional ou de um casamento inesperado” (vol. 1, pág. 21).
Vinte anos mais tarde, em sua igualmente maravilhosa Suíte Francesa, Irène Némirovsky trafega por um labirinto praticamente igual, o da França invadida pelos nazistas. Claro, não tendo tido escravidão, os pobres franceses não eram miseráveis desprovidos de tudo, como os nossos, nem precisavam as camadas mais altas de recorrer à “carteirada”. A estratificação, os limites prescritos nas interações e nos modos que os indivíduos observavam ao se dirigirem uns aos outros, tudo era rígida e minuciosamente regulamentado.
Voltando ao Brasil, o que mais chama a atenção é a inexistência sequer de uma classe média claramente delineada, com valores e padrões próprios de comportamento. Nunca tivemos uma petite bourgeoisie assentada sobre a pequena propriedade urbana ou rural. A maioria das camadas que têm o privilégio do vínculo empregatício vive de empregos instáveis e de má qualidade. Na área educacional do atual governo tivemos três ministros, mas nenhum plano.
Tampouco temos elites no sentido positivo da palavra, ou seja, grupos de pessoas (com ou sem recursos econômicos vultosos) com vocação de exemplaridade, devotados em alguma medida ao bem comum, e capazes de transitar pelos diferentes setores funcionais da sociedade, agregando atitudes e balizando o modo de agir dos três Poderes. Não estranha, pois, que estejamos presenciando um processo de “desinstitucionalização”, com sinais bem perceptíveis de deterioração em toda a extensão do tecido político.
Sem uma classe média robusta, sem elites no sentido que acabo de expor, com um ritmo pífio de crescimento econômico e um sistema de ensino de péssima qualidade, a hipótese do retrocesso não pode ser descartada. Nas condições aventadas, as instituições democráticas tendem a perder respaldo e robustez, permanecendo incapazes de impulsionar a economia, vulneráveis às formas de corrupção mais obscenas e aumentando a possibilidade de crises graves.
Quem deu um passo adiante foi o antropólogo Roberto DaMatta, ao dissecar a expressão “você sabe com quem está falando?”. De fato, a proverbial “carteirada” é um retrato da estratificação autoritária que permeia nossa sociedade. Penso, no entanto, que a necessidade de um indivíduo de status superior se dirigir a um de status inferior ordenando-lhe pôr-se “em seu lugar” indica que a estratificação já está sendo questionada. Não precisaria fazê-lo caso se tratasse de uma estratificação estática, imemorial.
Façamos uma comparação com a França. Em 1920, em sua maravilhosa Busca do Tempo Perdido, Marcel Proust evoca “... a ideia um tanto indiana que os burgueses (de algum tempo atrás) formavam a respeito da sociedade, considerando-a composta de castas fechadas, onde cada qual se via, desde o nascimento, colocado na posição que ocupavam seus pais, e de onde nada os poderia tirar para que penetrassem numa casta superior, a não ser raros acasos de uma carreira excepcional ou de um casamento inesperado” (vol. 1, pág. 21).
Vinte anos mais tarde, em sua igualmente maravilhosa Suíte Francesa, Irène Némirovsky trafega por um labirinto praticamente igual, o da França invadida pelos nazistas. Claro, não tendo tido escravidão, os pobres franceses não eram miseráveis desprovidos de tudo, como os nossos, nem precisavam as camadas mais altas de recorrer à “carteirada”. A estratificação, os limites prescritos nas interações e nos modos que os indivíduos observavam ao se dirigirem uns aos outros, tudo era rígida e minuciosamente regulamentado.
Voltando ao Brasil, o que mais chama a atenção é a inexistência sequer de uma classe média claramente delineada, com valores e padrões próprios de comportamento. Nunca tivemos uma petite bourgeoisie assentada sobre a pequena propriedade urbana ou rural. A maioria das camadas que têm o privilégio do vínculo empregatício vive de empregos instáveis e de má qualidade. Na área educacional do atual governo tivemos três ministros, mas nenhum plano.
Tampouco temos elites no sentido positivo da palavra, ou seja, grupos de pessoas (com ou sem recursos econômicos vultosos) com vocação de exemplaridade, devotados em alguma medida ao bem comum, e capazes de transitar pelos diferentes setores funcionais da sociedade, agregando atitudes e balizando o modo de agir dos três Poderes. Não estranha, pois, que estejamos presenciando um processo de “desinstitucionalização”, com sinais bem perceptíveis de deterioração em toda a extensão do tecido político.
Sem uma classe média robusta, sem elites no sentido que acabo de expor, com um ritmo pífio de crescimento econômico e um sistema de ensino de péssima qualidade, a hipótese do retrocesso não pode ser descartada. Nas condições aventadas, as instituições democráticas tendem a perder respaldo e robustez, permanecendo incapazes de impulsionar a economia, vulneráveis às formas de corrupção mais obscenas e aumentando a possibilidade de crises graves.
Eu, detratora
Eis que acordei nesta terça-feira e havia sido aquinhoada com mais um adjetivo: detratora! Para quem já foi isentona, comunista, tucana, cirista (ontem mesmo estava “indicada” para vice na chapa do ex-governador) e sabe-se lá mais o que, até que o novo carimbo tinha uma dramaticidade meio teatral. O detrator pode ser um personagem de uma futura versão de Among Us, quem sabe.
Mas não era nada recreativo, não. O jornalista Rubens Valente revelou em sua coluna no UOL que uma agência contratada por vários ministérios, a BR+Comunicação, elaborou uma lista a pedido do Ministério da Economia relacionando 77 formadores de opinião, entre jornalistas, professores universitários, economistas, youtubers e militantes partidários com forte presença sobretudo no Twitter e os classificou em “detratores”, “neutros informativos” e “favoráveis”.
A tosquice, marca indelével do governo Bolsonaro, aparece no tal monitoramento em todo o seu esplendor. Nomes grafados errado, personagens repetidos e classificados em mais de uma “caixa”, mistura de pessoas com background e atuações completamente distintas e ideias de jerico a respeito de como a pasta deveria “atuar" para neutralizar os detratores e tirar vantagem dos “favoráveis”.
Mas não era nada recreativo, não. O jornalista Rubens Valente revelou em sua coluna no UOL que uma agência contratada por vários ministérios, a BR+Comunicação, elaborou uma lista a pedido do Ministério da Economia relacionando 77 formadores de opinião, entre jornalistas, professores universitários, economistas, youtubers e militantes partidários com forte presença sobretudo no Twitter e os classificou em “detratores”, “neutros informativos” e “favoráveis”.
A tosquice, marca indelével do governo Bolsonaro, aparece no tal monitoramento em todo o seu esplendor. Nomes grafados errado, personagens repetidos e classificados em mais de uma “caixa”, mistura de pessoas com background e atuações completamente distintas e ideias de jerico a respeito de como a pasta deveria “atuar" para neutralizar os detratores e tirar vantagem dos “favoráveis”.
Um trabalho inqualificável, de fazer corar qualquer tuiteiro amador. Ainda assim dinheiro público foi gasto nessa bizarrice. O pedido foi feito em agosto! Para que se destinava a tal lista? Para pautar ações da pasta. E o que foi feito? Nada, jura a pasta, que passou o dia ontem pedindo desculpas aos “detratores” e tentando emendar um soneto que já nasceu condenado.
A tal empresa emitiu uma nota patética, em que aponta que houve um “erro de processo” em que a expressão “negativo” virou “detratores”. Nem o corretor ortográfico mais alucinado conseguiria. E por que levaram três meses para “reparar” o erro, e só quando a imprensa detratora revelou a existência do tal dossiê?
Para além do ridículo da situação, que expôs de novo a pasta de Paulo Guedes a um vexame público quando se espera do ministro da Economia ação e respostas para os seus grandes e até aqui não encarados desafios de recuperar a economia e as contas públicas, há no episódio, como também é inerente a esse governo, o viés autoritário, de profunda incompreensão do papel da imprensa.
Para Bolsonaro e seus auxiliares, ser crítico, mesmo que contundente, a um ministro é ser detrator. Mas mais ofensivo mesmo seria ser incluída no rol dos “favoráveis”. Os aspirantes a espiões da pasta de Guedes são tão ruins de serviço que listaram num time de sabujos os excelentes Joel Pinheiro, Matheus Hector, Pedro Menezes e Felipe Moura Brasil. Fica aqui meu desagravo a eles.
O que eles entendem como imprensa é um bando de puxa-sacos que faz malabarismos retóricos de baixa qualidade para justificar o injustificável: uma equipe econômica que deveria entregar um projeto liberal mas hoje serve de esteio a um projeto autocrático.
É até possível que a tal lista nunca tenha chegado aos olhos de Paulo Guedes, como alegam seus interlocutores. Isso não é atenuante: só mostra que falta a esse ministério hipertrofiado foco, agenda, método e trabalho para fazer.
O macarthismo bolsonarista padece de todos os defeitos do governo: é aleatório, extremamente cafona e desinformado, inócuo mesmo nas suas mais obscuras intenções e nocivo à sociedade.
É normal que ministérios tenham perfis dos influenciadores de suas áreas? Sim. Desde que eles sejam feitos com balizas mínimas de institucionalidade e que fiquem claras as intenções a justificá-los.
No caso da lista dos detratores, só se produziu vergonha para um governo que vem se lambuzando nessa cumbuca há dois anos, às nossas custas.
A tal empresa emitiu uma nota patética, em que aponta que houve um “erro de processo” em que a expressão “negativo” virou “detratores”. Nem o corretor ortográfico mais alucinado conseguiria. E por que levaram três meses para “reparar” o erro, e só quando a imprensa detratora revelou a existência do tal dossiê?
Para além do ridículo da situação, que expôs de novo a pasta de Paulo Guedes a um vexame público quando se espera do ministro da Economia ação e respostas para os seus grandes e até aqui não encarados desafios de recuperar a economia e as contas públicas, há no episódio, como também é inerente a esse governo, o viés autoritário, de profunda incompreensão do papel da imprensa.
Para Bolsonaro e seus auxiliares, ser crítico, mesmo que contundente, a um ministro é ser detrator. Mas mais ofensivo mesmo seria ser incluída no rol dos “favoráveis”. Os aspirantes a espiões da pasta de Guedes são tão ruins de serviço que listaram num time de sabujos os excelentes Joel Pinheiro, Matheus Hector, Pedro Menezes e Felipe Moura Brasil. Fica aqui meu desagravo a eles.
O que eles entendem como imprensa é um bando de puxa-sacos que faz malabarismos retóricos de baixa qualidade para justificar o injustificável: uma equipe econômica que deveria entregar um projeto liberal mas hoje serve de esteio a um projeto autocrático.
É até possível que a tal lista nunca tenha chegado aos olhos de Paulo Guedes, como alegam seus interlocutores. Isso não é atenuante: só mostra que falta a esse ministério hipertrofiado foco, agenda, método e trabalho para fazer.
O macarthismo bolsonarista padece de todos os defeitos do governo: é aleatório, extremamente cafona e desinformado, inócuo mesmo nas suas mais obscuras intenções e nocivo à sociedade.
É normal que ministérios tenham perfis dos influenciadores de suas áreas? Sim. Desde que eles sejam feitos com balizas mínimas de institucionalidade e que fiquem claras as intenções a justificá-los.
No caso da lista dos detratores, só se produziu vergonha para um governo que vem se lambuzando nessa cumbuca há dois anos, às nossas custas.
Imagem do Dia
 |
| Go Nakamura/Getty Images |
Abraço entre o médico norte-americano Joseph Varon e um paciente idoso, no Texas, no dia de Ação de Graças, levou o profissional de saúde, que não sabia que estava a ser fotografado, a deixar um aviso: “Mantenham a distância social, usem máscara, lavem as mãos.”
O momento aconteceu quando um dos pacientes do hospital, infetado com o coronavírus, se levantou com o objetivo de ver a sua esposa. “Ao entrar na minha unidade Covid, vejo que este paciente idoso está fora da cama, a tentar sair do quarto, e está a chorar”, começa por explicar o médico. “Eu quero estar com a minha esposa”, respondeu-lhe. “Então, eu agarrei nele e abracei-o, não sabia que estava a ser fotografado naquela hora”.
Bolsonaro ignora covid, mas seu governo está confinado na incompetência
A geringonça do “parlamentarismo branco” deu a impressão de que havia algum governo do país em 2019, embora não houvesse governo propriamente dito. A Câmara dos Deputados, sob comando de Rodrigo Maia (DEM), aprovou parte das tais “reformas”, derrubou alguns papeluchos autoritários de Jair Bolsonaro e fez “notas de repúdio”.
A geringonça pifou. Não há mais nem impressão de governo do país, pois o Executivo não faz muito além de destruir ou ser levado pela burocracia estatal.
Não há governo na Economia. Há um clandestino na Educação que levou uma nas fuças na primeira decisão inepta que tomou (decretar a volta das aulas nas universidades federais).
A ordenança de Bolsonaro que toma conta do almoxarifado da Saúde, o general pisado pelo capitão, foi nesta terça-feira ao Congresso dar mais mostras de como trata o repique da epidemia com leviandade. “Ah, ele diz que vai comprar vacina”. Se não dissesse, o que deveria ser feito? Colocar o governo em um camburão, imediatamente?
A geringonça pifou. Não há mais nem impressão de governo do país, pois o Executivo não faz muito além de destruir ou ser levado pela burocracia estatal.
Não há governo na Economia. Há um clandestino na Educação que levou uma nas fuças na primeira decisão inepta que tomou (decretar a volta das aulas nas universidades federais).
A ordenança de Bolsonaro que toma conta do almoxarifado da Saúde, o general pisado pelo capitão, foi nesta terça-feira ao Congresso dar mais mostras de como trata o repique da epidemia com leviandade. “Ah, ele diz que vai comprar vacina”. Se não dissesse, o que deveria ser feito? Colocar o governo em um camburão, imediatamente?
Desde o final do ano passado, confrontado com a necessidade de tomar decisões sobre o gasto público e reformas divisivas, como a tributária ou privatizações, Bolsonaro para variar fugiu da responsabilidade. Foi para o ralo até a fantasia de programa econômico pregada por esse Ministério da Economia balofo, paquidérmico, incompetente e cúmplice do bolsonarismo.
Para nenhuma surpresa, Bolsonaro está colocando dinamite na máquina emperrada do Congresso. Entrou na disputa pelo comando de Câmara e Senado. Ainda que vença, não terá maiorias estáveis e deixará raivas sentidas. Até lideranças do centrão preteridas pelo capitão já se irritam em público.
Os conflitos dificultam a tramitação de projetos importantes. Até agora não foi votada nem a “prévia” do Orçamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), um atraso raro, nessa dimensão, e típico de momentos políticos disfuncionais. É improvável que o Congresso não vote a LDO até o final do ano. Caso não vote, o governo fecha, não pode gastar.
A geringonça entrou em pane em meados deste ano, quando Bolsonaro se viu ameaçado de impeachment e aumentou o risco de que filhos e empresários amigos fossem para a cadeia. Juntou-se ao centrão e montou uma coalizão bastante para evitar que lhe cortassem a cabeça, mas não para muito mais.
O que havia de governo do país, goste-se ou não do que havia, começou a se esfumaçar. Era um governo da Câmara, governo possível e muito limitado de um corpo legislativo no presidencialismo.
Era também um estratagema de contenção de danos maiores, para o que o Congresso teve apoio do Supremo. Mas era uma gambiarra que tolerou a presença de Bolsonaro, movida a jeitinhos ou malversação das capacidades dos Poderes.
A gambiarra continua. Como se sabe, os líderes políticos do Supremo e alguns do Congresso tentam burlar a Constituição a fim de permitir a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Por trás dos panos, dizem que a reeleição permitiria a “contenção” de Bolsonaro (isto é, a tolerância de seus crimes de responsabilidade menores e o controle dos maiores, sob ameaça de impeachment).
A isto chegamos. Bolsonaro é desgoverno e campanha permanente para desacreditar instituições e a sanidade (vide seu plano de, desde já, desmoralizar a honestidade da eleição e negar até declarações oficialmente gravadas, caso da gripezinha). A geringonça pifou e sabe-se lá o que vai ser o Congresso de 2021: pode ser muito pior. A tentativa alegada de remediar o desastre é uma mutreta constitucional.
Para nenhuma surpresa, Bolsonaro está colocando dinamite na máquina emperrada do Congresso. Entrou na disputa pelo comando de Câmara e Senado. Ainda que vença, não terá maiorias estáveis e deixará raivas sentidas. Até lideranças do centrão preteridas pelo capitão já se irritam em público.
Os conflitos dificultam a tramitação de projetos importantes. Até agora não foi votada nem a “prévia” do Orçamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), um atraso raro, nessa dimensão, e típico de momentos políticos disfuncionais. É improvável que o Congresso não vote a LDO até o final do ano. Caso não vote, o governo fecha, não pode gastar.
A geringonça entrou em pane em meados deste ano, quando Bolsonaro se viu ameaçado de impeachment e aumentou o risco de que filhos e empresários amigos fossem para a cadeia. Juntou-se ao centrão e montou uma coalizão bastante para evitar que lhe cortassem a cabeça, mas não para muito mais.
O que havia de governo do país, goste-se ou não do que havia, começou a se esfumaçar. Era um governo da Câmara, governo possível e muito limitado de um corpo legislativo no presidencialismo.
Era também um estratagema de contenção de danos maiores, para o que o Congresso teve apoio do Supremo. Mas era uma gambiarra que tolerou a presença de Bolsonaro, movida a jeitinhos ou malversação das capacidades dos Poderes.
A gambiarra continua. Como se sabe, os líderes políticos do Supremo e alguns do Congresso tentam burlar a Constituição a fim de permitir a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Por trás dos panos, dizem que a reeleição permitiria a “contenção” de Bolsonaro (isto é, a tolerância de seus crimes de responsabilidade menores e o controle dos maiores, sob ameaça de impeachment).
A isto chegamos. Bolsonaro é desgoverno e campanha permanente para desacreditar instituições e a sanidade (vide seu plano de, desde já, desmoralizar a honestidade da eleição e negar até declarações oficialmente gravadas, caso da gripezinha). A geringonça pifou e sabe-se lá o que vai ser o Congresso de 2021: pode ser muito pior. A tentativa alegada de remediar o desastre é uma mutreta constitucional.
No modo quanto pior, melhor
Entre entrevistas e devaneios sobre 2022 – o que mais temos visto nos últimos dias – o establishment político negligente tem que se lembrar que, quando e se chegar a hora, vai ser preciso ter um país...Helena Chagas
O Jair que há em nós
O Brasil levará décadas para compreender o que aconteceu naquele nebuloso ano de 2018, quando seus eleitores escolheram, para presidir o país, Jair Bolsonaro. Ex-integrante do Exército onde respondeu processo administrativo sob acusação de organização de ato terrorista; deputado de sete mandatos conhecido não pelos dois projetos de lei que conseguiu aprovar em 28 anos, mas pelas maquinações do submundo que incluem denúncias de “rachadinha”, contratação de parentes e envolvimento com milícias; ganhador do troféu de campeão nacional da escatologia, da falta de educação e das ofensas de todos os matizes de preconceito que se pode listar.
Embora seu discurso seja de negação da “velha política”, Bolsonaro, na verdade, representa não sua negação, mas o que há de pior nela. Ele é a materialização do lado mais nefasto, mais autoritário e mais inescrupuloso do sistema político brasileiro. Mas – e esse é o ponto que quero discutir hoje – ele está longe de ser algo surgido do nada ou brotado do chão pisoteado pela negação da política, alimentada nos anos que antecederam as eleições.
Pelo contrário, como pesquisador das relações entre cultura e comportamento político, estou cada vez mais convencido de que Bolsonaro é uma expressão bastante fiel do brasileiro médio, um retrato do modo de pensar o mundo, a sociedade e a política que caracteriza o típico cidadão do nosso país.
Quando me refiro ao “brasileiro médio”, obviamente não estou tratando da imagem romantizada pela mídia e pelo imaginário popular, do brasileiro receptivo, criativo, solidário, divertido e “malandro”. Refiro-me à sua versão mais obscura e, infelizmente, mais realista segundo o que minhas pesquisas e minha experiência têm demonstrado.
No “mundo real” o brasileiro é preconceituoso, violento, analfabeto (nas letras, na política, na ciência… em quase tudo). É racista, machista, autoritário, interesseiro, moralista, cínico, fofoqueiro, desonesto.
Os avanços civilizatórios que o mundo viveu, especialmente a partir da segunda metade do século XX, inevitavelmente chegaram ao país. Se materializaram em legislações, em políticas públicas (de inclusão, de combate ao racismo e ao machismo, de criminalização do preconceito), em diretrizes educacionais para escolas e universidades. Mas, quando se trata de valores arraigados, é preciso muito mais para mudar padrões culturais de comportamento.
O machismo foi tornado crime, o que lhe reduz as manifestações públicas e abertas. Mas ele sobrevive no imaginário da população, no cotidiano da vida privada, nas relações afetivas e nos ambientes de trabalho, nas redes sociais, nos grupos de whatsapp, nas piadas diárias, nos comentários entre os amigos “de confiança”, nos pequenos grupos onde há certa garantia de que ninguém irá denunciá-lo.
O mesmo ocorre com o racismo, com o preconceito em relação aos pobres, aos nordestinos, aos homossexuais. Proibido de se manifestar, ele sobrevive internalizado, reprimido não por convicção decorrente de mudança cultural, mas por medo do flagrante que pode levar a punição. É por isso que o politicamente correto, por aqui, nunca foi expressão de conscientização, mas algo mal visto por “tolher a naturalidade do cotidiano”.
Se houve avanços – e eles são, sim, reais – nas relações de gênero, na inclusão de negros e homossexuais, foi menos por superação cultural do preconceito do que pela pressão exercida pelos instrumentos jurídicos e policiais.
Mas, como sempre ocorre quando um sentimento humano é reprimido, ele é armazenado de algum modo. Ele se acumula, infla e, um dia, encontrará um modo de extravasar. Como aquele desejo do menino piromaníaco que era obcecado pelo fogo e pela ideia de queimar tudo a sua volta, reprimido pelo controle dos pais e da sociedade. Reprimido por anos, um dia ele se manifesta num projeto profissional que faz do homem adulto um bombeiro, permitindo-lhe estar perto do fogo de uma forma socialmente aceitável.
Foi algo parecido que aconteceu com o “brasileiro médio”, com todos os seus preconceitos reprimidos e, a duras penas, escondidos, que viu em um candidato a Presidência da República essa possibilidade de extravasamento. Eis que ele tinha a possibilidade de escolher, como seu representante e líder máximo do país, alguém que podia ser e dizer tudo o que ele também pensa, mas que não pode expressar por ser um “cidadão comum”.
Agora esse “cidadão comum” tem voz. Ele de fato se sente representado pelo Presidente que ofende as mulheres, os homossexuais, os índios, os nordestinos. Ele tem a sensação de estar pessoalmente no poder quando vê o líder máximo da nação usar palavreado vulgar, frases mal formuladas, palavrões e ofensas para atacar quem pensa diferente. Ele se sente importante quando seu “mito” enaltece a ignorância, a falta de conhecimento, o senso comum e a violência verbal para difamar os cientistas, os professores, os artistas, os intelectuais, pois eles representam uma forma de ver o mundo que sua própria ignorância não permite compreender.
Esse cidadão se vê empoderado quando as lideranças políticas que ele elegeu negam os problemas ambientais, pois eles são anunciados por cientistas que ele próprio vê como inúteis e contrários às suas crenças religiosas. Sente um prazer profundo quando seu governante maior faz acusações moralistas contra desafetos, e quando prega a morte de “bandidos” e a destruição de todos os opositores.
Ao assistir o show de horrores diário produzido pelo “mito”, esse cidadão não é tocado pela aversão, pela vergonha alheia ou pela rejeição do que vê. Ao contrário, ele sente aflorar em si mesmo o Jair que vive dentro de cada um, que fala exatamente aquilo que ele próprio gostaria de dizer, que extravasa sua versão reprimida e escondida no submundo do seu eu mais profundo e mais verdadeiro.
O “brasileiro médio” não entende patavinas do sistema democrático e de como ele funciona, da independência e autonomia entre os poderes, da necessidade de isonomia do judiciário, da importância dos partidos políticos e do debate de ideias e projetos que é responsabilidade do Congresso Nacional. É essa ignorância política que lhe faz ter orgasmos quando o Presidente incentiva ataques ao Parlamento e ao STF, instâncias vistas pelo “cidadão comum” como lentas, burocráticas, corrompidas e desnecessárias. Destruí-las, portanto, em sua visão, não é ameaçar todo o sistema democrático, mas condição necessária para fazê-lo funcionar.
Esse brasileiro não vai pra rua para defender um governante lunático e medíocre; ele vai gritar para que sua própria mediocridade seja reconhecida e valorizada, e para sentir-se acolhido por outros lunáticos e medíocres que formam um exército de fantoches cuja força dá sustentação ao governo que o representa.
O “brasileiro médio” gosta de hierarquia, ama a autoridade e a família patriarcal, condena a homossexualidade, vê mulheres, negros e índios como inferiores e menos capazes, tem nojo de pobre, embora seja incapaz de perceber que é tão pobre quanto os que condena. Vê a pobreza e o desemprego dos outros como falta de fibra moral, mas percebe a própria miséria e falta de dinheiro como culpa dos outros e falta de oportunidade. Exige do governo benefícios de toda ordem que a lei lhe assegura, mas acha absurdo quando outros, principalmente mais pobres, têm o mesmo benefício.
Poucas vezes na nossa história o povo brasileiro esteve tão bem representado por seus governantes. Por isso não basta perguntar como é possível que um Presidente da República consiga ser tão indigno do cargo e ainda assim manter o apoio incondicional de um terço da população. A questão a ser respondida é como milhões de brasileiros mantêm vivos padrões tão altos de mediocridade, intolerância, preconceito e falta de senso crítico ao ponto de sentirem-se representados por tal governo.
Ivann Lago
Embora seu discurso seja de negação da “velha política”, Bolsonaro, na verdade, representa não sua negação, mas o que há de pior nela. Ele é a materialização do lado mais nefasto, mais autoritário e mais inescrupuloso do sistema político brasileiro. Mas – e esse é o ponto que quero discutir hoje – ele está longe de ser algo surgido do nada ou brotado do chão pisoteado pela negação da política, alimentada nos anos que antecederam as eleições.
Pelo contrário, como pesquisador das relações entre cultura e comportamento político, estou cada vez mais convencido de que Bolsonaro é uma expressão bastante fiel do brasileiro médio, um retrato do modo de pensar o mundo, a sociedade e a política que caracteriza o típico cidadão do nosso país.
Quando me refiro ao “brasileiro médio”, obviamente não estou tratando da imagem romantizada pela mídia e pelo imaginário popular, do brasileiro receptivo, criativo, solidário, divertido e “malandro”. Refiro-me à sua versão mais obscura e, infelizmente, mais realista segundo o que minhas pesquisas e minha experiência têm demonstrado.
No “mundo real” o brasileiro é preconceituoso, violento, analfabeto (nas letras, na política, na ciência… em quase tudo). É racista, machista, autoritário, interesseiro, moralista, cínico, fofoqueiro, desonesto.
Os avanços civilizatórios que o mundo viveu, especialmente a partir da segunda metade do século XX, inevitavelmente chegaram ao país. Se materializaram em legislações, em políticas públicas (de inclusão, de combate ao racismo e ao machismo, de criminalização do preconceito), em diretrizes educacionais para escolas e universidades. Mas, quando se trata de valores arraigados, é preciso muito mais para mudar padrões culturais de comportamento.
O machismo foi tornado crime, o que lhe reduz as manifestações públicas e abertas. Mas ele sobrevive no imaginário da população, no cotidiano da vida privada, nas relações afetivas e nos ambientes de trabalho, nas redes sociais, nos grupos de whatsapp, nas piadas diárias, nos comentários entre os amigos “de confiança”, nos pequenos grupos onde há certa garantia de que ninguém irá denunciá-lo.
O mesmo ocorre com o racismo, com o preconceito em relação aos pobres, aos nordestinos, aos homossexuais. Proibido de se manifestar, ele sobrevive internalizado, reprimido não por convicção decorrente de mudança cultural, mas por medo do flagrante que pode levar a punição. É por isso que o politicamente correto, por aqui, nunca foi expressão de conscientização, mas algo mal visto por “tolher a naturalidade do cotidiano”.
Se houve avanços – e eles são, sim, reais – nas relações de gênero, na inclusão de negros e homossexuais, foi menos por superação cultural do preconceito do que pela pressão exercida pelos instrumentos jurídicos e policiais.
Mas, como sempre ocorre quando um sentimento humano é reprimido, ele é armazenado de algum modo. Ele se acumula, infla e, um dia, encontrará um modo de extravasar. Como aquele desejo do menino piromaníaco que era obcecado pelo fogo e pela ideia de queimar tudo a sua volta, reprimido pelo controle dos pais e da sociedade. Reprimido por anos, um dia ele se manifesta num projeto profissional que faz do homem adulto um bombeiro, permitindo-lhe estar perto do fogo de uma forma socialmente aceitável.
Foi algo parecido que aconteceu com o “brasileiro médio”, com todos os seus preconceitos reprimidos e, a duras penas, escondidos, que viu em um candidato a Presidência da República essa possibilidade de extravasamento. Eis que ele tinha a possibilidade de escolher, como seu representante e líder máximo do país, alguém que podia ser e dizer tudo o que ele também pensa, mas que não pode expressar por ser um “cidadão comum”.
Agora esse “cidadão comum” tem voz. Ele de fato se sente representado pelo Presidente que ofende as mulheres, os homossexuais, os índios, os nordestinos. Ele tem a sensação de estar pessoalmente no poder quando vê o líder máximo da nação usar palavreado vulgar, frases mal formuladas, palavrões e ofensas para atacar quem pensa diferente. Ele se sente importante quando seu “mito” enaltece a ignorância, a falta de conhecimento, o senso comum e a violência verbal para difamar os cientistas, os professores, os artistas, os intelectuais, pois eles representam uma forma de ver o mundo que sua própria ignorância não permite compreender.
Esse cidadão se vê empoderado quando as lideranças políticas que ele elegeu negam os problemas ambientais, pois eles são anunciados por cientistas que ele próprio vê como inúteis e contrários às suas crenças religiosas. Sente um prazer profundo quando seu governante maior faz acusações moralistas contra desafetos, e quando prega a morte de “bandidos” e a destruição de todos os opositores.
Ao assistir o show de horrores diário produzido pelo “mito”, esse cidadão não é tocado pela aversão, pela vergonha alheia ou pela rejeição do que vê. Ao contrário, ele sente aflorar em si mesmo o Jair que vive dentro de cada um, que fala exatamente aquilo que ele próprio gostaria de dizer, que extravasa sua versão reprimida e escondida no submundo do seu eu mais profundo e mais verdadeiro.
O “brasileiro médio” não entende patavinas do sistema democrático e de como ele funciona, da independência e autonomia entre os poderes, da necessidade de isonomia do judiciário, da importância dos partidos políticos e do debate de ideias e projetos que é responsabilidade do Congresso Nacional. É essa ignorância política que lhe faz ter orgasmos quando o Presidente incentiva ataques ao Parlamento e ao STF, instâncias vistas pelo “cidadão comum” como lentas, burocráticas, corrompidas e desnecessárias. Destruí-las, portanto, em sua visão, não é ameaçar todo o sistema democrático, mas condição necessária para fazê-lo funcionar.
Esse brasileiro não vai pra rua para defender um governante lunático e medíocre; ele vai gritar para que sua própria mediocridade seja reconhecida e valorizada, e para sentir-se acolhido por outros lunáticos e medíocres que formam um exército de fantoches cuja força dá sustentação ao governo que o representa.
O “brasileiro médio” gosta de hierarquia, ama a autoridade e a família patriarcal, condena a homossexualidade, vê mulheres, negros e índios como inferiores e menos capazes, tem nojo de pobre, embora seja incapaz de perceber que é tão pobre quanto os que condena. Vê a pobreza e o desemprego dos outros como falta de fibra moral, mas percebe a própria miséria e falta de dinheiro como culpa dos outros e falta de oportunidade. Exige do governo benefícios de toda ordem que a lei lhe assegura, mas acha absurdo quando outros, principalmente mais pobres, têm o mesmo benefício.
Poucas vezes na nossa história o povo brasileiro esteve tão bem representado por seus governantes. Por isso não basta perguntar como é possível que um Presidente da República consiga ser tão indigno do cargo e ainda assim manter o apoio incondicional de um terço da população. A questão a ser respondida é como milhões de brasileiros mantêm vivos padrões tão altos de mediocridade, intolerância, preconceito e falta de senso crítico ao ponto de sentirem-se representados por tal governo.
Ivann Lago
A volta do Febeapá
Consta que o general Zenildo Gonzaga Zoroastro de Lucena, ministro do Exército nos governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, que faleceu aos 89 anos, em março de 2017, teria sido o grande responsável pela formação da atual elite militar do país, pela ênfase que deu ao aperfeiçoamento e à formação de oficiais superiores, inclusive, estimulando a graduação e pós-graduação em áreas civis, como economia e finanças, administração, ciências políticas, comunicação social, direito etc.
O general assumiu o mais alto posto do Exército Brasileiro logo após o afastamento do ex-presidente Fernando Collor de Melo, em outubro de 1992, durante a transição entre a posse de Itamar Franco e as eleições de 1994. Ao assumir o cargo de ministro do Exército, em meio à crise que culminou com o impeachment de Collor, teria atuado para evitar uma intervenção dos militares. Em junho de 1993, por exemplo, rebateu as declarações do deputado federal e capitão da reserva Jair Bolsonaro favoráveis ao fechamento do Congresso e à volta do regime de exceção, garantindo o apoio do Exército ao governo.
Por causa da perda de privilégios e do corte de verbas destinados às Forças Armadas durante o ajuste fiscal do Plano Real, os militares não gostam de lembrar dos anos do governo FHC, nos quais houve um grande sucateamento de seus equipamentos. No fundo, foram mais felizes durante o governo Lula, que apostou na criação de uma indústria nacional de Defesa, com a produção de veículos de transporte de tropas e carros blindados, lança-foguetes, novos caças e avião cargueiro, e dos novos submarinos, um deles nuclear, além articular missões internacionais a serviço da ONU, entre as quais a do Haiti, onde estiveram alguns dos atuais integrantes do governo Bolsonaro.
Os tempos de vacas magras e confinamento nos quartéis, porém, haviam servido para reconstruir a imagem dos militares perante a sociedade, depois do desgaste causado por 20 anos de ditadura, restabelecendo o prestígio que se perdera nas décadas de 1970 e 1980. Operações humanitárias na Amazônia e no Nordeste e de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) nos estados, em momentos de colapso do sistema de segurança pública, nos anos mais recentes, contribuíram para essa reconstrução de imagem.
Entretanto, a militarização do governo de Jair Bolsonaro ameaça pôr tudo a perder. A preocupação já tomou conta dos altos-comandos das Forças Armadas, por uma série de episódios que colocam em xeque a competência dos oficiais generais, alguns da ativa, que, hoje, controlam postos estratégicos do governo. É o caso do general de divisão Eduardo Pazuello, cuja subserviência mascarada de disciplina e respeito à hierarquia fica evidente quando fala besteiras com o claro propósito de agradar o presidente Bolsonaro, um negacionista da gravidade da covid-19, da vacina e do isolamento social.
Ontem, houve mais um desses casos, durante audiência na Câmara, quando o ministro da Saúde tratou com desdém e ironia as medidas que estão sendo adotadas por governadores e prefeitos para conter a segunda onda da pandemia da covid-19, como acontece em outros países que enfrentam o problema. Disse que as eleições demonstram que o isolamento social é desnecessário, quando a lotação das enfermarias nas redes privada e pública estão demonstrando exatamente o contrário. Para completar, numa espécie de quem manda aqui sou eu, voltou a advertir, sem necessidade, que nenhuma vacina será aplicada sem autorização da Anvisa, deixando no ar que o governo federal criará dificuldades para a imediata aplicação da vacina chinesa CoronaVac pelo governo de São Paulo.
A sorte do general é que ainda não apareceu um novo Sérgio Porto, o cronista Stanislaw Ponte Preta, para reeditar o famoso Febeapá (Festival de Besteira que Assola o País), uma coletânea de “causos” de políticos, militares e delegados proeminentes durante o regime militar. O livro foi publicado em 1966, antes do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, que legitimou a censura prévia e acabou com habeas corpus, entre outras medidas antidemocráticas. Sérgio Porto morreu três meses antes, aos 45 anos.
O Brasil registrou 669 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 174.531 óbitos desde o começo da pandemia. A média móvel de mortes no país, nos últimos sete dias, foi de 533. Desde o começo da crise sanitária, 6.436.633 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 48.107 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos sete dias foi de 38.534 novos diagnósticos por dia, a maior desde 6 de setembro — quando chegou a 39.356. Isso representa uma variação de +35% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica tendência de alta nos diagnósticos em 11 estados: PR, RS, SC, ES, MS, AC, AM, RO, CE, PE e SE.
O general assumiu o mais alto posto do Exército Brasileiro logo após o afastamento do ex-presidente Fernando Collor de Melo, em outubro de 1992, durante a transição entre a posse de Itamar Franco e as eleições de 1994. Ao assumir o cargo de ministro do Exército, em meio à crise que culminou com o impeachment de Collor, teria atuado para evitar uma intervenção dos militares. Em junho de 1993, por exemplo, rebateu as declarações do deputado federal e capitão da reserva Jair Bolsonaro favoráveis ao fechamento do Congresso e à volta do regime de exceção, garantindo o apoio do Exército ao governo.
Por causa da perda de privilégios e do corte de verbas destinados às Forças Armadas durante o ajuste fiscal do Plano Real, os militares não gostam de lembrar dos anos do governo FHC, nos quais houve um grande sucateamento de seus equipamentos. No fundo, foram mais felizes durante o governo Lula, que apostou na criação de uma indústria nacional de Defesa, com a produção de veículos de transporte de tropas e carros blindados, lança-foguetes, novos caças e avião cargueiro, e dos novos submarinos, um deles nuclear, além articular missões internacionais a serviço da ONU, entre as quais a do Haiti, onde estiveram alguns dos atuais integrantes do governo Bolsonaro.
Os tempos de vacas magras e confinamento nos quartéis, porém, haviam servido para reconstruir a imagem dos militares perante a sociedade, depois do desgaste causado por 20 anos de ditadura, restabelecendo o prestígio que se perdera nas décadas de 1970 e 1980. Operações humanitárias na Amazônia e no Nordeste e de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) nos estados, em momentos de colapso do sistema de segurança pública, nos anos mais recentes, contribuíram para essa reconstrução de imagem.
Entretanto, a militarização do governo de Jair Bolsonaro ameaça pôr tudo a perder. A preocupação já tomou conta dos altos-comandos das Forças Armadas, por uma série de episódios que colocam em xeque a competência dos oficiais generais, alguns da ativa, que, hoje, controlam postos estratégicos do governo. É o caso do general de divisão Eduardo Pazuello, cuja subserviência mascarada de disciplina e respeito à hierarquia fica evidente quando fala besteiras com o claro propósito de agradar o presidente Bolsonaro, um negacionista da gravidade da covid-19, da vacina e do isolamento social.
Ontem, houve mais um desses casos, durante audiência na Câmara, quando o ministro da Saúde tratou com desdém e ironia as medidas que estão sendo adotadas por governadores e prefeitos para conter a segunda onda da pandemia da covid-19, como acontece em outros países que enfrentam o problema. Disse que as eleições demonstram que o isolamento social é desnecessário, quando a lotação das enfermarias nas redes privada e pública estão demonstrando exatamente o contrário. Para completar, numa espécie de quem manda aqui sou eu, voltou a advertir, sem necessidade, que nenhuma vacina será aplicada sem autorização da Anvisa, deixando no ar que o governo federal criará dificuldades para a imediata aplicação da vacina chinesa CoronaVac pelo governo de São Paulo.
A sorte do general é que ainda não apareceu um novo Sérgio Porto, o cronista Stanislaw Ponte Preta, para reeditar o famoso Febeapá (Festival de Besteira que Assola o País), uma coletânea de “causos” de políticos, militares e delegados proeminentes durante o regime militar. O livro foi publicado em 1966, antes do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, que legitimou a censura prévia e acabou com habeas corpus, entre outras medidas antidemocráticas. Sérgio Porto morreu três meses antes, aos 45 anos.
O Brasil registrou 669 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 174.531 óbitos desde o começo da pandemia. A média móvel de mortes no país, nos últimos sete dias, foi de 533. Desde o começo da crise sanitária, 6.436.633 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 48.107 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos sete dias foi de 38.534 novos diagnósticos por dia, a maior desde 6 de setembro — quando chegou a 39.356. Isso representa uma variação de +35% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica tendência de alta nos diagnósticos em 11 estados: PR, RS, SC, ES, MS, AC, AM, RO, CE, PE e SE.
Assinar:
Comentários (Atom)