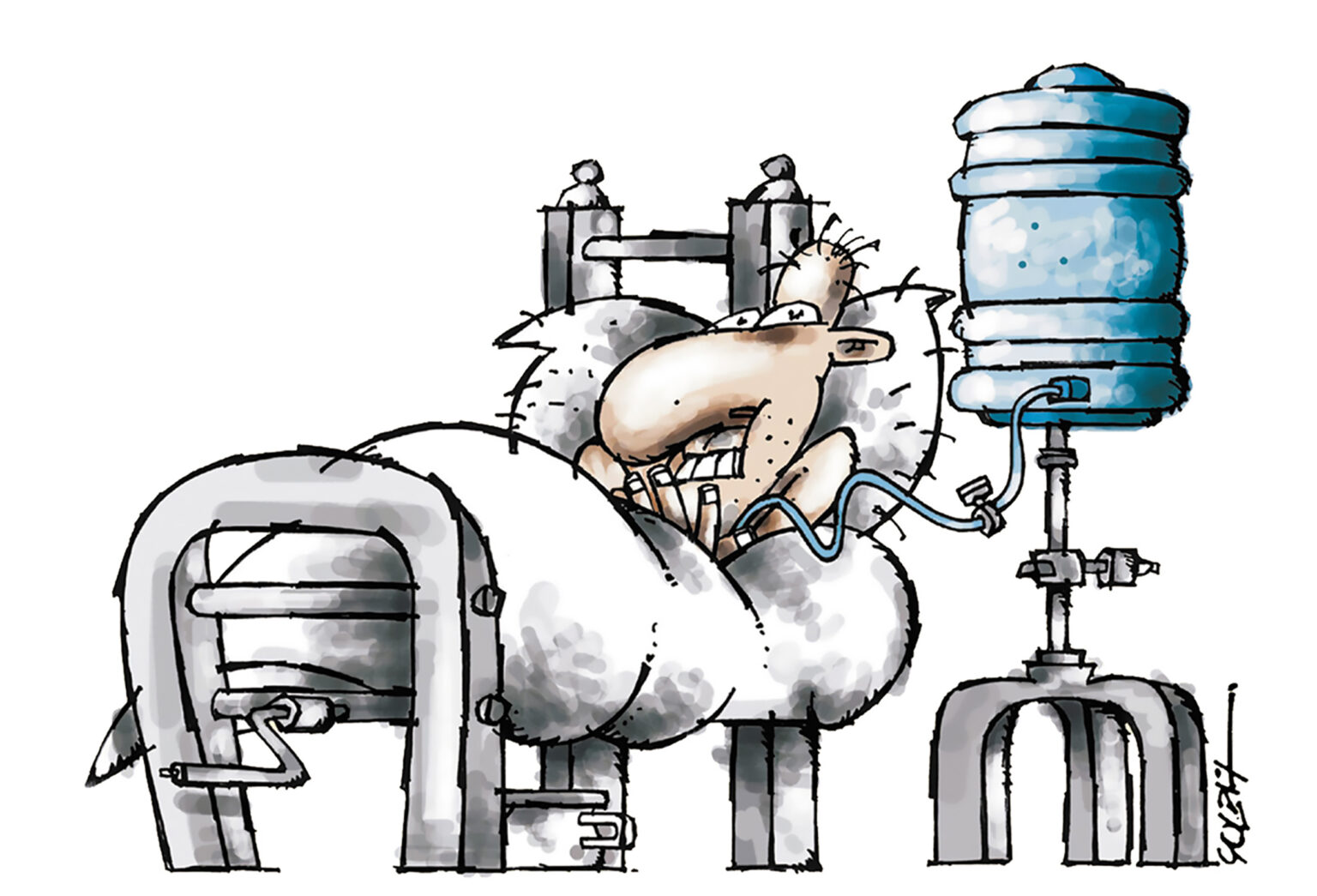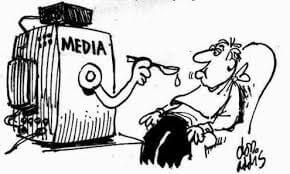Moisés Castro trabalha vendendo frutas em uma banca na Avenida Oriental, na cidade colombiana de Medellín, há mais de 30 anos.
Ele se lembra de uma ocasião, décadas atrás, em que o governo local derrubou as árvores da avenida como parte de uma alteração de trânsito.
Atualmente, a Avenida Oriental continua a ser uma típica via repleta de tráfego e comércio local. Mas, revertendo as decisões anteriores sobre a arborização, a área também recebeu grandes árvores frutíferas, arbustos e flores.
Para Castro, a qualidade do ar e a temperatura do local melhoraram com a medida.
De fato, a temperatura parece agradável todo o ano. Aqui, é claramente mais fresco do que em outras partes da cidade que não contam com a cobertura verde. Ciclovias margeiam as ruas e os pedestres descansam em bancos na sombra.
Conhecida como a Cidade da Primavera Eterna, Medellín e seu clima temperado costumam atrair turistas por todo o ano, mas o aumento da urbanização expôs a cidade ao efeito ilha de calor das áreas urbanas, que causa a absorção e a retenção do calor pelas ruas e construções da cidade.
Os novos corredores verdes de Medellín mostraram-se claramente eficientes para reverter este impacto. A temperatura caiu em 2° C por toda a cidade, segundo dados da prefeitura local aos quais a BBC teve acesso.
Medellín é a segunda maior cidade da Colômbia, ficando atrás apenas da capital, Bogotá. Em 2016, ela deu início ao seu programa de "corredores verdes" devido às preocupações com a poluição do ar e o aumento do calor.
O programa inclui mais de 30 corredores verdes, que conectam calçadas de ruas recém-arborizadas, jardins verticais, cursos d’água, parques e morros próximos.
Inicialmente, o projeto envolveu o plantio de cerca de 120 mil plantas individuais e 12,5 mil árvores nas ruas e parques. Em 2021, ele atingiu 2,5 milhões de plantas menores e 880 mil árvores plantadas em toda a cidade.
A ideia era conectar as áreas verdes de Medellín por meio de ruas e avenidas rodeadas por árvores e sombra.
O investimento inicial para implantar o projeto foi de US$ 16,3 milhões (cerca de R$ 80,8 milhões) e o custo anual de manutenção em 2022 foi de US$ 625 mil (cerca de R$ 3,1 milhões), segundo a prefeitura da cidade.
O projeto de Medellín agora é conhecido em todo o mundo, devido aos resultados expressivos obtidos para o resfriamento da cidade.
E, além de reduzir o calor, especialistas afirmam que os corredores verdes também melhoram a qualidade do ar e trouxeram a vida selvagem de volta para a zona urbana.
Em uma época de crescentes preocupações com as ondas de calor relacionadas às mudanças climáticas, especialmente nas cidades, onde o efeito ilha de calor pode aumentar ainda mais as temperaturas, o projeto de corredores verdes de Medellín oferece uma solução popular, de baixo custo, que cada vez mais cidades estão procurando reproduzir.
Ao lado das preocupações com o calor urbano, o projeto dos corredores verdes de Medellín foi colocado em ação devido à preocupação com a baixa qualidade do ar, causada, em grande parte, pelo enorme crescimento do transporte particular.
A localização da cidade no vale do Aburrá – uma formação geológica que pode capturar a poluição entre as montanhas – não favorece a situação.
E as condições climáticas e meteorológicas também são desfavoráveis para a dispersão vertical dos poluentes, segundo Maurício Correa, pesquisador de engenharia ambiental da Universidade de Antioquia, na Colômbia.
Segundo a empresa suíça IQair, que mede a qualidade do ar em todo o mundo, os níveis anuais de matéria particulada (PM2,5) de Medellín não são os piores da América do Sul, mas são três vezes maiores que o limite de segurança da OMS (Organização Mundial da Saúde), que recomenda média máxima de 5 µg/m3 ao longo do ano. Eles ainda estão acima dos níveis de Bogotá e de São Paulo.
A poluição de Medellín é muito menor do que a de outras cidades conhecidas pelo mesmo problema – como Nova Déli, na Índia, cujas medições em 2022 foram 18 vezes maiores que o limite anual da OMS, por exemplo.
Mas, durante a estação seca, a cidade enfrenta seu pior período de condições do ar devido à redução das chuvas (que, normalmente, ajudam a dissipar a poluição). Nesse período, Medellín pode atingir 55 µg/m3 de PM2,5 – nível suficiente para fazer soar o alarme das autoridades.
A relação entre a exposição a PM2,5 (partículas minúsculas no ar) e doenças respiratórias é bem conhecida.
Quando a poluição sobe acima de 38 µg/m3, o sistema de alerta precoce do vale gera um alarme que pode gerar restrições ao uso de automóveis e aconselhar as pessoas, especialmente as mais vulneráveis, a permanecer em casa.
"Em 2015 e 2016, nós atingimos o pico da poluição do ar", segundo Paula Palacio, secretária de infraestrutura local de Medellín na época. "Foi um momento crítico para as questões ambientais."
Ela destaca que, naquele momento, cresceu a pressão popular por medidas mais sistemáticas sobre a poluição. "A população se sentia muito prejudicada pelas restrições."
Em estudo de 2020 da Universidade de Antioquia, em Medellín, concluiu que a poluição causou 1.971 mortes prematuras na região do vale do Aburrá em 2016 – e que as mortes causadas pela poluição aumentariam substancialmente até 2030, se as emissões dos veículos não fossem controladas.
Correa explica que as árvores usadas nos corredores agem como "barreiras verdes" contra os perigosos materiais particulados, absorvendo níveis significativos de poluição.
Segundo ele, algumas das espécies empregadas no projeto de Medellín são conhecidas por serem muito eficientes na absorção de poluição, como a mangueira (Mangifera indica).
Correa é um dos autores de um estudo de 2021, que identificou Mangifera indica como a melhor dentre seis espécies vegetais encontradas em Medellín para absorção de PM2,5 e sobrevivência em regiões poluídas, devido aos seus "mecanismos biológicos e bioquímicos".
"Esta planta é muito resistente à contaminação", afirma Correa. "Outras plantas não têm a mesma capacidade de sobreviver em regiões poluídas."
Até agora, nenhum estudo ou análise geral examinou a quantidade de poluição efetivamente reduzida pelo projeto dos corredores verdes. Mas Correa afirma que sua equipe está nos primeiros estágios de estudo desse impacto e os resultados devem ser publicados no início de 2024.
Ao lado dos 30 corredores verdes, cerca de 124 parques também são parte do projeto. Conectados pelos corredores, eles também receberam plantio de nova vegetação. E este aumento das áreas verdes também trouxe impactos positivos para o clima da cidade.
Um estudo de 2019, da Faculdade de Engenharia de Antioquia, estimou que apenas dois desses parques – os morros Nutibara e Volador – foram responsáveis por remover da atmosfera 40 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por ano.
León Dário trabalha perto da Avenida La Playa, perto da Avenida Oriental, vendendo batatas fritas. Ele trabalha na região há duas décadas e conta que o projeto dos corredores verdes tem forte apoio popular.
Além das árvores, Dário acredita que a introdução dos veículos elétricos foi outra boa medida para melhorar a qualidade do ar. Nos últimos anos, a prefeitura local substituiu ônibus a diesel por elétricos na região.
O apoio dos moradores de Medellín foi fundamental para o sucesso do projeto dos corredores verdes, segundo Lina Rendon, atual subsecretária da prefeitura de Medellín para recursos renováveis.
Um dos motivos, segundo Rendon, é o orçamento participativo do município. O caixa permite aos moradores locais escolher iniciativas que eles querem ver financiadas. Nos últimos anos, a população escolheu muitas iniciativas verdes para a cidade desta forma.
O governo atual do município assumiu em 2019. Desde então, foram plantadas mais 9.332 novas árvores, segundo os dados oficiais. O total da área verde de Medellín, agora, é de cerca de 4 milhões de metros quadrados.
Rendon afirma que a comunidade local também auxilia na manutenção direta do projeto, por meio de jardineiros voluntários.
O projeto dos corredores verdes também gerou um programa de contratação de pessoas que chegam a Medellín, deslocadas pela violência em outras partes da Colômbia. O programa ajuda essas pessoas a encontrar empregos fixos como jardineiros.
"Os jardineiros eram [pessoas] socialmente vulneráveis e [o projeto] ofereceu dignidade", conta Palacio.
Para o secretário do Meio Ambiente de Medellín entre 2016 e 2019, Sergio Orozco, os resultados do projeto foram surpreendentemente positivos.
"A redução da temperatura, em algumas regiões em mais de 3° C, foi maior do que o esperado", ele conta. "Também observamos o retorno de animais que não haviam sido vistos por ali há muitos anos."
O governo local mediu a temperatura em alguns locais no centro da cidade antes e depois do projeto, segundo Paula Palacio. A conclusão foi que algumas regiões observaram redução média da temperatura de até 2° C após a implementação dos corredores.
O monitoramento da vida selvagem local também observou pássaros, lagartos, sapos e morcegos nos corredores.
As autoridades locais afirmam que alguns desses animais não eram vistos em Medellín há anos – o que também ajudou a controlar os ratos e outras pragas, segundo acreditam diversos moradores da cidade.
Em 2019, Medellín recebeu o Prêmio Ashden – concedido a soluções para transformar o clima – na categoria "Resfriamento pela Natureza".
"A reação da cidade reúne as pessoas, plantando vegetação para criar um ambiente melhor para todos", segundo os jurados.
Estas conquistas tornaram o projeto de Medellín famoso em todo o mundo. Outras cidades colombianas, como Bogotá e Barranquilla, também adotaram planos similares.
Bogotá, por exemplo, planeja formar um corredor verde em uma das suas principais avenidas. E, no Brasil, a capital de São Paulo também ampliou recentemente sua versão local dos corredores verdes.
Uma das medidas mais ambiciosas para transformar Medellín em uma cidade verde são os planos da prefeitura local de fechar o aeroporto central e transformá-lo em um parque.
A ideia é desviar os voos para outros aeroportos próximos. Mas o projeto, no momento, está suspenso por decisão dos vereadores locais.
Os debates sobre como transformar Medellín em uma cidade ainda mais verde e adaptada ao clima irá continuar nos próximos anos. Mas os moradores da cidade já podem contar com locais com mais sombra e clima mais ameno, enquanto planejam suas próximas medidas.