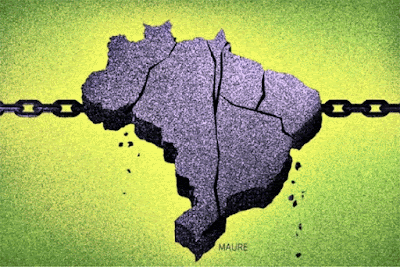quinta-feira, 8 de setembro de 2022
Chegamos aos 200 anos desorientados e divididos
O Bicentenário da Independência do Brasil está sendo “comemorado” às vésperas das eleições gerais de 2 de outubro (daqui a 25 dias), como se fosse uma pajelança eleitoral. Entretanto, deveria ser uma grande festa de afirmação da identidade nacional, da nossa coesão social e de um projeto de futuro.
O presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição, se apropriou da data para alavancar sua campanha. As mobilizações “nacionalistas” programadas para Brasília, Rio de janeiro e São Paulo, principalmente, tendo como coadjuvantes as Forças Armadas, que sempre foram protagonistas, são atos de provocação contra o Estado democrático de direito e suas instituições, principalmente o Supremo Tribunal Federal (STF). Seus organizadores acreditam que o 7 de Setembro será o “fato novo” capaz de promover uma virada no cenário das eleições. Veremos.
É uma situação inédita. Nem mesmo em 1972, quando o Sesquicentenário da Independência foi comemorado com pompa e circunstância pelo regime militar, a nossa memória histórica foi resgatada de forma tão tosca. Àquela época, criou-se uma comissão governamental em parceria com Instituto Histórico e Geográfico com a tarefa de resgatar as lutas pela Independência, com objetivo de fortalecer os vínculos entre o projeto de institucionalização do regime autoritário então vigente e o sentimento nacionalista do povo. Memória e identidade caminhavam juntas, mesmo que com o viés autoritário da época.
O país vivia o “chamado milagre brasileiro”, com base no tripé econômico empresas estatais-iniciativa privada nacional-investimentos estrangeiros, com instalação de empresas multinacionais e empréstimos bilionários. Os militares tinham um projeto nacional desenvolvimentista, autárquico, a custa de muito endividamento externo.
Operou-se a chamada “modernização conservadora”, sob a lógica de “fazer o bolo crescer para depois dividir”. Houve arrocho salarial para a grande massa trabalhadora, mas formou-se uma nova e abastada classe média, que apoiava o regime.
A concentração de capital e a desigualdade social se cristalizaram como par dialético da nossa economia, mas houve maior integração nacional e o Brasil passou a contar com uma base industrial robusta. Tanto os militares como a oposição, que estava sendo massacrada, tinham um projeto de futuro nacional desenvolvimentista. O divisor de águas era a falta de democracia.
Os radicais de direita que comemoram nas ruas o Bicentenário da Independência têm como referência um passado imaginário, no qual glamorizam o regime militar e ignoram os seus equívocos, que o levaram à bancarrota, após 20 anos de ditadura. O maniqueísmo é uma característica da mentalidade reacionária, aqui ou em qualquer lugar do mundo.
O resultado é que as comemorações oficiais do Bicentenário foram abduzidas pela campanha de Bolsonaro, sem que as instituições governamentais tenham feito qualquer reflexão sobre o futuro do país, nem mesmo aquelas que tradicionalmente se preocuparam com isso, como o Itamaraty e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
A propósito, uma das reflexões mais instigantes sobre o Bicentenário foi a palestra do embaixador Rubens Ricúpero na Academia Brasileira de Letras (ABL), na sexta-feira passada, na qual ele indagava o que o Brasil poderia fazer ao longo dos próximos 100 anos. É muita ironia, os principais protagonistas da vida nacional estão pensando nos próximos 25 dias. Ricúpero ainda acredita que o Brasil pode ser tornar uma potência ambiental, de direitos humanos, de promoção da igualdade racial e social, solidária a fracos e miseráveis. A agenda das manifestações programadas para hoje vai na direção diametralmente contrária.
Discípulo “incondicional” de Capistrano de Abreu, o primeiro a valorizar a importância do “povo capado e recapado, sangrado e ressangrado” na formação histórica do Brasil, José Honório Rodrigues, falecido em abril de 1987, aos 73 anos de idade, era um historiador liberal democrata de formação anglo-saxã. Na coletânea Conciliação e reforma no Brasil: interpretação histórico política (Civilização Brasileira, 1965), ele destacou que a concentração do poder político por um grupo conservador impediu o progresso do país durante séculos.
Para ele, as lutas pela independência poderiam fundar as bases nacionais em terreno popular e liberal, mas foram derrotadas. A Independência não significou uma ruptura, mas a continuidade da ordem privilegiada das elites escravocratas da época.
Em 1822, nas décadas de 1830 e 1840, em 1889, 1930, 1945, 1961 e 1964 deu-se o mesmo. “Os poderes dominantes tiveram sempre força para conter as aspirações profundas de mudança e reverter os movimentos de modo a sustentar seu sistema, e seus privilégios”, diagnosticou num dos ensaios da coletânea, intitulado Teses e antíteses da História do Brasil.
Honório considerava o populismo “uma espécie de primitivismo político (…), um instrumento de agitação irresponsável, de meio desordenado de degradação da política e dos políticos”. Dizia que foi um entrave ao crescimento ordenado e eficiente nas décadas de 1950 e 1960: “A campanha de luta e agitação (…) desgastou o progressismo que se vinha formando e criou barreiras intransponíveis (…) O radicalismo vindo de cima, que mais agitava do que propunha construir (…) uma pedra no caminho da reforma e do progresso nacional. Não uniu, dividiu”. Parece que a história se repete.
O presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição, se apropriou da data para alavancar sua campanha. As mobilizações “nacionalistas” programadas para Brasília, Rio de janeiro e São Paulo, principalmente, tendo como coadjuvantes as Forças Armadas, que sempre foram protagonistas, são atos de provocação contra o Estado democrático de direito e suas instituições, principalmente o Supremo Tribunal Federal (STF). Seus organizadores acreditam que o 7 de Setembro será o “fato novo” capaz de promover uma virada no cenário das eleições. Veremos.
É uma situação inédita. Nem mesmo em 1972, quando o Sesquicentenário da Independência foi comemorado com pompa e circunstância pelo regime militar, a nossa memória histórica foi resgatada de forma tão tosca. Àquela época, criou-se uma comissão governamental em parceria com Instituto Histórico e Geográfico com a tarefa de resgatar as lutas pela Independência, com objetivo de fortalecer os vínculos entre o projeto de institucionalização do regime autoritário então vigente e o sentimento nacionalista do povo. Memória e identidade caminhavam juntas, mesmo que com o viés autoritário da época.
O país vivia o “chamado milagre brasileiro”, com base no tripé econômico empresas estatais-iniciativa privada nacional-investimentos estrangeiros, com instalação de empresas multinacionais e empréstimos bilionários. Os militares tinham um projeto nacional desenvolvimentista, autárquico, a custa de muito endividamento externo.
Operou-se a chamada “modernização conservadora”, sob a lógica de “fazer o bolo crescer para depois dividir”. Houve arrocho salarial para a grande massa trabalhadora, mas formou-se uma nova e abastada classe média, que apoiava o regime.
A concentração de capital e a desigualdade social se cristalizaram como par dialético da nossa economia, mas houve maior integração nacional e o Brasil passou a contar com uma base industrial robusta. Tanto os militares como a oposição, que estava sendo massacrada, tinham um projeto de futuro nacional desenvolvimentista. O divisor de águas era a falta de democracia.
Os radicais de direita que comemoram nas ruas o Bicentenário da Independência têm como referência um passado imaginário, no qual glamorizam o regime militar e ignoram os seus equívocos, que o levaram à bancarrota, após 20 anos de ditadura. O maniqueísmo é uma característica da mentalidade reacionária, aqui ou em qualquer lugar do mundo.
O resultado é que as comemorações oficiais do Bicentenário foram abduzidas pela campanha de Bolsonaro, sem que as instituições governamentais tenham feito qualquer reflexão sobre o futuro do país, nem mesmo aquelas que tradicionalmente se preocuparam com isso, como o Itamaraty e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
A propósito, uma das reflexões mais instigantes sobre o Bicentenário foi a palestra do embaixador Rubens Ricúpero na Academia Brasileira de Letras (ABL), na sexta-feira passada, na qual ele indagava o que o Brasil poderia fazer ao longo dos próximos 100 anos. É muita ironia, os principais protagonistas da vida nacional estão pensando nos próximos 25 dias. Ricúpero ainda acredita que o Brasil pode ser tornar uma potência ambiental, de direitos humanos, de promoção da igualdade racial e social, solidária a fracos e miseráveis. A agenda das manifestações programadas para hoje vai na direção diametralmente contrária.
Discípulo “incondicional” de Capistrano de Abreu, o primeiro a valorizar a importância do “povo capado e recapado, sangrado e ressangrado” na formação histórica do Brasil, José Honório Rodrigues, falecido em abril de 1987, aos 73 anos de idade, era um historiador liberal democrata de formação anglo-saxã. Na coletânea Conciliação e reforma no Brasil: interpretação histórico política (Civilização Brasileira, 1965), ele destacou que a concentração do poder político por um grupo conservador impediu o progresso do país durante séculos.
Para ele, as lutas pela independência poderiam fundar as bases nacionais em terreno popular e liberal, mas foram derrotadas. A Independência não significou uma ruptura, mas a continuidade da ordem privilegiada das elites escravocratas da época.
Em 1822, nas décadas de 1830 e 1840, em 1889, 1930, 1945, 1961 e 1964 deu-se o mesmo. “Os poderes dominantes tiveram sempre força para conter as aspirações profundas de mudança e reverter os movimentos de modo a sustentar seu sistema, e seus privilégios”, diagnosticou num dos ensaios da coletânea, intitulado Teses e antíteses da História do Brasil.
Honório considerava o populismo “uma espécie de primitivismo político (…), um instrumento de agitação irresponsável, de meio desordenado de degradação da política e dos políticos”. Dizia que foi um entrave ao crescimento ordenado e eficiente nas décadas de 1950 e 1960: “A campanha de luta e agitação (…) desgastou o progressismo que se vinha formando e criou barreiras intransponíveis (…) O radicalismo vindo de cima, que mais agitava do que propunha construir (…) uma pedra no caminho da reforma e do progresso nacional. Não uniu, dividiu”. Parece que a história se repete.
A facada, desta vez, foi Bolsonaro quem deu na Constituição
Bolsonaro brigou com Michelle à saída do Palácio da Alvorada. Ela não queria desfilar no carro ao seu lado a céu aberto. Mas acabou cedendo. Exigência do marketing político, preocupado com o voto evangélico. Lembre-se do que disse Heloísa Bolsonaro, casada com Eduardo, o deputado, a respeito das mulheres:
“Não existe mulher insubmissa, livre e independente”.
No alto do carro de som, alugado pelo agronegócio para que ele falasse à multidão reunida na Esplanada dos Ministérios, Bolsonaro brigou outra vez com Michelle. Para ser exato: foi ela que brigou com ele. Bolsonaro comparou-a com Janja, mulher de Lula, beijou-a para sair na foto e exaltou seu próprio vigor sexual:
“Imbrochável, imbrochável, imbrochável”.
Michelle não gostou da cena. Sentiu-se humilhada. No passado, e foi Bolsonaro que contou, ele havia dito numa entrevista que era imbrochável. Para justificar porque ocupava um apartamento funcional da Câmara, embora fosse dono de apartamento em Brasília, disse que o seu era “para comer gente”. Michelle detestou.
Bolsonaro também brigou com a deputada Bia Kicis (PL), que queria falar depois de Michelle. O marketing político da campanha desaconselhou. Foi Kicis quem aproximou Bolsonaro de Paulo Guedes, em 2017. E de empresários americanos conservadores que lhe ofereceram apoio. Ingratidão de Bolsonaro.
Filmaram Bolsonaro brigando com Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, convidado para acompanhá-lo no palanque oficial do desfile cívico militar. Motivo? Não se sabe. Hang é um dos oito empresários investigados por supostamente conspirar a favor de um golpe militar. Convidados, os outros sete faltaram.
Não foram os únicos a faltar. Os presidentes dos demais Poderes da República não perdem um desfile de 7 de setembro. Porque o deste ano estava mais para comício do que para desfile, não puseram os pés por lá. Que Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, não fosse, Bolsonaro entenderia, mas, …
Mas Arthur Lyra (PP-AL), presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, fugirem da raia a pretexto de que estavam com a agenda cheia? Logo eles, beneficiados com fatias gigantes do Orçamento Secreto? Mal agradecidos. Bolsonaro não é de perdoar ninguém que o contrarie.
Porta-vozes informais de Bolsonaro plantaram na mídia que ele ficou eufórico com o showmício militar na praia de Copacabana. Em parte, ficou, dado o tamanho da multidão. Mas também ficou furioso. Quase não foi ouvido, de vez que o som estava péssimo, e o sinal da internet oscilava, o que dificultou a transmissão ao vivo.
Dali, Bolsonaro foi ao Maracanã assistir ao jogo Flamengo (2) x Velez (1). Na chegada ao camarote foi tudo bem: aplausos e gritos de Mito. Mas, aos poucos, espalhou-se pelo estádio a notícia de que ele estava lá, ao alcance de gritos. E a arquibancada em massa, acostumada a vaiar até minuto de silêncio, entoou:
“Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu”.
Foi um final de dia à altura de um presidente da República parasita; que parasitou o desfile cívico-militar do Bicentenário da Independência transformando-o em um ato de campanha bancado com dinheiro público; um presidente que nos estertores do seu mandato apunhala a Constituição que jurou respeitar.
Acionada, como reagirá a Justiça Eleitoral? Se o princípio de que a lei é para todos fosse mais do que um enunciado vazio, Bolsonaro seria punido exemplarmente – e quem depois dele se arriscaria a desafiar a Justiça? Mas esse é o país onde há lei que pega e lei que não pega; e a lei que pega vale para uns e não para outros.
Se Bolsonaro não se reeleger, será muito fácil explicar porque. Mas caso se reeleja, já foi mais difícil explicar.
“Não existe mulher insubmissa, livre e independente”.
No alto do carro de som, alugado pelo agronegócio para que ele falasse à multidão reunida na Esplanada dos Ministérios, Bolsonaro brigou outra vez com Michelle. Para ser exato: foi ela que brigou com ele. Bolsonaro comparou-a com Janja, mulher de Lula, beijou-a para sair na foto e exaltou seu próprio vigor sexual:
“Imbrochável, imbrochável, imbrochável”.
Michelle não gostou da cena. Sentiu-se humilhada. No passado, e foi Bolsonaro que contou, ele havia dito numa entrevista que era imbrochável. Para justificar porque ocupava um apartamento funcional da Câmara, embora fosse dono de apartamento em Brasília, disse que o seu era “para comer gente”. Michelle detestou.
Bolsonaro também brigou com a deputada Bia Kicis (PL), que queria falar depois de Michelle. O marketing político da campanha desaconselhou. Foi Kicis quem aproximou Bolsonaro de Paulo Guedes, em 2017. E de empresários americanos conservadores que lhe ofereceram apoio. Ingratidão de Bolsonaro.
Filmaram Bolsonaro brigando com Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, convidado para acompanhá-lo no palanque oficial do desfile cívico militar. Motivo? Não se sabe. Hang é um dos oito empresários investigados por supostamente conspirar a favor de um golpe militar. Convidados, os outros sete faltaram.
Não foram os únicos a faltar. Os presidentes dos demais Poderes da República não perdem um desfile de 7 de setembro. Porque o deste ano estava mais para comício do que para desfile, não puseram os pés por lá. Que Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, não fosse, Bolsonaro entenderia, mas, …
Mas Arthur Lyra (PP-AL), presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, fugirem da raia a pretexto de que estavam com a agenda cheia? Logo eles, beneficiados com fatias gigantes do Orçamento Secreto? Mal agradecidos. Bolsonaro não é de perdoar ninguém que o contrarie.
Porta-vozes informais de Bolsonaro plantaram na mídia que ele ficou eufórico com o showmício militar na praia de Copacabana. Em parte, ficou, dado o tamanho da multidão. Mas também ficou furioso. Quase não foi ouvido, de vez que o som estava péssimo, e o sinal da internet oscilava, o que dificultou a transmissão ao vivo.
Dali, Bolsonaro foi ao Maracanã assistir ao jogo Flamengo (2) x Velez (1). Na chegada ao camarote foi tudo bem: aplausos e gritos de Mito. Mas, aos poucos, espalhou-se pelo estádio a notícia de que ele estava lá, ao alcance de gritos. E a arquibancada em massa, acostumada a vaiar até minuto de silêncio, entoou:
“Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu”.
Foi um final de dia à altura de um presidente da República parasita; que parasitou o desfile cívico-militar do Bicentenário da Independência transformando-o em um ato de campanha bancado com dinheiro público; um presidente que nos estertores do seu mandato apunhala a Constituição que jurou respeitar.
Acionada, como reagirá a Justiça Eleitoral? Se o princípio de que a lei é para todos fosse mais do que um enunciado vazio, Bolsonaro seria punido exemplarmente – e quem depois dele se arriscaria a desafiar a Justiça? Mas esse é o país onde há lei que pega e lei que não pega; e a lei que pega vale para uns e não para outros.
Se Bolsonaro não se reeleger, será muito fácil explicar porque. Mas caso se reeleja, já foi mais difícil explicar.
Duzentos anos
“Até com a desgraça a gente se acostuma“
Sabedoria popular portuguesa
Duzentos anos depois da independência, o Brasil é uma nação triste. A imagem externa benigna do país, construída no pós-guerra e associada à alegria do samba e à apoteose do carnaval, à ginga e imaginação do futebol, à beleza das praias e florestas, à exuberância da Amazônia, mergulhou em declínio.
O Brasil é percebido hoje, internacionalmente, como um país perigoso, em toda a linha. A estagnação do capitalismo periférico nos levou a perder uma década e deixou o Brasil à deriva. A eleição de Bolsonaro em 2018, um neofascista obtuso, agravou esta imagem decadente. No próximo 7 de setembro, mais uma vez, a extrema direita irá às ruas para intimidar os Tribunais Superiores, aterrorizar a esquerda e denunciar, por antecipação, a lisura do processo eleitoral.
Independência incompleta em 1822, abolição tardia e sem reforma agrária em 1888, República sem democracia em 1889, Revolução de 1930 que degenera em Estado Novo, democracia com ilegalização da esquerda depois de 1945, ditadura militar por duas décadas e, finalmente, quase 30 anos de regime democrático-liberal que culminam em um golpe institucional em 2016 para impedir a reeleição de Lula em 2018. Não é uma história animadora.
Mas não é somente o passado que pesa. O futuro parece tão sombrio que cinco milhões de jovens, entre os mais intrépidos e dinâmicos, saíram desesperados do país para tentar a sorte de uma vida melhor nas últimas três décadas. Eles correspondem quase a 5% da população economicamente ativa.
O flagelo de uma desigualdade social entre as maiores do mundo, fora da África subsaariana, confirma que a nação permanece ainda, dramaticamente, atrasada, mesmo em comparação com as vizinhas do Cone Sul. A pobreza extrema diminuiu em comparação com décadas passadas, mas a iniquidade social permanece em níveis escandalosos. O atraso e a desigualdade social se mantêm em patamares absurdos. A Argentina está em 40º lugar entre 188 nações, com um IDH de 0,836. O Brasil está na posição 75º com 0,755.
Diferente de outros países, no Brasil, a classe dominante tem tido, historicamente, uma dificuldade persistente em ganhar a maioria do povo e até a classe média para uma visão otimista de futuro. Mesmo em tempos de efeméride de 200 anos de independência encontram obstáculos, quase intransponíveis, para mimetizar os seus planos de emergência em projeto nacional duradouro.
Uma tensão social crônica está na raiz desse fracasso. Afinal, boas razões nunca faltaram para que o Brasil seja conflitivo. O suplício de uma vida miserável, a aflição de uma insegurança permanente, o desgosto de uma eterna humilhação, a angústia de uma ausência de perspectivas foram a experiência de gerações.
Uma luta de classes molecular sempre transpirou por todos os poros, e se traduziu numa instabilidade política duradoura: depois de quase quatro séculos de escravidão e de Estado com formas monárquicas, 41 de regime autocrático-oligárquico, 36 de ditadura semi-fascista, menos de 40 anos de democracia-liberal, e ainda assim sem liberdades civis plenas para a maioria negra, não é fácil fantasiar sobre um sentido para nossa história.
Mas tudo isso não inibiu as tentativas de “invenção de uma tradição”: às vezes, ambiciosamente, “civilizatória”; sempre, pomposamente, “original” (identidade cordial, cultura morena). Esforços persistentes de romantização da história do Brasil, de uma parte inspirados na lusofilia, de outra na lusofobia, mas sem raízes profundas, sequer na classe dominante.
O Brasil é atrasado econômica, social, política e culturalmente. É dramaticamente atrasado em termos educacionais, quando comparado a nações em estágio semelhante de desenvolvimento econômico. Aqueles plenamente alfabetizados na língua e na matemática são somente 8%, e os analfabetos funcionais correspondem a 27% da população com 15 anos ou mais, ou seja, quase um em cada três.
Mas o Brasil é, ao mesmo tempo, o maior parque industrial do hemisfério sul do planeta e uma das doze maiores economias do mundo, com vinte regiões metropolitanas com um milhão ou mais de habitantes e 85% da população economicamente ativa em centros urbanos. Um laboratório histórico do desenvolvimento desigual e combinado. Uma união do obsoleto e do moderno, um amálgama de formas arcaicas e contemporâneas. Insere-se no mundo como um híbrido de semicolônia privilegiada e submetrópole regional.
O Brasil foi e permanece, sobretudo, uma sociedade muito injusta. A chave de uma interpretação marxista do Brasil é a resposta ao tema da principal peculiaridade nacional: a desigualdade social extrema. Todas as nações capitalistas, no centro ou na periferia do sistema, são desiguais, e a desigualdade está aumentando desde a década de 1980.
Mas o capitalismo brasileiro tem um tipo de desigualdade anacrônica. Por que os graus de desigualdade social foram sempre tão, desproporcionalmente, elevados, quando comparados com as nações vizinhas, como Argentina, ou Uruguai? Hipóteses reacionárias variadas foram elaboradas, ao longo de décadas. As mais influentes eram fundamentadas em premissas racistas, inspiradas pela eugenia, em um debate que não é somente histórico, porque nos informa sobre um traço especialmente aberrante de um tipo de mentalidade de frações da classe dominante que, mesmo minoritário, ainda subsiste.
Obras lusofóbicas e racistas como Evolução do povo brasileiro, de 1923, de Oliveira Vianna, que defendia a necessidade do “embranquecimento” do povo, pretenderam explicar a desigualdade pelo atraso, e o atraso pela miscigenação de raças. Outras, como Casa grande & senzala de Gilberto Freyre, adepto da lusofilia, apresentam a miscigenação como uma chave de distinção progressiva do Brasil de países, como os Estados Unidos, em que se impôs a apartação racial, o apartheid. Ela fundamentou a ideologia da “democracia” racial.
A burguesia brasileira buscava intérpretes de sua história que pudessem legitimar uma demanda ideológica para o seu nacionalismo. A ideia de uma “nação de sangue” como fundamento da interpretação do caráter de um povo revelaria um destino histórico para a sociedade. A investigação do que seria o caráter do povo brasileiro passou então a ser o centro de um projeto ideológico.
A visão do Brasil como um país de povo dócil e intensamente emocional correspondia às necessidades da classe dominante. Na obra de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, o tema do “brasileiro cordial” respondia a esta demanda. Mas Sérgio Buarque estava preocupado, essencialmente, em compreender a aversão da classe dominante ao critério meritocrático liberal.
A mobilidade social era muito baixa. O Brasil agrário era uma sociedade muito desigual e rígida, quase estamental. Era estamental porque os critérios de classe e raça se cruzavam, forjando um sistema híbrido de classe e castas que congelava a mobilidade. A ascensão social era somente individual e estreita. Dependia, essencialmente, de relações de influência, portanto, de clientela e dependência através de vínculos pessoais: o pistolão. O critério de seleção era de tipo pré-capitalista: o parentesco e a confiança pessoal.
Se a chave de interpretação do Brasil deve ser a desigualdade social, a chave da compreensão da desigualdade é a escravidão. O capitalismo brasileiro perpetuou a escravidão até quase o fim do XIX. Uma escravidão tão longa, e em escala tão grande deixou uma herança social histórica. A população indígena, estimada em três milhões, dois milhões ao longo da costa, e um milhão nos interiores, foi dizimada quando da invasão.
O Brasil conheceu a escravidão indígena até as reformas pombalinas, na segunda metade do século XVIII. A escravidão negra surgiu com as primeiras fazendas de monocultura de açúcar, a partir de 1530, e persistiu durante, aproximadamente, três séculos e meio. Estima-se que a população escravizada não deve ter sido menor que um terço do total até 1850, e pode ter sido próxima à metade, ou pelo menos 40% no século XVIII, no auge da exploração do ouro das Minas Gerais.
Duzentos anos depois da independência ainda somos uma nação triste em busca de um destino.
Uma tensão social crônica está na raiz desse fracasso. Afinal, boas razões nunca faltaram para que o Brasil seja conflitivo. O suplício de uma vida miserável, a aflição de uma insegurança permanente, o desgosto de uma eterna humilhação, a angústia de uma ausência de perspectivas foram a experiência de gerações.
Uma luta de classes molecular sempre transpirou por todos os poros, e se traduziu numa instabilidade política duradoura: depois de quase quatro séculos de escravidão e de Estado com formas monárquicas, 41 de regime autocrático-oligárquico, 36 de ditadura semi-fascista, menos de 40 anos de democracia-liberal, e ainda assim sem liberdades civis plenas para a maioria negra, não é fácil fantasiar sobre um sentido para nossa história.
Mas tudo isso não inibiu as tentativas de “invenção de uma tradição”: às vezes, ambiciosamente, “civilizatória”; sempre, pomposamente, “original” (identidade cordial, cultura morena). Esforços persistentes de romantização da história do Brasil, de uma parte inspirados na lusofilia, de outra na lusofobia, mas sem raízes profundas, sequer na classe dominante.
O Brasil é atrasado econômica, social, política e culturalmente. É dramaticamente atrasado em termos educacionais, quando comparado a nações em estágio semelhante de desenvolvimento econômico. Aqueles plenamente alfabetizados na língua e na matemática são somente 8%, e os analfabetos funcionais correspondem a 27% da população com 15 anos ou mais, ou seja, quase um em cada três.
Mas o Brasil é, ao mesmo tempo, o maior parque industrial do hemisfério sul do planeta e uma das doze maiores economias do mundo, com vinte regiões metropolitanas com um milhão ou mais de habitantes e 85% da população economicamente ativa em centros urbanos. Um laboratório histórico do desenvolvimento desigual e combinado. Uma união do obsoleto e do moderno, um amálgama de formas arcaicas e contemporâneas. Insere-se no mundo como um híbrido de semicolônia privilegiada e submetrópole regional.
O Brasil foi e permanece, sobretudo, uma sociedade muito injusta. A chave de uma interpretação marxista do Brasil é a resposta ao tema da principal peculiaridade nacional: a desigualdade social extrema. Todas as nações capitalistas, no centro ou na periferia do sistema, são desiguais, e a desigualdade está aumentando desde a década de 1980.
Mas o capitalismo brasileiro tem um tipo de desigualdade anacrônica. Por que os graus de desigualdade social foram sempre tão, desproporcionalmente, elevados, quando comparados com as nações vizinhas, como Argentina, ou Uruguai? Hipóteses reacionárias variadas foram elaboradas, ao longo de décadas. As mais influentes eram fundamentadas em premissas racistas, inspiradas pela eugenia, em um debate que não é somente histórico, porque nos informa sobre um traço especialmente aberrante de um tipo de mentalidade de frações da classe dominante que, mesmo minoritário, ainda subsiste.
Obras lusofóbicas e racistas como Evolução do povo brasileiro, de 1923, de Oliveira Vianna, que defendia a necessidade do “embranquecimento” do povo, pretenderam explicar a desigualdade pelo atraso, e o atraso pela miscigenação de raças. Outras, como Casa grande & senzala de Gilberto Freyre, adepto da lusofilia, apresentam a miscigenação como uma chave de distinção progressiva do Brasil de países, como os Estados Unidos, em que se impôs a apartação racial, o apartheid. Ela fundamentou a ideologia da “democracia” racial.
A burguesia brasileira buscava intérpretes de sua história que pudessem legitimar uma demanda ideológica para o seu nacionalismo. A ideia de uma “nação de sangue” como fundamento da interpretação do caráter de um povo revelaria um destino histórico para a sociedade. A investigação do que seria o caráter do povo brasileiro passou então a ser o centro de um projeto ideológico.
A visão do Brasil como um país de povo dócil e intensamente emocional correspondia às necessidades da classe dominante. Na obra de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, o tema do “brasileiro cordial” respondia a esta demanda. Mas Sérgio Buarque estava preocupado, essencialmente, em compreender a aversão da classe dominante ao critério meritocrático liberal.
A mobilidade social era muito baixa. O Brasil agrário era uma sociedade muito desigual e rígida, quase estamental. Era estamental porque os critérios de classe e raça se cruzavam, forjando um sistema híbrido de classe e castas que congelava a mobilidade. A ascensão social era somente individual e estreita. Dependia, essencialmente, de relações de influência, portanto, de clientela e dependência através de vínculos pessoais: o pistolão. O critério de seleção era de tipo pré-capitalista: o parentesco e a confiança pessoal.
Se a chave de interpretação do Brasil deve ser a desigualdade social, a chave da compreensão da desigualdade é a escravidão. O capitalismo brasileiro perpetuou a escravidão até quase o fim do XIX. Uma escravidão tão longa, e em escala tão grande deixou uma herança social histórica. A população indígena, estimada em três milhões, dois milhões ao longo da costa, e um milhão nos interiores, foi dizimada quando da invasão.
O Brasil conheceu a escravidão indígena até as reformas pombalinas, na segunda metade do século XVIII. A escravidão negra surgiu com as primeiras fazendas de monocultura de açúcar, a partir de 1530, e persistiu durante, aproximadamente, três séculos e meio. Estima-se que a população escravizada não deve ter sido menor que um terço do total até 1850, e pode ter sido próxima à metade, ou pelo menos 40% no século XVIII, no auge da exploração do ouro das Minas Gerais.
Duzentos anos depois da independência ainda somos uma nação triste em busca de um destino.
Eleições e o avanço do fundamentalismo evangélico no Brasil
Era uma manhã de domingo, no final de julho, quando Michelle Bolsonaro gritou no Maracanãzinho: "Nós declaramos que o Brasil é do Senhor [...] Ele [Bolsonaro] é um escolhido de Deus". E a multidão no ginásio entoou "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos". Era o lançamento da candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição pelo PL, mas o evento se assemelhou – em muito – a um culto evangélico.
Marco Feliciano, pastor e deputado federal, fez uma aparição. Ele rezou com a multidão e afirmou que Bolsonaro era "um presente de Deus". Em seguida, o "presente de Deus" pegou o microfone e disse que só se tornara presidente com a ajuda do Todo-Poderoso. Em seu discurso, ele frisou que "o Brasil é um país cristão". Era um ataque contra a Constituição brasileira, que afirma inequivocamente que o Estado é laico.
Marco Feliciano, pastor e deputado federal, fez uma aparição. Ele rezou com a multidão e afirmou que Bolsonaro era "um presente de Deus". Em seguida, o "presente de Deus" pegou o microfone e disse que só se tornara presidente com a ajuda do Todo-Poderoso. Em seu discurso, ele frisou que "o Brasil é um país cristão". Era um ataque contra a Constituição brasileira, que afirma inequivocamente que o Estado é laico.
Bolsonaro corteja de forma agressiva os mais de 65 milhões de evangélicos do país, que representam cerca de um terço dos eleitores. Entre o eleitorado evangélico, o presidente lidera com 48%, contra 32% do adversário Lula, segundo o Datafolha. O interessante é que, entre os católicos, ocorre o contrário.
A campanha eleitoral mostra de forma impressionante o avanço do fundamentalismo evangélico no Brasil. Ele não é mais um fenômeno marginal, mas está moldando o país. À primeira vista, os líderes evangélicos estão preocupados com questões sociais – aborto, educação sexual, casamento gay. Mas esses temas servem para manter a base evangélica emocionalmente engajada.
Por trás disso, porém, bispos e pastores defendem outros interesses: um capitalismo empresarial no qual trabalhadores e pobres não devem se rebelar, mas cumprir zelosamente seus deveres. Em vez de proteger a criação e os povos indígenas, a bancada evangélica votou no Congresso a favor da abertura da Amazônia para o agronegócio. E também tentam colocar sua própria gente em posições-chave no Judiciário. Sob Bolsonaro, isso foi alcançado com a nomeação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF).
O fato de um homem como Jair Bolsonaro ser o maior representante dos evangélicos no Brasil mostra quão pouco líderes evangélicos se preocupam com a moral e os valores. A estratégia tem nome: "Teologia do Domínio" ou "reconstrucionismo".
A teoria por trás disso é que os cristãos perderam seu domínio sobre as Sete Montanhas, que agora devem recuperar para preparar para o retorno de Cristo. As Sete Montanhas são: família, religião, educação, imprensa, lazer, economia e governo. Quer dizer, trata-se de uma hegemonia total. E isso nunca esteve tão óbvio quanto nestas eleições.
Isso explica a entrada da terceira esposa de Bolsonaro na campanha eleitoral. As afirmações sobre Deus e o demônio de Michelle Bolsonaro – que é simpática na aparência, mas arqui-reacionária no conteúdo – acabaram até mesmo levando Lula a usar a retórica evangélica: "Se tem alguém que é possuído pelo demônio, é esse Bolsonaro".
Mas deverá ser difícil para Lula ampliar seus votos no campo evangélico. Em seus cultos, muitos pastores fazem campanha por Bolsonaro e dizem que a eleição é a escolha entre o bem e o mal, entre a luz e a sombra.
Essa demonização do oponente político leve à violência. Durante o culto em uma igreja evangélica em Goiás, o pastor pediu à congregação que não votasse em "vermelhinhos". Um fiel e seu irmão discordaram, e uma discussão começou. No final, um policial militar, que também faz parte da comunidade, atirou na perna do homem.
No final do seu discurso no Maracanãzinho, Michelle Bolsonaro levantou o dedo indicador para o céu, como um pregador islâmico, e jurou, com voz trêmula, que o destino do Brasil está nas mãos de Deus.
É evidente que os evangélicos não aceitam a separação entre Estado e religião. Como todos os fundamentalistas, consideram que sua fé é a única certa, o que os transforma em intolerantes. E, como todos os fundamentalistas, são céticos em relação à democracia, que para eles parece ser apenas o meio de acabar com ela mesma.
A campanha eleitoral mostra de forma impressionante o avanço do fundamentalismo evangélico no Brasil. Ele não é mais um fenômeno marginal, mas está moldando o país. À primeira vista, os líderes evangélicos estão preocupados com questões sociais – aborto, educação sexual, casamento gay. Mas esses temas servem para manter a base evangélica emocionalmente engajada.
Por trás disso, porém, bispos e pastores defendem outros interesses: um capitalismo empresarial no qual trabalhadores e pobres não devem se rebelar, mas cumprir zelosamente seus deveres. Em vez de proteger a criação e os povos indígenas, a bancada evangélica votou no Congresso a favor da abertura da Amazônia para o agronegócio. E também tentam colocar sua própria gente em posições-chave no Judiciário. Sob Bolsonaro, isso foi alcançado com a nomeação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF).
O fato de um homem como Jair Bolsonaro ser o maior representante dos evangélicos no Brasil mostra quão pouco líderes evangélicos se preocupam com a moral e os valores. A estratégia tem nome: "Teologia do Domínio" ou "reconstrucionismo".
A teoria por trás disso é que os cristãos perderam seu domínio sobre as Sete Montanhas, que agora devem recuperar para preparar para o retorno de Cristo. As Sete Montanhas são: família, religião, educação, imprensa, lazer, economia e governo. Quer dizer, trata-se de uma hegemonia total. E isso nunca esteve tão óbvio quanto nestas eleições.
Isso explica a entrada da terceira esposa de Bolsonaro na campanha eleitoral. As afirmações sobre Deus e o demônio de Michelle Bolsonaro – que é simpática na aparência, mas arqui-reacionária no conteúdo – acabaram até mesmo levando Lula a usar a retórica evangélica: "Se tem alguém que é possuído pelo demônio, é esse Bolsonaro".
Mas deverá ser difícil para Lula ampliar seus votos no campo evangélico. Em seus cultos, muitos pastores fazem campanha por Bolsonaro e dizem que a eleição é a escolha entre o bem e o mal, entre a luz e a sombra.
Essa demonização do oponente político leve à violência. Durante o culto em uma igreja evangélica em Goiás, o pastor pediu à congregação que não votasse em "vermelhinhos". Um fiel e seu irmão discordaram, e uma discussão começou. No final, um policial militar, que também faz parte da comunidade, atirou na perna do homem.
No final do seu discurso no Maracanãzinho, Michelle Bolsonaro levantou o dedo indicador para o céu, como um pregador islâmico, e jurou, com voz trêmula, que o destino do Brasil está nas mãos de Deus.
É evidente que os evangélicos não aceitam a separação entre Estado e religião. Como todos os fundamentalistas, consideram que sua fé é a única certa, o que os transforma em intolerantes. E, como todos os fundamentalistas, são céticos em relação à democracia, que para eles parece ser apenas o meio de acabar com ela mesma.
Assinar:
Comentários (Atom)