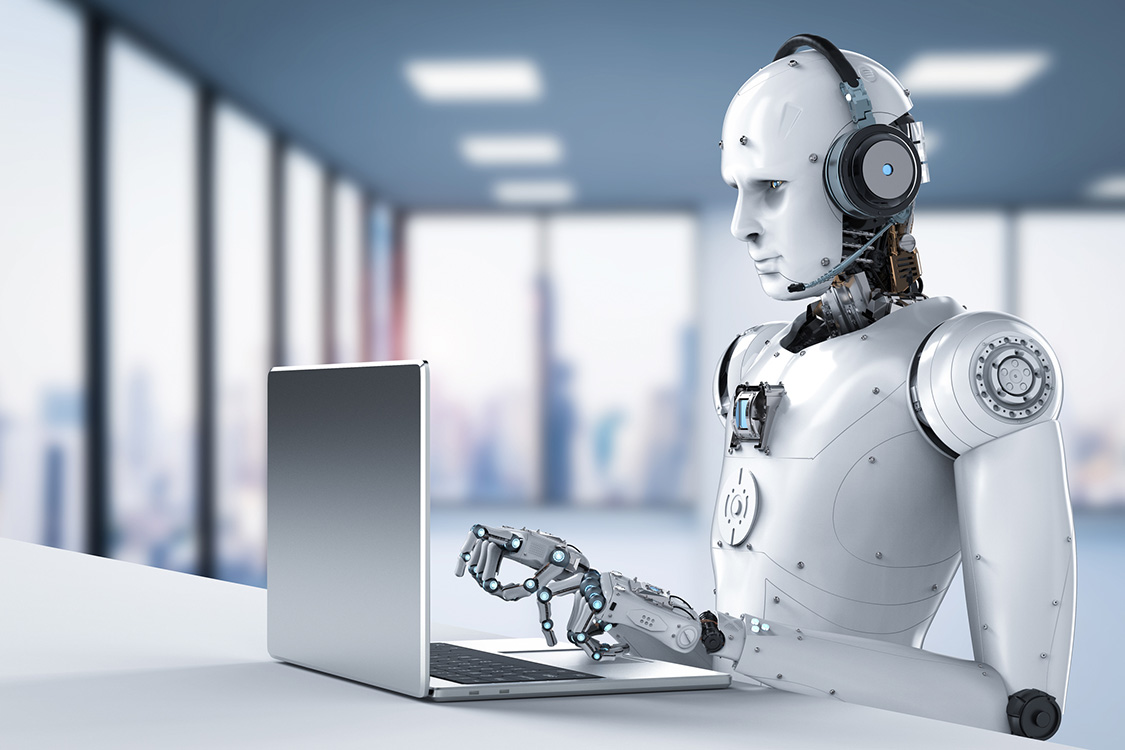O jornalismo também não é um produto ou uma plataforma.
Qualquer pessoa pode escrever textos, publicar fotografias e vídeos, e lançar sites, newsletters, podcasts ou aplicações. Mas, para que isso seja jornalismo, é preciso que sejam seguidas práticas específicas e que os objectivos sejam, genericamente, os de informar o público, escrutinar os poderes, ajudar a compreender o mundo. Não vale a pena alongarmo-nos no assunto – para os interessados, a minha colega Bárbara Reis, numa newsletter aqui ao lado, escreve sobre o tema.
O que interessa para esta newsletter é a forma como a tecnologia de inteligência artificial generativa (os famosos chatbots) pode vir a afectar o jornalismo; e, por consequência, afectar o espaço público, o que implica as escolhas que fazemos, do consumo ao voto.
Na semana passada, a Google fez um tour pelos jornais americanos para apresentar ferramentas de inteligência artificial que acredita serem úteis nas redacções. A empresa tem estado a promover o Bard, a sua plataforma de inteligência artificial conversacional, concorrente do ChatGPT. Por seu lado, os media (escaldados com o impacto que as tecnologias de informação tiveram no último quarto de século, em particular no que diz respeito ao negócio) estão em estado de alerta, entre o medo de perderem a próxima grande inovação e o receio de se voltarem a queimar.
Não é claro em que consistem as ferramentas apresentadas pela Google aos jornais. Mas, pelo que apurou um artigo do New York Times, são uma espécie de assistente digital que poderá ser usado por jornalistas; não são ferramentas para escrever e publicar artigos automaticamente. “Muito simplesmente, estas ferramentas não pretendem, e não podem substituir o papel essencial que os jornalistas têm a fazer reportagem, criar e verificar os seus artigos”, disse uma porta-voz da Google.
É uma afirmação factual e politicamente correcta. Mas há uma passagem do artigo que me despertou a atenção e me deu uma sensação de déjà-vu: “Alguns executivos que viram a apresentação da Google descreveram-na como perturbadora (…) Duas pessoas afirmaram que parecia que [a empresa] dava por garantido o esforço que é posto a produzir artigos rigorosos e bem-feitos”.
É um equívoco frequente.
Ao longo dos anos em que escrevi sobre empresas de tecnologia e startups, uma pergunta que ouvi várias vezes vinda de pessoas do sector foi: “Onde é que vocês vão buscar a informação?”
A resposta não cabia nos poucos minutos de conversa de circunstância em que estava a preparar o telemóvel para gravar a entrevista. É impossível explicar de passagem o papel das agências noticiosas, da comunicação institucional, das conversas, das fontes que se cultivam pessoalmente, das reportagens no terreno, dos documentos obtidos a custo, às vezes nos tribunais. Também é difícil explicar de passagem que, em muitos casos, obter a informação é a parte mais trabalhosa e demorada – o conceito de informação escassa não é imediato para quem vive em hiperabundância de informação e de dados.
Quem fazia a pergunta eram pessoas afastadas da bolha que sabe como as redacções funcionam; alguns eram empreendedores pós-universitários que estavam a falar com um jornalista pela primeira vez. A impressão com que fiquei daquelas curtas conversas era que os meus interlocutores achavam que a informação relatada num trabalho jornalístico estava (na maioria dos casos, pelo menos) pronta a ser obtida num documento ou base de dados.
Também por essa altura, uma mão-cheia de startups teve conversas comigo sobre uma qualquer ideia que tinham para o jornalismo. As ideias não eram boas e julgo que nenhuma das startups vingou, excepto talvez uma, que acabou por pegar no que tinha desenvolvido e virar-se para outros sectores.
Aquelas perguntas sobre a origem da informação e as ideias bem intencionadas das startups tinham um ponto em comum: a concepção do jornalismo como um produto que resulta da agregação de factos disponíveis e obtidos sem grande esforço. Este processo de transformação de factos em produto final (que para estas pessoas parecia constituir a essência do trabalho jornalístico) poderia ser melhorada, ou parcialmente automatizada, com recurso a uma qualquer tecnologia. Era uma mistura de ignorância e de tecno-solucionismo.
A inteligência artificial, em particular aquela que produz textos indistinguíveis dos produzidos por humanos, vai fazer o seu caminho nas redacções. A publicação de textos escritos por máquinas nem sequer é algo novo: algumas agências noticiosas e jornais, por exemplo, fazem-no há anos para temas como os mercados financeiros e os resultados de empresas, embora de forma mais rudimentar.
É difícil antever o quanto se poderão embrenhar estas tecnologias nos media. É possível que o entusiasmo recente se esvazie. Mas o contrário não é uma hipótese a descartar, se os resultados das primeiras experiências forem promissores, em particular no que diz respeito à espinhosa questão de ajudar o jornalismo a fazer dinheiro.
Em todo o caso, quem desenvolve tecnologias de inteligência artificial e se propõe aplicá-las ao funcionamento das redacções tem a obrigação mínima de saber o que é e como funciona o jornalismo. Caso contrário, vamos andar todos a perder tempo e a desperdiçar esforços.