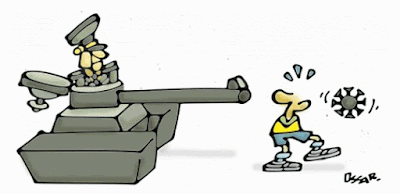quarta-feira, 9 de junho de 2021
Um sindicato armado
A ideia emergente de que o Exército se deixou subjugar aos caprichos de Jair Bolsonaro por temor à ascensão de Lula até pode parecer elegante, mas é falsa. O presidente pretende que seja entendida como alta política sua retórica de envelhecidos bichos-papões. Nem sequer adaptou ao século em que vive o repertório com que se elegeu e reelegeu deputado nos últimos 30 anos. Acena com as ameaças puídas de invasão de comunistas e maconheiros. Até como insultos, há muito superados pela sociedade. Os militares vergaram não por esta, mas por outra razão.
Bolsonaro tirou do seu caminho os líderes que tentavam preservar as Forças Armadas como instituição de Estado e as atraiu para seu domínio pessoal. Abrigo onde já estavam as polícias militares, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, as milícias, as agências de inteligência, todos os estamentos de vigilância e segurança, os produtores e vendedores de armas e munições. Uma associação que lidera como poderoso chefão de um sindicato armado, cujo logotipo é a sugestiva mão com os dedos polegar e indicador esticados em ângulo reto e três dedos dobrados.
O Exército, que se sobressai entre as Forças, perdeu substância profissional e ideológica. Suas lideranças se enfraqueceram, não mais tiveram o êxito anterior em missões civis de desafiante complexidade. Como se viu na ocupação do Ministério da Saúde, onde produziu um desastre.
O Alto Comando se deixou vulnerável ao assédio histórico de Bolsonaro às patentes subalternas e forças auxiliares. O comando se exerce por meio de instrumentos típicos da mobilização trabalhista: salários, ampliação das prerrogativas, equalização das vantagens, proteção em reformas das carreiras, ampliação dos postos de trabalho.
Na sequência, o roteiro inclui desmoralizar instituições, já tendo obtido a capitulação das que poderiam interromper sua marcha. Bolsonaro reduziu a Câmara dos Deputados a um balcão, onde compra as mudanças de legislação de que precisa para enquadrar a realidade à sua fantasia. Maneja sem esforço a Procuradoria-Geral da República. Fidelizou setores produtivos, como o ruralista. Com método, vai ocupando plenários decisivos. Amarra estatais e bancos públicos. Bolsonaro consome seu mandato em atitude possessiva e onipotente.
Na sequência cadenciada de demolições, ele aumenta agora o cerco ao Supremo Tribunal Federal. Recorre à velha teimosia acusatória: o STF o impede de gerir a pandemia como quer, com seu renitente negacionismo que colocou o Brasil no triste pódio dos campeões de mortes. Na verdade, o STF o incomoda por outras razões, não confessadas. Como vetar nomeações impróprias. Ou não se intimidar na instalação de inquéritos para investigar atos golpistas que tornaram réus seus filhos, auxiliares próximos e deputados do grupo.
Bolsonaro quer arquivar todas as investigações, sem julgamento. A resposta do Supremo Tribunal Federal a este desejo indicará seu grau de resistência.
O presidente insiste, ainda, em tirar dos Estados e municípios a gestão compartilhada da pandemia, para ser ele a única instância de decisões sobre abertura irrestrita do comércio. Alega o artigo 5.º, pelo direito de ir e vir, mas sonega o principal preceito do dispositivo, que o Supremo deverá invocar: o direito à vida.
Bolsonaro tirou do seu caminho os líderes que tentavam preservar as Forças Armadas como instituição de Estado e as atraiu para seu domínio pessoal. Abrigo onde já estavam as polícias militares, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, as milícias, as agências de inteligência, todos os estamentos de vigilância e segurança, os produtores e vendedores de armas e munições. Uma associação que lidera como poderoso chefão de um sindicato armado, cujo logotipo é a sugestiva mão com os dedos polegar e indicador esticados em ângulo reto e três dedos dobrados.
O Exército, que se sobressai entre as Forças, perdeu substância profissional e ideológica. Suas lideranças se enfraqueceram, não mais tiveram o êxito anterior em missões civis de desafiante complexidade. Como se viu na ocupação do Ministério da Saúde, onde produziu um desastre.
O Alto Comando se deixou vulnerável ao assédio histórico de Bolsonaro às patentes subalternas e forças auxiliares. O comando se exerce por meio de instrumentos típicos da mobilização trabalhista: salários, ampliação das prerrogativas, equalização das vantagens, proteção em reformas das carreiras, ampliação dos postos de trabalho.
Não há nada mais no horizonte, menos ainda governo. A meta a alcançar é uma ditadura. Abertamente admitida pelos filhos do presidente. Tal projeto político pessoal e subversivo tem o fim imediato de interromper a alternância de poder caso Bolsonaro perca a disputa de 2022. Já está preparando, em público, a acusação de fraude futura, ao modelo Trump, para anular as eleições. Ao mesmo tempo que, numa espécie de plano B, turbina o Bolsa Família para reconquistar a popularidade perdida e ter um desempenho que lhe sirva de pretexto.
Na sequência, o roteiro inclui desmoralizar instituições, já tendo obtido a capitulação das que poderiam interromper sua marcha. Bolsonaro reduziu a Câmara dos Deputados a um balcão, onde compra as mudanças de legislação de que precisa para enquadrar a realidade à sua fantasia. Maneja sem esforço a Procuradoria-Geral da República. Fidelizou setores produtivos, como o ruralista. Com método, vai ocupando plenários decisivos. Amarra estatais e bancos públicos. Bolsonaro consome seu mandato em atitude possessiva e onipotente.
Na sequência cadenciada de demolições, ele aumenta agora o cerco ao Supremo Tribunal Federal. Recorre à velha teimosia acusatória: o STF o impede de gerir a pandemia como quer, com seu renitente negacionismo que colocou o Brasil no triste pódio dos campeões de mortes. Na verdade, o STF o incomoda por outras razões, não confessadas. Como vetar nomeações impróprias. Ou não se intimidar na instalação de inquéritos para investigar atos golpistas que tornaram réus seus filhos, auxiliares próximos e deputados do grupo.
Bolsonaro quer arquivar todas as investigações, sem julgamento. A resposta do Supremo Tribunal Federal a este desejo indicará seu grau de resistência.
O presidente insiste, ainda, em tirar dos Estados e municípios a gestão compartilhada da pandemia, para ser ele a única instância de decisões sobre abertura irrestrita do comércio. Alega o artigo 5.º, pelo direito de ir e vir, mas sonega o principal preceito do dispositivo, que o Supremo deverá invocar: o direito à vida.
Uma notificação de Deus
Meu projeto com os dinossauros foi um grande fracasso, eu sei. Quase me acabei de depressão. Mas vou começar essa história do princípio.
Depois de sete dias de trabalho insano, quando acabamos de criar o Universo, o pessoal trabalhador contemplou a lindeza do que havia sido feito. Todos se abraçaram, comedidos mas orgulhosos do que me haviam ajudado a construir. Me retirei, deixando anjos e benzedeiras colados no Arcanjo Gabriel, que discursava um elogio à Via Láctea cheia de beleza e de mistérios. O fruto celestial preferido do pessoal mais desbundado que trabalhara conosco.
Por enfado de elogios e necessidade de reflexão, sentei-me sobre uma pedra, em planalto deserto de modesto satélite natural, para observar o que havia acabado de criar. De repente, bati os olhos num planetinha azul, equilibrado numa ponta da Via Láctea, coberto de nuvens brancas, como um colar de pedras voláteis. Tive então a ideia maldita de criar ali os bichos que iriam realizar meu sonho de uma sociedade perfeita, formada pelos animais mais majestosos de minha criação. Eles construiriam, no subúrbio da Via Láctea, um paraíso de liberdade e fraternidade, onde ninguém nunca morreria de fome ou de tédio, as fraquezas letais do ser. Uma coisa que ainda não se chamava democracia mas que sempre existiu, desde sempre, na cabeça de todos os que iam viver com semelhantes no mundo que acabávamos de inventar.
Distribuí os dinossauros por todos os cantos do planeta, para que eles mostrassem ao resto do Universo o valor de seus valores. E já ia dando aos bichões a virtude do raciocínio e o benefício da fala, como nos desenhos animados da Disney, quando Gabriel sugeriu que esperássemos mais um pouco, para ter certeza de que eles mereciam mesmo o melhoramento. O Arcanjo tinha razão. Me dei conta de que os dinossauros viviam brigando entre eles e faziam de tudo para acabar com o que fosse diferente deles. E foram ficando cada vez mais violentos, com aquela baba de répteis idiotas a escorrer da boca.
Depois de sete dias de trabalho insano, quando acabamos de criar o Universo, o pessoal trabalhador contemplou a lindeza do que havia sido feito. Todos se abraçaram, comedidos mas orgulhosos do que me haviam ajudado a construir. Me retirei, deixando anjos e benzedeiras colados no Arcanjo Gabriel, que discursava um elogio à Via Láctea cheia de beleza e de mistérios. O fruto celestial preferido do pessoal mais desbundado que trabalhara conosco.
Por enfado de elogios e necessidade de reflexão, sentei-me sobre uma pedra, em planalto deserto de modesto satélite natural, para observar o que havia acabado de criar. De repente, bati os olhos num planetinha azul, equilibrado numa ponta da Via Láctea, coberto de nuvens brancas, como um colar de pedras voláteis. Tive então a ideia maldita de criar ali os bichos que iriam realizar meu sonho de uma sociedade perfeita, formada pelos animais mais majestosos de minha criação. Eles construiriam, no subúrbio da Via Láctea, um paraíso de liberdade e fraternidade, onde ninguém nunca morreria de fome ou de tédio, as fraquezas letais do ser. Uma coisa que ainda não se chamava democracia mas que sempre existiu, desde sempre, na cabeça de todos os que iam viver com semelhantes no mundo que acabávamos de inventar.
Distribuí os dinossauros por todos os cantos do planeta, para que eles mostrassem ao resto do Universo o valor de seus valores. E já ia dando aos bichões a virtude do raciocínio e o benefício da fala, como nos desenhos animados da Disney, quando Gabriel sugeriu que esperássemos mais um pouco, para ter certeza de que eles mereciam mesmo o melhoramento. O Arcanjo tinha razão. Me dei conta de que os dinossauros viviam brigando entre eles e faziam de tudo para acabar com o que fosse diferente deles. E foram ficando cada vez mais violentos, com aquela baba de répteis idiotas a escorrer da boca.
Como já eram muitos e não tínhamos mais como feri-los um a um, resolvi mandar uma pedra de fogo que, caindo sobre o planeta, acabou de vez com o erro que eu havia cometido, o mal que tinha inventado. Nada sobreviveu ao fogo celeste. Nem os dinossauros, de cujo esperma muitos dizem que os seres humanos são feitos.
Passei séculos, milênios, um montão de tempo deprimido, a contemplar o planeta azul, criado com tanto gosto e empenho, sem saber o que fazer com ele. Só saí da depressão graças, mais uma vez, a Gabriel. O Arcanjo me sugeriu inventar outro animal, dessa vez à minha imagem e semelhança. Desse jeito, ficava tudo sob controle, pelo resto da eternidade. Criei então o homem e a mulher, com muita alegria e a esperança de que agora tudo desse certo.
Fui paciente na hora errada e me precipito nesse novo tempo. Assisti a duas guerras mundiais, deixei rolar o horror do Vietnã, não impedi a invasão do Iraque e do Afeganistão. Tanta gente ruim por aí, tentando acabar com países e povos, como Donald Trump, Recep Erdogan, Viktor Orban ou Jair Bolsonaro, uma nova cepa fascista, gente que já sei do que é capaz desde o fascio do século XX. Além de novas doenças fatais e vírus mortais (o último, mandei para uma temporada na China, mas ele se deu bem mesmo foi flanando entre vocês).
Fui paciente na hora errada e me precipito nesse novo tempo. Assisti a duas guerras mundiais, deixei rolar o horror do Vietnã, não impedi a invasão do Iraque e do Afeganistão. Tanta gente ruim por aí, tentando acabar com países e povos, como Donald Trump, Recep Erdogan, Viktor Orban ou Jair Bolsonaro, uma nova cepa fascista, gente que já sei do que é capaz desde o fascio do século XX. Além de novas doenças fatais e vírus mortais (o último, mandei para uma temporada na China, mas ele se deu bem mesmo foi flanando entre vocês).
A experiência com os humanos ainda não acabou e, se bobear, pode até dar certo. Essa terra de vocês, por exemplo, foi regada, debaixo de muita porrada, com o sangue dos outros. E, para vocês, todos são os outros, os que vieram para ocupá-la — marginais europeus, índios massacrados, negros trazidos da outra margem do Mar Tenebroso, para que se roubasse deles um novo jeito de viver, a provar que só cultivando as diferenças a Humanidade pode ser uma só. Se todo mundo cantar o mesmo samba, esse é o mundo que pode dar certo.
Cacá Diegues
Cacá Diegues
Caracas fica a 3.600 km
A Venezuela continua longe, mas ficou mais perto. Os desastres históricos acontecem aos poucos. Alguns grão-duques russos achavam que podiam viver com os bolcheviques. Afinal, aquela maluquice não haveria de durar. A plutocracia venezuelana levou algum tempo para perceber que o coronel Hugo Chávez e sua turma seriam capazes de tudo para ficar no poder.
As instituições democráticas brasileiras vêm sendo obrigadas a conviver com um novo leão a cada dia. O general Eduardo Pazuello disse que não participou de manifestação política porque Jair Bolsonaro não tem filiação partidária, e o comandante do Exército acreditou. Em seguida, o procurador-geral da República pediu o arquivamento do inquérito que investigava ações dos cidadãos protegidos por foro privilegiado que incitaram atos contra o regime. Demorou cinco meses, pediu novas diligências para outros envolvidos, sem ter pedido providência alguma enquanto ficou com o caso. Ao fazer isso, o doutor Augusto Aras bateu de frente com o ministro Alexandre de Moraes, um ex-secretário de Segurança cuja casa já foi esculachada pela milícia. Má ideia. O ministro respondeu pedindo ao procurador que explique melhor sua posição. Como se coisas desse tipo fossem pouco, o ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella foi indicado para a Embaixada do Brasil na África do Sul.
Caracas continua longe, a 3.600 quilômetros de Brasília. A sociedade brasileira tem uma complexidade e um dinamismo que faltavam à Venezuela. O andar de cima de Pindorama produz, enquanto o venezuelano vivia nas tetas das rendas do petróleo. Ademais, o caminho para Caracas exigirá uma sucessão de crises até a eleição do ano que vem. Bolsonaro tem sido pródigo na criação de encrencas e na distribuição de provocações, uma por semana. Mesmo assim, precisa de um objetivo. Afora a obsessão pela permanência, nada oferece. As reformas liberais de Paulo Guedes estão no estaleiro, sabendo-se que a instabilidade política debilita seu projeto.
Com a conta da pandemia aproximando-se das 500 mil mortes, o Brasil firma-se como um pária bagunçado e incapaz. Se algum caminho venezuelano existe, ele não pode começar pelo desfecho, a ruína de Nicolás Maduro.
Bolsonaro pode achar que Ricardo Salles é um excelente ministro. Falta combinar com um mercado internacional cada dia mais desconfortável com a presença de agrotrogloditas e piromaníacos na Amazônia. É improvável que o doutor resista até novembro, quando ocorrerá a reunião do meio ambiente de Glasgow, e ele parece sinalizar que pretende cair atirando. Isso ficou claro quando Salles jogou o ministro Luiz Eduardo Ramos e o Planalto na frigideira de suas conversas com madeireiros. A sorte faltou-lhe quando seu inquérito tramita no gabinete de Alexandre de Moraes.
Com suas crises e sem agenda, Bolsonaro colocou o Brasil numa crise desnecessária. Afinal, nem todo mundo pode seguir o caminho do virologista Paolo Zanotto. Em abril do ano passado, ele defendia a cloroquina e a formação de um gabinete paralelo para orientar o governo durante a pandemia. O doutor acaba de pedir uma licença de dois anos para pesquisar no Canadá, “sem prejuízo de vencimento”.
As instituições democráticas brasileiras vêm sendo obrigadas a conviver com um novo leão a cada dia. O general Eduardo Pazuello disse que não participou de manifestação política porque Jair Bolsonaro não tem filiação partidária, e o comandante do Exército acreditou. Em seguida, o procurador-geral da República pediu o arquivamento do inquérito que investigava ações dos cidadãos protegidos por foro privilegiado que incitaram atos contra o regime. Demorou cinco meses, pediu novas diligências para outros envolvidos, sem ter pedido providência alguma enquanto ficou com o caso. Ao fazer isso, o doutor Augusto Aras bateu de frente com o ministro Alexandre de Moraes, um ex-secretário de Segurança cuja casa já foi esculachada pela milícia. Má ideia. O ministro respondeu pedindo ao procurador que explique melhor sua posição. Como se coisas desse tipo fossem pouco, o ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella foi indicado para a Embaixada do Brasil na África do Sul.
Caracas continua longe, a 3.600 quilômetros de Brasília. A sociedade brasileira tem uma complexidade e um dinamismo que faltavam à Venezuela. O andar de cima de Pindorama produz, enquanto o venezuelano vivia nas tetas das rendas do petróleo. Ademais, o caminho para Caracas exigirá uma sucessão de crises até a eleição do ano que vem. Bolsonaro tem sido pródigo na criação de encrencas e na distribuição de provocações, uma por semana. Mesmo assim, precisa de um objetivo. Afora a obsessão pela permanência, nada oferece. As reformas liberais de Paulo Guedes estão no estaleiro, sabendo-se que a instabilidade política debilita seu projeto.
Com a conta da pandemia aproximando-se das 500 mil mortes, o Brasil firma-se como um pária bagunçado e incapaz. Se algum caminho venezuelano existe, ele não pode começar pelo desfecho, a ruína de Nicolás Maduro.
Bolsonaro pode achar que Ricardo Salles é um excelente ministro. Falta combinar com um mercado internacional cada dia mais desconfortável com a presença de agrotrogloditas e piromaníacos na Amazônia. É improvável que o doutor resista até novembro, quando ocorrerá a reunião do meio ambiente de Glasgow, e ele parece sinalizar que pretende cair atirando. Isso ficou claro quando Salles jogou o ministro Luiz Eduardo Ramos e o Planalto na frigideira de suas conversas com madeireiros. A sorte faltou-lhe quando seu inquérito tramita no gabinete de Alexandre de Moraes.
Com suas crises e sem agenda, Bolsonaro colocou o Brasil numa crise desnecessária. Afinal, nem todo mundo pode seguir o caminho do virologista Paolo Zanotto. Em abril do ano passado, ele defendia a cloroquina e a formação de um gabinete paralelo para orientar o governo durante a pandemia. O doutor acaba de pedir uma licença de dois anos para pesquisar no Canadá, “sem prejuízo de vencimento”.
Chavismo caboclo
A escalada da crise protagonizada pelo presidente Jair Bolsonaro com os militares sugere que o País corre o sério risco de sofrer forte degradação democrática, a ponto de assemelhar-se à Venezuela chavista.
“Os militares daqui estão enfrentando o que os da Venezuela enfrentaram no início do período chavista”, comparou Raul Jungmann, que foi ministro da Defesa no governo de Michel Temer. Em entrevista ao Estado, Jungmann disse que “Bolsonaro persegue o modelo de Chávez”, isto é, quer transformar as Forças Armadas em braço do bolsonarismo. “Os militares, aqui como lá, guardadas as devidas proporções, evitam o confronto direto com o comandante para não ferir a Constituição, mas o dilema é que assim correm o risco de ver a Constituição destruída junto com a hierarquia e a disciplina”, alertou Jungmann.
Na mesma linha foi o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia. Também ao Estado, Maia descreveu como Bolsonaro está seguindo rigorosamente o manual chavista: tenta envenenar o processo eleitoral, ao questionar as urnas eletrônicas; hostiliza a imprensa livre; intervém na estatal de petróleo, submetendo-a a seus interesses políticos; busca transformar as Polícias Militares estaduais em milícias bolsonaristas; neutraliza o Congresso por meio de distribuição desavergonhada de verbas, abaixo dos radares republicanos; e ataca sistematicamente o Supremo Tribunal Federal, além de inocular os órgãos de fiscalização e controle com a toxina bolsonarista. Como disse a historiadora Lilia Schwarcz à revista The Economist, basta ler o Diário Oficial para perceber que Bolsonaro dá “um golpe por dia”.
Já advertimos várias vezes, neste espaço, sobre a marcha bolsonarista rumo a uma versão cabocla do chavismo (ver especialmente os editoriais O bê-á-bá do chavismo, de 31/1/21, e A hora da verdadeira oposição, de 4/2/21). Os sinais dessa degeneração são tão evidentes que não podem ser mais ignorados, especialmente agora, quando Bolsonaro dá um passo concreto na tentativa de transformar as Forças Armadas em sua guarda pretoriana.
A crise está contratada. Ao levantar dúvidas sobre o processo eleitoral, ao mesmo tempo que amalgama os militares a seu governo, Bolsonaro semeia confusão e tenta intimidar quem porventura não aceite viver sob seu tacão.
Há um ano, à TV Cultura, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, descreveu com precisão o cerne do problema: “As Forças Armadas não podem se identificar com o governo porque numa democracia existe alternância de poder. Se as Forças Armadas são governo e o governo é derrotado nas urnas, as Forças Armadas são derrotadas e acabou. Evidentemente isso não pode acontecer”. Na mesma ocasião, o ministro Barroso também já alertava para o que chamou de “chavização”, isto é, a multiplicação de militares em cargos no governo: “Isso é o que aconteceu na Venezuela”.
Não é prudente ignorar tantos alertas e tantos sinais. Quando Bolsonaro se refere ao Exército como “meu Exército”, não é mera figura de linguagem. Ao dobrar o número de militares no governo em relação à administração de Temer, Bolsonaro deixou claro que pretendia enredar as Forças Armadas em seus devaneios golpistas. Considerando-se que cresceu em cerca de 30% a presença de militares da ativa no governo, essa relação fica ainda mais forte – e o caso da submissão humilhante de um general, Eduardo Pazuello, aos interesses de Bolsonaro, sob a vista grossa do Comando do Exército, foi o ponto alto, até agora, dessa genuflexão militar ao presidente.
Timidamente, o Congresso começa a reagir à militarização do governo promovida pelo bolsonarismo, ao articular uma Proposta de Emenda Constitucional que proíbe a atuação de militares da ativa em cargos de natureza civil no Executivo. É uma medida necessária, pois aos militares da ativa é vedada a atividade política – que é essencialmente o que se faz num governo. Mas talvez seja tardia: a esta altura, a identificação forçada por Bolsonaro entre ele e os militares já não depende mais de quem usa o crachá do governo.
“Os militares daqui estão enfrentando o que os da Venezuela enfrentaram no início do período chavista”, comparou Raul Jungmann, que foi ministro da Defesa no governo de Michel Temer. Em entrevista ao Estado, Jungmann disse que “Bolsonaro persegue o modelo de Chávez”, isto é, quer transformar as Forças Armadas em braço do bolsonarismo. “Os militares, aqui como lá, guardadas as devidas proporções, evitam o confronto direto com o comandante para não ferir a Constituição, mas o dilema é que assim correm o risco de ver a Constituição destruída junto com a hierarquia e a disciplina”, alertou Jungmann.
Na mesma linha foi o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia. Também ao Estado, Maia descreveu como Bolsonaro está seguindo rigorosamente o manual chavista: tenta envenenar o processo eleitoral, ao questionar as urnas eletrônicas; hostiliza a imprensa livre; intervém na estatal de petróleo, submetendo-a a seus interesses políticos; busca transformar as Polícias Militares estaduais em milícias bolsonaristas; neutraliza o Congresso por meio de distribuição desavergonhada de verbas, abaixo dos radares republicanos; e ataca sistematicamente o Supremo Tribunal Federal, além de inocular os órgãos de fiscalização e controle com a toxina bolsonarista. Como disse a historiadora Lilia Schwarcz à revista The Economist, basta ler o Diário Oficial para perceber que Bolsonaro dá “um golpe por dia”.
Já advertimos várias vezes, neste espaço, sobre a marcha bolsonarista rumo a uma versão cabocla do chavismo (ver especialmente os editoriais O bê-á-bá do chavismo, de 31/1/21, e A hora da verdadeira oposição, de 4/2/21). Os sinais dessa degeneração são tão evidentes que não podem ser mais ignorados, especialmente agora, quando Bolsonaro dá um passo concreto na tentativa de transformar as Forças Armadas em sua guarda pretoriana.
A crise está contratada. Ao levantar dúvidas sobre o processo eleitoral, ao mesmo tempo que amalgama os militares a seu governo, Bolsonaro semeia confusão e tenta intimidar quem porventura não aceite viver sob seu tacão.
Há um ano, à TV Cultura, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, descreveu com precisão o cerne do problema: “As Forças Armadas não podem se identificar com o governo porque numa democracia existe alternância de poder. Se as Forças Armadas são governo e o governo é derrotado nas urnas, as Forças Armadas são derrotadas e acabou. Evidentemente isso não pode acontecer”. Na mesma ocasião, o ministro Barroso também já alertava para o que chamou de “chavização”, isto é, a multiplicação de militares em cargos no governo: “Isso é o que aconteceu na Venezuela”.
Não é prudente ignorar tantos alertas e tantos sinais. Quando Bolsonaro se refere ao Exército como “meu Exército”, não é mera figura de linguagem. Ao dobrar o número de militares no governo em relação à administração de Temer, Bolsonaro deixou claro que pretendia enredar as Forças Armadas em seus devaneios golpistas. Considerando-se que cresceu em cerca de 30% a presença de militares da ativa no governo, essa relação fica ainda mais forte – e o caso da submissão humilhante de um general, Eduardo Pazuello, aos interesses de Bolsonaro, sob a vista grossa do Comando do Exército, foi o ponto alto, até agora, dessa genuflexão militar ao presidente.
Timidamente, o Congresso começa a reagir à militarização do governo promovida pelo bolsonarismo, ao articular uma Proposta de Emenda Constitucional que proíbe a atuação de militares da ativa em cargos de natureza civil no Executivo. É uma medida necessária, pois aos militares da ativa é vedada a atividade política – que é essencialmente o que se faz num governo. Mas talvez seja tardia: a esta altura, a identificação forçada por Bolsonaro entre ele e os militares já não depende mais de quem usa o crachá do governo.
Pandemia leva famílias para as ruas de São Paulo e acelera mudança de perfil da população sem-teto
São Paulo vive uma contradição. Na cidade mais rica do Brasil, capital do Estado mais rico do país, mais de 20.000 pessoas vivem nas ruas. Uma crise que se acentuou ainda mais durante a pandemia de coronavírus e vem levando famílias inteiras para as ruas, como atesta o casal Maxwell Oliveira, de 36 anos, e Verônica Aparecida Medeiros, de 33 anos. Junto aos filhos Pablo, 10, e Brenei, 8, eles tiveram que deixar sua casa no final do ano passado. “Por causa dessa pandemia, perdi o emprego em 7 de dezembro. Trabalhava como atendente do Burguer King fazia três anos”, conta o homem. Já sua esposa trabalhava como faxineira de uma empresa e ficou desempregada na mesma época. O que ocorreu com ambos é um retrato do que mostram os números sobre o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro divulgados nesta terça-feira: ainda que tenha crescido 1,2% no primeiro trimestre deste ano, além da expectativa do mercado, a recuperação da economia brasileira ocorre de forma desigual —o setor de serviços cresceu 0,4%, ancorado na queda do consumo das famílias, enquanto que o desemprego no mesmo período aumentou e já atingiu 14,8 milhões de pessoas. Para economistas, a falta de ações efetivas contra a pandemia, como a vacinação em massa, trazem a possibilidade de um futuro ainda mais sombrio.
É meio dia de 4 de maio, uma terça-feira, e a família está numa fila com outras 500 pessoas aguardando uma doação de marmita. Todos os dias, neste mesmo horário, se dirigem à ONG Movimento Estadual da População em Situação de Rua, a poucas quadras da Prefeitura, para buscar o que comer. Quando trabalhavam, Maxwell e Verônica recebiam, juntos, cerca de 2.500 reais por mês. Não é muito para uma cidade cara como São Paulo, mas era o suficiente para pagar um aluguel de 800 reais numa casa de dois quartos no bairro do Belém, na Zona Leste da capital. “A gente tinha tudo. Mas quando perdemos o trabalho, não tivemos mais condições de pagar aluguel e fomos para a rua. Felizmente fomos acolhidos num abrigo”, afirma o homem.
A rotina da família mudou completamente desde que ficou sem teto. Durante o dia, os adultos, quase sempre acompanhados dos dois meninos, espalham currículos pelas empresas e comércios na esperança de conseguir um trabalho. “Sou acostumado a trabalhar... Sempre trabalhei, e essa situação está muito difícil para nós. Difícil mesmo”, afirma Maxwell. O café da manhã é servido no abrigo da Prefeitura, mas estão sempre em busca de doação para as demais refeições. Seus filhos estudam em escolas municipais nos bairros de Santa Cecília e Bela Vista, mas o vaivém das restrições afetou a rotina de aulas, de lazer e a vivência com outras crianças, assim como a flexibilidade de trabalho de seus pais. Eles até podem ficar no abrigo o dia todo, mas depois de determinada hora já não podem deixar o local. “Fico pensando nas crianças, que tem aquela energia a mais, e não podem estudar...”, afirma o pai. A família diz estar sempre em contato com os professores, complementa a mãe. Um telefone celular é a ferramenta que permite as crianças de acompanhar o conteúdo passando virtualmente. “Mas nem sempre temos crédito, então fica difícil”, diz ela.
Formada majoritariamente por homens desacompanhados, a população de rua de São Paulo vem passando por uma mudança de perfil que se acelerou durante a crise sanitária. Agora, famílias inteiras, incluindo mulheres que são mães solteiras, estão engrossando esse contingente. É o caso de Monica da Silva, de 33 anos. Depois de se separar, voltar para a casa de sua mãe e enfrentar conflitos familiares, decidiu deixar tudo para trás, há quase um ano, e ir para a rua em plena pandemia com suas filhos —Maria Eduarda, de 12 anos, Julia, de 8, e Alana, de 2. Passaram a morar na praça da Sé com outras dezenas de pessoas. “Ser mãe solteira é ser pai e mãe ao mesmo tempo. Você até ganha um salário mínimo, mas aí tem aluguel, tem alimentação, roupa, sapato... E também tem que pagar alguém para olhar os filhos enquanto trabalha, porque ninguém faz de graça”, explica. Sua flexibilidade é ainda menor com as aulas presenciais interrompidas, ela conta. Ainda assim, as meninas mais velhas estão matriculadas numa escola municipal da Bela Vista, mesmo com poucas condições de acompanhar as aulas virtuais.
Na época de seu último casamento, Monica e o marido chegavam a ganhar cerca de 3.000 reais por mês. Ela fazia serviços de limpeza e chegou a trabalhar com carteira assinada. Vivia numa casa com três cômodos no Belém. Agora, separada e brigada com o resto da família, vê os trabalhos ficarem cada vez mais escassos por conta da pandemia. Precisa catar e vender garrafas de plástico e latas para um centro de reciclagem, e com isso consegue ganhar até 400 reais mensais —mas seus ex-maridos não pagam pensão há muito tempo, desde antes da pandemia.
“Em tempos normais tem mais forma de ganhar dinheiro. Você faz uma faxina aqui, vende uma bala ali. Mas agora diminuíram as formas de ganhar dinheiro”, explica, enquanto amamenta a filha menor. “Tenho vontade de montar um ferro velho, mas minhas limitações financeiras não permitem. Também não terminei os estudos, então isso diminui as possibilidades”.
Os dados são escassos e ainda não foi feita uma contagem recente do tamanho da população de rua na cidade de São Paulo. O último censo é de 2019, quando foram contabilizadas 24.344 pessoas vivendo nessa condição. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social confirmou ao EL PAÍS que antecipará a próxima contagem, que deveria ser realizada somente em 2023, para o segundo semestre deste ano. A pandemia causou essa mudança de planos.
O aumento desse contingente populacional é visível aos olhos de quem anda pela cidade. “É muito grande a chance de registrarem mais de 30.000 pessoas. A pandemia acentuou, mas mesmo sem ela essa população já vinha aumentando”, explica Juliana Reimberg, mestranda de ciências políticas na Universidade de São Paulo (USP), pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole (CEM-USP) e especialista em políticas públicas voltadas para a população nas ruas. O único levantamento nacional, feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), estima que em setembro 2012 havia mais de 92.000 pessoas vivendo nas ruas de todo o país. Em março de 2020, quando a pandemia ainda estava começando, já eram mais de 221.000 nessa situação.
Quase metade das pessoas sem-teto em São Paulo é acolhida em abrigos da Prefeitura, como é o caso da família de Maxwell e Verônica. Em outros casos, como o de Vanessa Ferreira e suas três filhas, a solução é morar dentro de uma barraca de camping embaixo de um viaduto —na avenida Cruzeiro do Sul, próximo ao metrô de Santana, na Zona Norte. Elas deixaram de viver sob um teto ainda em 2019, quando a favela onde moravam, de Zaki Narchi, no bairro do Carandiru, pegou fogo. Desde então estão as ruas. “Eu ainda não consegui dinheiro para comprar material e montar meu barraco”, explica Vanessa, que faz bicos de vendedora. Mas a crise econômica da pandemia também dificultou ainda mais sua vida e atrasou sua volta à favela. “Se tinha um evento de futebol, eu pegava minha água e vendia tudo. Era impossível não ganhar dinheiro”, conta. “Em um mês conseguia ganhar uns 3.000 reais. Como a gente não pagava aluguel, vivíamos bem, de verdade. Agora não tem como fazer nada.”Vanessa Ferreira e sua filha, Maria Julia, vivem em Santana, Zona Norte de São Paulo.
Os dados sobre essa recente mobilidade social também são limitados, mas mostram que a fome e a pobreza voltaram a assombrar milhões de famílias no Brasil. De acordo com a FGV Social, a paralisação da economia somada à interrupção em dezembro do primeiro auxílio emergencial, de 600 reais, levou milhões de brasileiros à miséria. Em 2019, o Brasil tinha cerca de 24 milhões de pessoas, 11% da população, vivendo com menos de 246 reais por mês, em situação de extrema pobreza. A cifra subiu para 35 milhões, 16% da população, de acordo a FGV —que utilizou os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua.
A classe C (com a renda familiar a partir de 2.004 reais, de acordo com a FGV Social) está sendo empurrada para as classes D e E. Estas, por sua vez, muitas vezes são empurradas para as ruas. “Quando essa grande mudança acontece, é porque os vínculos familiares já estavam fragilizados ou por causa de fatores como o uso de drogas. No caso de mulheres, muitas são vítimas de violência doméstica”, explica Reimberg. Esses fatores estão mais relacionados às classes D e E, prossegue a especialista. No caso da classe C, há uma parte que foi muito impactada, com a falta de emprego, inadimplências e despejos. “Mas são pessoas que ainda não tiveram o vínculo familiar interrompido. Elas vão primeiro pedir ajuda para a família antes de recorrer ao Estado”, acrescenta Reimberg. Para tentar amenizar essa situação, a Câmara dos Deputados acaba de aprovar um projeto de lei proibindo despejos de imóveis durante a pandemia.
“Muitos dos novos moradores estavam por perder a moradia, mas veio o auxílio e puderam se manter um pouco mais”, explica Robson Mendonça, fundador do Movimento Estadual da População em Situação de Rua. Sua ONG, que atuava fazendo a documentação de moradores, encaminhamento para curso e emprego, tratamento para dependência química, além realizar de eventos culturais. Com as atividades interrompidas por causa da pandemia, começou a distribuir marmitas. “Muitos moradores passaram a se queixar que não comiam há dois dias. No primeiro dia distribuímos 20 refeições. No segundo, 150. No terceiro, 400″, conta. ele, que calcula distribuir diariamente entre 500 e 700 quetinhas no almoço, de domingo a domingo. De 27 de fevereiro de 2020 a 3 de maio de 2021 foram 15.000 refeições e 460 cestas básicas.
“O perfil de quem está chegado agora nas ruas é totalmente diferente. Em termos de educação, em termos de postura e da maneira de conversar com a gente”, explica, por sua vez, Kaká Ferreira, fundador da ONG Anjos da Noite, que também distribui alimentos aos sábados. “Quando o pessoal dá roupa ou comida, até a maneira de guardar é diferente. São pessoas muito tristes, desmotivadas, que não estão acostumadas a viver na rua”.
Desafio para as políticas públicas
Para Reimberg, a mudança do perfil da população de rua também representa um desafio em termos de políticas públicas. O modelo tradicional é o de centro de acolhida, a maioria voltada para homens desacompanhados. “São serviços com mais de 100 pessoas, com beliches um ao lado do outro, às vezes em galpões”, explica. O desafio, continua ela, é fazer com que pessoas que tinham certa autonomia e são forçadas a ir para a rua pelo contexto econômico, por causa de despejos, sejam também acolhidas. “Esses centros são pensados para pessoas que já romperam os vínculos familiares e pernoitavam na rua”, explica.
Há poucos abrigos que recebem famílias inteiras. Nos masculinos, os horários são mais restritos e os homens não podem entrar com crianças. No de mulheres, as crianças podem entrar, mas não podem ficar sozinhas. “Como a mulher vai buscar emprego assim?”, questiona Reimberg. “Temos uma assistência que está reproduzindo as lógicas patriarcais, em que a mulher tem que ficar com as crianças e o homem tem que buscar trabalho.”
Verônica vive no dia a dia essas dificuldades, mesmo estando em um dos poucos abrigos voltados para famílias. “Até 20h temos que estar lá. Tem lavanderia coletiva e muitas regras. Preciso recuperar minha autonomia, mas está muito difícil por causa dessa pandemia”, lamenta. Seu marido, Maxwell, dá detalhes sobre o dia a dia nesse centro de acolhida. “Tem muito usuário de droga, aí sempre tem briga, confusão... Outro dia um rapaz queria agarrar a menina no elevador. Como eu faço, com duas crianças e sem conseguir fechar a porta?”, questiona. Sua família é bem reservada e tenta se manter distante desse cotidiano. “Eu fico pensando na minha esposa. Na hora que a pessoa vai trocar a roupa, é uma situação constrangedora. Mas graças a Deus conseguimos ao menos isso.”
É meio dia de 4 de maio, uma terça-feira, e a família está numa fila com outras 500 pessoas aguardando uma doação de marmita. Todos os dias, neste mesmo horário, se dirigem à ONG Movimento Estadual da População em Situação de Rua, a poucas quadras da Prefeitura, para buscar o que comer. Quando trabalhavam, Maxwell e Verônica recebiam, juntos, cerca de 2.500 reais por mês. Não é muito para uma cidade cara como São Paulo, mas era o suficiente para pagar um aluguel de 800 reais numa casa de dois quartos no bairro do Belém, na Zona Leste da capital. “A gente tinha tudo. Mas quando perdemos o trabalho, não tivemos mais condições de pagar aluguel e fomos para a rua. Felizmente fomos acolhidos num abrigo”, afirma o homem.
A rotina da família mudou completamente desde que ficou sem teto. Durante o dia, os adultos, quase sempre acompanhados dos dois meninos, espalham currículos pelas empresas e comércios na esperança de conseguir um trabalho. “Sou acostumado a trabalhar... Sempre trabalhei, e essa situação está muito difícil para nós. Difícil mesmo”, afirma Maxwell. O café da manhã é servido no abrigo da Prefeitura, mas estão sempre em busca de doação para as demais refeições. Seus filhos estudam em escolas municipais nos bairros de Santa Cecília e Bela Vista, mas o vaivém das restrições afetou a rotina de aulas, de lazer e a vivência com outras crianças, assim como a flexibilidade de trabalho de seus pais. Eles até podem ficar no abrigo o dia todo, mas depois de determinada hora já não podem deixar o local. “Fico pensando nas crianças, que tem aquela energia a mais, e não podem estudar...”, afirma o pai. A família diz estar sempre em contato com os professores, complementa a mãe. Um telefone celular é a ferramenta que permite as crianças de acompanhar o conteúdo passando virtualmente. “Mas nem sempre temos crédito, então fica difícil”, diz ela.
Formada majoritariamente por homens desacompanhados, a população de rua de São Paulo vem passando por uma mudança de perfil que se acelerou durante a crise sanitária. Agora, famílias inteiras, incluindo mulheres que são mães solteiras, estão engrossando esse contingente. É o caso de Monica da Silva, de 33 anos. Depois de se separar, voltar para a casa de sua mãe e enfrentar conflitos familiares, decidiu deixar tudo para trás, há quase um ano, e ir para a rua em plena pandemia com suas filhos —Maria Eduarda, de 12 anos, Julia, de 8, e Alana, de 2. Passaram a morar na praça da Sé com outras dezenas de pessoas. “Ser mãe solteira é ser pai e mãe ao mesmo tempo. Você até ganha um salário mínimo, mas aí tem aluguel, tem alimentação, roupa, sapato... E também tem que pagar alguém para olhar os filhos enquanto trabalha, porque ninguém faz de graça”, explica. Sua flexibilidade é ainda menor com as aulas presenciais interrompidas, ela conta. Ainda assim, as meninas mais velhas estão matriculadas numa escola municipal da Bela Vista, mesmo com poucas condições de acompanhar as aulas virtuais.
Na época de seu último casamento, Monica e o marido chegavam a ganhar cerca de 3.000 reais por mês. Ela fazia serviços de limpeza e chegou a trabalhar com carteira assinada. Vivia numa casa com três cômodos no Belém. Agora, separada e brigada com o resto da família, vê os trabalhos ficarem cada vez mais escassos por conta da pandemia. Precisa catar e vender garrafas de plástico e latas para um centro de reciclagem, e com isso consegue ganhar até 400 reais mensais —mas seus ex-maridos não pagam pensão há muito tempo, desde antes da pandemia.
“Em tempos normais tem mais forma de ganhar dinheiro. Você faz uma faxina aqui, vende uma bala ali. Mas agora diminuíram as formas de ganhar dinheiro”, explica, enquanto amamenta a filha menor. “Tenho vontade de montar um ferro velho, mas minhas limitações financeiras não permitem. Também não terminei os estudos, então isso diminui as possibilidades”.
Os dados são escassos e ainda não foi feita uma contagem recente do tamanho da população de rua na cidade de São Paulo. O último censo é de 2019, quando foram contabilizadas 24.344 pessoas vivendo nessa condição. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social confirmou ao EL PAÍS que antecipará a próxima contagem, que deveria ser realizada somente em 2023, para o segundo semestre deste ano. A pandemia causou essa mudança de planos.
O aumento desse contingente populacional é visível aos olhos de quem anda pela cidade. “É muito grande a chance de registrarem mais de 30.000 pessoas. A pandemia acentuou, mas mesmo sem ela essa população já vinha aumentando”, explica Juliana Reimberg, mestranda de ciências políticas na Universidade de São Paulo (USP), pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole (CEM-USP) e especialista em políticas públicas voltadas para a população nas ruas. O único levantamento nacional, feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), estima que em setembro 2012 havia mais de 92.000 pessoas vivendo nas ruas de todo o país. Em março de 2020, quando a pandemia ainda estava começando, já eram mais de 221.000 nessa situação.
Quase metade das pessoas sem-teto em São Paulo é acolhida em abrigos da Prefeitura, como é o caso da família de Maxwell e Verônica. Em outros casos, como o de Vanessa Ferreira e suas três filhas, a solução é morar dentro de uma barraca de camping embaixo de um viaduto —na avenida Cruzeiro do Sul, próximo ao metrô de Santana, na Zona Norte. Elas deixaram de viver sob um teto ainda em 2019, quando a favela onde moravam, de Zaki Narchi, no bairro do Carandiru, pegou fogo. Desde então estão as ruas. “Eu ainda não consegui dinheiro para comprar material e montar meu barraco”, explica Vanessa, que faz bicos de vendedora. Mas a crise econômica da pandemia também dificultou ainda mais sua vida e atrasou sua volta à favela. “Se tinha um evento de futebol, eu pegava minha água e vendia tudo. Era impossível não ganhar dinheiro”, conta. “Em um mês conseguia ganhar uns 3.000 reais. Como a gente não pagava aluguel, vivíamos bem, de verdade. Agora não tem como fazer nada.”Vanessa Ferreira e sua filha, Maria Julia, vivem em Santana, Zona Norte de São Paulo.
Os dados sobre essa recente mobilidade social também são limitados, mas mostram que a fome e a pobreza voltaram a assombrar milhões de famílias no Brasil. De acordo com a FGV Social, a paralisação da economia somada à interrupção em dezembro do primeiro auxílio emergencial, de 600 reais, levou milhões de brasileiros à miséria. Em 2019, o Brasil tinha cerca de 24 milhões de pessoas, 11% da população, vivendo com menos de 246 reais por mês, em situação de extrema pobreza. A cifra subiu para 35 milhões, 16% da população, de acordo a FGV —que utilizou os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua.
A classe C (com a renda familiar a partir de 2.004 reais, de acordo com a FGV Social) está sendo empurrada para as classes D e E. Estas, por sua vez, muitas vezes são empurradas para as ruas. “Quando essa grande mudança acontece, é porque os vínculos familiares já estavam fragilizados ou por causa de fatores como o uso de drogas. No caso de mulheres, muitas são vítimas de violência doméstica”, explica Reimberg. Esses fatores estão mais relacionados às classes D e E, prossegue a especialista. No caso da classe C, há uma parte que foi muito impactada, com a falta de emprego, inadimplências e despejos. “Mas são pessoas que ainda não tiveram o vínculo familiar interrompido. Elas vão primeiro pedir ajuda para a família antes de recorrer ao Estado”, acrescenta Reimberg. Para tentar amenizar essa situação, a Câmara dos Deputados acaba de aprovar um projeto de lei proibindo despejos de imóveis durante a pandemia.
“Muitos dos novos moradores estavam por perder a moradia, mas veio o auxílio e puderam se manter um pouco mais”, explica Robson Mendonça, fundador do Movimento Estadual da População em Situação de Rua. Sua ONG, que atuava fazendo a documentação de moradores, encaminhamento para curso e emprego, tratamento para dependência química, além realizar de eventos culturais. Com as atividades interrompidas por causa da pandemia, começou a distribuir marmitas. “Muitos moradores passaram a se queixar que não comiam há dois dias. No primeiro dia distribuímos 20 refeições. No segundo, 150. No terceiro, 400″, conta. ele, que calcula distribuir diariamente entre 500 e 700 quetinhas no almoço, de domingo a domingo. De 27 de fevereiro de 2020 a 3 de maio de 2021 foram 15.000 refeições e 460 cestas básicas.
“O perfil de quem está chegado agora nas ruas é totalmente diferente. Em termos de educação, em termos de postura e da maneira de conversar com a gente”, explica, por sua vez, Kaká Ferreira, fundador da ONG Anjos da Noite, que também distribui alimentos aos sábados. “Quando o pessoal dá roupa ou comida, até a maneira de guardar é diferente. São pessoas muito tristes, desmotivadas, que não estão acostumadas a viver na rua”.
Desafio para as políticas públicas
Para Reimberg, a mudança do perfil da população de rua também representa um desafio em termos de políticas públicas. O modelo tradicional é o de centro de acolhida, a maioria voltada para homens desacompanhados. “São serviços com mais de 100 pessoas, com beliches um ao lado do outro, às vezes em galpões”, explica. O desafio, continua ela, é fazer com que pessoas que tinham certa autonomia e são forçadas a ir para a rua pelo contexto econômico, por causa de despejos, sejam também acolhidas. “Esses centros são pensados para pessoas que já romperam os vínculos familiares e pernoitavam na rua”, explica.
Há poucos abrigos que recebem famílias inteiras. Nos masculinos, os horários são mais restritos e os homens não podem entrar com crianças. No de mulheres, as crianças podem entrar, mas não podem ficar sozinhas. “Como a mulher vai buscar emprego assim?”, questiona Reimberg. “Temos uma assistência que está reproduzindo as lógicas patriarcais, em que a mulher tem que ficar com as crianças e o homem tem que buscar trabalho.”
Verônica vive no dia a dia essas dificuldades, mesmo estando em um dos poucos abrigos voltados para famílias. “Até 20h temos que estar lá. Tem lavanderia coletiva e muitas regras. Preciso recuperar minha autonomia, mas está muito difícil por causa dessa pandemia”, lamenta. Seu marido, Maxwell, dá detalhes sobre o dia a dia nesse centro de acolhida. “Tem muito usuário de droga, aí sempre tem briga, confusão... Outro dia um rapaz queria agarrar a menina no elevador. Como eu faço, com duas crianças e sem conseguir fechar a porta?”, questiona. Sua família é bem reservada e tenta se manter distante desse cotidiano. “Eu fico pensando na minha esposa. Na hora que a pessoa vai trocar a roupa, é uma situação constrangedora. Mas graças a Deus conseguimos ao menos isso.”
Sem saída
Um país doente é um país pobre. Não há jeitoLudhmila Hajjar, médica que rejeitou Ministério da Saúde
Por um punhado de dólares
Zero consciência coletiva. Zero responsabilidade. Os “canarinhos” e sua comissão técnica vão na onda de Bolsonaro. Vivem como se não houvesse pandemia, Covid, fome, desemprego, desesperança, desgoverno. Até o Vice-Presidente, que vez por outra tem um átimo de lucidez, apoiou o despropósito.
Argentina e Colômbia se recusaram a sediar a Copa América. Razões obvias: milhares de mortos pela pandemia, longe de ser controlada. O Brasil correu atrás. Por obra de Jair Bolsonaro, em conluio com a direção da CBF, aceitou receber o torneio internacional. Somos de fato um País de vira-latas.
Milhares de pessoas circularão pelas cidades que devem promover os jogos. Ou alguém imagina o brasileiro quietinho em casa esperando o torneio passar? Futebol será apenas mais um pretexto, aglomerações acontecem todos os dias nesse Brasil – festas, praias lotadas.
E no universo paralelo do futebol, pode tudo. Sempre pôde.
Taí um bom momento para assistir El Presidente, na Amazon Prime. Se ainda não viu, não perca. Tudo a ver com política, corrupção e futebol. Tudo a ver com CBF, Conmebol, FIFA, dirigentes, cartolas, patrocinadores. Tudo a ver com essa desnecessária e prejudicial Copa América.
Trama real contando fatos tragicômicos, tão esdrúxulos e delirantes que muitas vezes parece ficção. Não é. Coprodução chilena e colombiana, tem um elenco ótimo, e a direção do premiado Armando Bó, roteirista argentino, vencedor do Oscar por Birdman, com Alejandro Iñarritu.
Na primeira temporada, El Presidente traz os bastidores e denúncias do Fifagate, que, em 2015, envolveu dirigentes de futebol de quase todo o mundo, inclusive (ou principalmente) latinos e brasileiros.
No Fifagate, segundo o FBI, o ex-todo poderoso presidente da CBF Ricardo Teixeira movimentou esquema de propina de mais de US$ 32 milhões de dólares, em contratos da Libertadores e … Copa America.
Del Nero e José Maria Marin, ex-presidentes da CBF depois de Teixeira, também foram denunciamos pelo Ministério Público americano. Teixeira foi banido do futebol, em decisão da FIFA, em novembro de 2020.
Na segunda temporada, em produção, El Presidente vai tratar de corrupção no futebol brasileiro. Escândalos da CBF. Pense só no que vem por ai. A Copa América de 2021 poderá ter papel de destaque na série.
E vai incluir, claro, o tal de Rogério Caboclo, presidente afastado da CBF por assédio sexual. A Comissão de Ética da entidade existe e começou a trabalhar.
PS: Em 2019, a CBF recebeu nada menos que R$ 43 milhões da Conmebol, após a conquista do titulo pela seleção brasileira. Parte da grana foi distribuída entre atletas e comissão técnica. O restante ficou com a entidade.
Argentina e Colômbia se recusaram a sediar a Copa América. Razões obvias: milhares de mortos pela pandemia, longe de ser controlada. O Brasil correu atrás. Por obra de Jair Bolsonaro, em conluio com a direção da CBF, aceitou receber o torneio internacional. Somos de fato um País de vira-latas.
Milhares de pessoas circularão pelas cidades que devem promover os jogos. Ou alguém imagina o brasileiro quietinho em casa esperando o torneio passar? Futebol será apenas mais um pretexto, aglomerações acontecem todos os dias nesse Brasil – festas, praias lotadas.
E no universo paralelo do futebol, pode tudo. Sempre pôde.
Taí um bom momento para assistir El Presidente, na Amazon Prime. Se ainda não viu, não perca. Tudo a ver com política, corrupção e futebol. Tudo a ver com CBF, Conmebol, FIFA, dirigentes, cartolas, patrocinadores. Tudo a ver com essa desnecessária e prejudicial Copa América.
Trama real contando fatos tragicômicos, tão esdrúxulos e delirantes que muitas vezes parece ficção. Não é. Coprodução chilena e colombiana, tem um elenco ótimo, e a direção do premiado Armando Bó, roteirista argentino, vencedor do Oscar por Birdman, com Alejandro Iñarritu.
Na primeira temporada, El Presidente traz os bastidores e denúncias do Fifagate, que, em 2015, envolveu dirigentes de futebol de quase todo o mundo, inclusive (ou principalmente) latinos e brasileiros.
No Fifagate, segundo o FBI, o ex-todo poderoso presidente da CBF Ricardo Teixeira movimentou esquema de propina de mais de US$ 32 milhões de dólares, em contratos da Libertadores e … Copa America.
Del Nero e José Maria Marin, ex-presidentes da CBF depois de Teixeira, também foram denunciamos pelo Ministério Público americano. Teixeira foi banido do futebol, em decisão da FIFA, em novembro de 2020.
Na segunda temporada, em produção, El Presidente vai tratar de corrupção no futebol brasileiro. Escândalos da CBF. Pense só no que vem por ai. A Copa América de 2021 poderá ter papel de destaque na série.
E vai incluir, claro, o tal de Rogério Caboclo, presidente afastado da CBF por assédio sexual. A Comissão de Ética da entidade existe e começou a trabalhar.
PS: Em 2019, a CBF recebeu nada menos que R$ 43 milhões da Conmebol, após a conquista do titulo pela seleção brasileira. Parte da grana foi distribuída entre atletas e comissão técnica. O restante ficou com a entidade.
O delírio liberal-fascista
Bom lembrar, neste momento de crise nacional, as suas raízes no tempo social. As tarefas históricas não resolvidas, o crescimento de uma burocracia que reproduz – no interior da estrutura do Estado – as divisões de classe e de renda que existem na sociedade, bem como a formação cultural das elites governantes, dizem muito sobre o estado da nossa crise.
Estas condições revelam o caráter das nossas políticas públicas e os interesses que movem nossas classes dominantes. Sua origem está no modo de produção escravista que – mesmo depois de superado – deixou a sua ideologia de “mando” perverso como herança autoritária das oligarquias regionais. Exemplo histórico: antes de ser deposto o Presidente João Goulart tentou iniciar um processo de desapropriação de terras, até o limite de 10 km ao longo das rodovias federais, ideia logo abortada pelo Golpe Militar burguês-latifundiário, por ser uma ideia “comunista”. Tite agora passa a ser “acusado” de comunista porque se atreve a pensar como cidadão preocupado com seu povo.
Comunistas? Vejam a “última fala do trono”, feita por D. Pedro II, por ocasião da abertura da 4a. sessão da Vigésima Legislatura”, em 3 de maio de 1889: “Nessa ocasião resolvereis sobre a conveniência de conceder ao Governo o direito de desapropriar por utilidade pública, os territórios marginais das estradas de ferro, que não são aproveitados pelos proprietários e podem servir para núcleos coloniais”. D. Pedro II, no final do Século XIX, certamente ainda não se deparara com a força burocrática da alta administração pública de um Estado de Direito tardio, nem com as oligarquias regionais, já organizadas para proteger seus “direitos” no jogo da política moderna.
Numa sociedade capitalista periférica uma burocracia civil e militar alheia ao público, se considera até hoje feliz – como disse Anísio Teixeira – tanto por poder fazer “o mal ou o bem, como verdadeiros deuses”. A interpretação da Constituição – em cada período – tende a revelar, todavia, não a força das normas que deveriam organizar a sociedade segundo os objetivos da Constituição, mas como a sociedade pode ser organizada sem que a Constituição modifique a vida já instalada, onde a maioria não dispõe da fruição comum dos bens necessários a uma vida digna.
Quando esta burocracia serve a Governos legítimos – eleitos democraticamente – que governam em consonância com os protocolos da democracia política, o fluxo das instituições exerce um certo poder corretivo sobre a burocracia e tende a equilibrar o que Anísio entendia como “bem” e “mal”, interesse público e interesses de classe, interesses de castas e vocações políticas da nação, equilíbrios que formariam lentamente – ou por saltos – ao longo dos séculos, a cultura e a ideologia dos diversos núcleos de poder das classes e das castas burocráticas que controlam os mecanismos públicos de poder.
Pode ocorrer uma “transição pacífica” para o fascismo, com o desmoronamento da ordem política liberal representativa esboroando-se, sem ações violentas contra a resistência da democracia liberal? Provavelmente não, mas a hipótese não é improvável se as classes hegemônicas, num dado momento de crise num certo país, se unificarem no entendimento que o regime liberal-democrático pode prejudicar gravemente os seus interesses imediatos. É o momento em que os seus dirigentes falsificam os opostos e podem aderir em massa à hipótese fascista.
Esta falsificação dos opostos já ocorreu aqui no Brasil de maneira exemplar, quando parte dos tucanos, pemedebistas e outros lideranças dita “democráticas”, mais o resíduo informe do oportunismo e da corrupção liberal, colocaram num mesmo plano os “perigos” de um Governo Bolsonaro e os “perigos” de um Governo Haddad, para o futuro dos seus negócios.
Hoje, 7 de junho de 2021, suponho, será considerado um dia especial no calendário político da crise. Depois das grandes manifestações do dia 29.05, da reportagem de 12 páginas da The Economist sobre o delírio liberal-fascista que nos assola, dos gigantescos panelaços de repulsa a Bolsonaro, da anistia informal do general Eduardo Pazzuelo, da propagação pela Globo News da obscena reunião do Gabinete “Sombra” da Saúde – dirigido pelo Deputado Osmar “apenas 800 mortos” Terra – depois de tudo, a situação da crise atingiu o ápice da sua dramaticidade.
Este ápice sucedeu o decente depoimento da Dra. Luana “de que lado descer da terra plana” Araújo e está contido na fala psicopática do Presidente Jair “disso daí Bolsonaro”. É o momento em que a tragédia da genocida “imunização de rebanho”, gerou o ponto mais alto da hipnose fascista: o ponto da desumanidade delirante, pelo qual as mentiras fragmentárias em sequência se transformaram numa locução presidencial de produção de mentiras absolutas.
Segue o baile macabro. As enormes concentrações de lazer e o anúncio da Copa América, combinadas com pedido de arquivamento dos Inquéritos sobre as tentativas de golpe, pelo incrível Dr. Aras, colocaram a tragédia num novo patamar: as mortes da Pandemia se somam à fome endêmica, à indiferença de uma parte substancial da população pela morte (dos outros) e à “firmeza” bolsonarista da maioria das duas casas do Congresso, que “seguram” qualquer tentativa de “impeachment”, com deputados e senadores embalados pelas emendas liberadas e pelos orçamentos paralelos.
Todos os Governos que se sucederam no regime militar participaram, de algum modo, das regras deste jogo para governar. Nenhum deles, porém, atingiu o grau de indecência, anti-republicanismo militante, mentiras em série e manipulações “grupistas” e familiares do Estado, como o atual Governo. À medida em que as instituições não reagem contra este clímax de insanidade elas reforçam a possibilidade de uma transição “naturalizada” para o fascismo, como regime político que conquista alma, primeiro pela indiferença, depois pela militância fanatizada nas mentiras em sequência.
Marx falava na marcha inexorável do capitalismo industrial como um “Deus estranho que se instalou no altar ao lado dos velhos ídolos (feudais) da Europa e, numa bela manhã, com um empurrão e um pontapé derrubou-os por terra”, assim referindo às ideias do iluminismo que “refletiam o solapamento das velhas instituições políticas e econômicas pelo crescimento do capitalismo”. Hegel, no mesmo sentido, à Era Napoleônica, comparou esta transição com uma serpente, quando esta deixa cair “apenas uma pele morta (o feudalismo) – (quando) então será uma bela manhã, cuja tarde não estará tinta de sangue”.
As metáforas de Hegel e Marx, baseadas em Diderot, servem para inspirar uma reflexão sobre o avanço do fascismo no Brasil, naturalizado pela imprensa tradicional durante um largo período, já agora assustada com o seu resultado. Parece que o diálogo de Lula com Fernando Henrique pode funcionar como um aviso comum que esta transição já começou, de forma aparentemente pacífica, mas, ao contrário do que Hegel profetizou sobre a era Napoleônica, erradamente, depois do assentamento do fascismo evangélico “nova era”, as tardes estarão sempre tintas de sangue.
Estas condições revelam o caráter das nossas políticas públicas e os interesses que movem nossas classes dominantes. Sua origem está no modo de produção escravista que – mesmo depois de superado – deixou a sua ideologia de “mando” perverso como herança autoritária das oligarquias regionais. Exemplo histórico: antes de ser deposto o Presidente João Goulart tentou iniciar um processo de desapropriação de terras, até o limite de 10 km ao longo das rodovias federais, ideia logo abortada pelo Golpe Militar burguês-latifundiário, por ser uma ideia “comunista”. Tite agora passa a ser “acusado” de comunista porque se atreve a pensar como cidadão preocupado com seu povo.
Comunistas? Vejam a “última fala do trono”, feita por D. Pedro II, por ocasião da abertura da 4a. sessão da Vigésima Legislatura”, em 3 de maio de 1889: “Nessa ocasião resolvereis sobre a conveniência de conceder ao Governo o direito de desapropriar por utilidade pública, os territórios marginais das estradas de ferro, que não são aproveitados pelos proprietários e podem servir para núcleos coloniais”. D. Pedro II, no final do Século XIX, certamente ainda não se deparara com a força burocrática da alta administração pública de um Estado de Direito tardio, nem com as oligarquias regionais, já organizadas para proteger seus “direitos” no jogo da política moderna.
Numa sociedade capitalista periférica uma burocracia civil e militar alheia ao público, se considera até hoje feliz – como disse Anísio Teixeira – tanto por poder fazer “o mal ou o bem, como verdadeiros deuses”. A interpretação da Constituição – em cada período – tende a revelar, todavia, não a força das normas que deveriam organizar a sociedade segundo os objetivos da Constituição, mas como a sociedade pode ser organizada sem que a Constituição modifique a vida já instalada, onde a maioria não dispõe da fruição comum dos bens necessários a uma vida digna.
Quando esta burocracia serve a Governos legítimos – eleitos democraticamente – que governam em consonância com os protocolos da democracia política, o fluxo das instituições exerce um certo poder corretivo sobre a burocracia e tende a equilibrar o que Anísio entendia como “bem” e “mal”, interesse público e interesses de classe, interesses de castas e vocações políticas da nação, equilíbrios que formariam lentamente – ou por saltos – ao longo dos séculos, a cultura e a ideologia dos diversos núcleos de poder das classes e das castas burocráticas que controlam os mecanismos públicos de poder.
Pode ocorrer uma “transição pacífica” para o fascismo, com o desmoronamento da ordem política liberal representativa esboroando-se, sem ações violentas contra a resistência da democracia liberal? Provavelmente não, mas a hipótese não é improvável se as classes hegemônicas, num dado momento de crise num certo país, se unificarem no entendimento que o regime liberal-democrático pode prejudicar gravemente os seus interesses imediatos. É o momento em que os seus dirigentes falsificam os opostos e podem aderir em massa à hipótese fascista.
Esta falsificação dos opostos já ocorreu aqui no Brasil de maneira exemplar, quando parte dos tucanos, pemedebistas e outros lideranças dita “democráticas”, mais o resíduo informe do oportunismo e da corrupção liberal, colocaram num mesmo plano os “perigos” de um Governo Bolsonaro e os “perigos” de um Governo Haddad, para o futuro dos seus negócios.
Hoje, 7 de junho de 2021, suponho, será considerado um dia especial no calendário político da crise. Depois das grandes manifestações do dia 29.05, da reportagem de 12 páginas da The Economist sobre o delírio liberal-fascista que nos assola, dos gigantescos panelaços de repulsa a Bolsonaro, da anistia informal do general Eduardo Pazzuelo, da propagação pela Globo News da obscena reunião do Gabinete “Sombra” da Saúde – dirigido pelo Deputado Osmar “apenas 800 mortos” Terra – depois de tudo, a situação da crise atingiu o ápice da sua dramaticidade.
Este ápice sucedeu o decente depoimento da Dra. Luana “de que lado descer da terra plana” Araújo e está contido na fala psicopática do Presidente Jair “disso daí Bolsonaro”. É o momento em que a tragédia da genocida “imunização de rebanho”, gerou o ponto mais alto da hipnose fascista: o ponto da desumanidade delirante, pelo qual as mentiras fragmentárias em sequência se transformaram numa locução presidencial de produção de mentiras absolutas.
Segue o baile macabro. As enormes concentrações de lazer e o anúncio da Copa América, combinadas com pedido de arquivamento dos Inquéritos sobre as tentativas de golpe, pelo incrível Dr. Aras, colocaram a tragédia num novo patamar: as mortes da Pandemia se somam à fome endêmica, à indiferença de uma parte substancial da população pela morte (dos outros) e à “firmeza” bolsonarista da maioria das duas casas do Congresso, que “seguram” qualquer tentativa de “impeachment”, com deputados e senadores embalados pelas emendas liberadas e pelos orçamentos paralelos.
Todos os Governos que se sucederam no regime militar participaram, de algum modo, das regras deste jogo para governar. Nenhum deles, porém, atingiu o grau de indecência, anti-republicanismo militante, mentiras em série e manipulações “grupistas” e familiares do Estado, como o atual Governo. À medida em que as instituições não reagem contra este clímax de insanidade elas reforçam a possibilidade de uma transição “naturalizada” para o fascismo, como regime político que conquista alma, primeiro pela indiferença, depois pela militância fanatizada nas mentiras em sequência.
Marx falava na marcha inexorável do capitalismo industrial como um “Deus estranho que se instalou no altar ao lado dos velhos ídolos (feudais) da Europa e, numa bela manhã, com um empurrão e um pontapé derrubou-os por terra”, assim referindo às ideias do iluminismo que “refletiam o solapamento das velhas instituições políticas e econômicas pelo crescimento do capitalismo”. Hegel, no mesmo sentido, à Era Napoleônica, comparou esta transição com uma serpente, quando esta deixa cair “apenas uma pele morta (o feudalismo) – (quando) então será uma bela manhã, cuja tarde não estará tinta de sangue”.
As metáforas de Hegel e Marx, baseadas em Diderot, servem para inspirar uma reflexão sobre o avanço do fascismo no Brasil, naturalizado pela imprensa tradicional durante um largo período, já agora assustada com o seu resultado. Parece que o diálogo de Lula com Fernando Henrique pode funcionar como um aviso comum que esta transição já começou, de forma aparentemente pacífica, mas, ao contrário do que Hegel profetizou sobre a era Napoleônica, erradamente, depois do assentamento do fascismo evangélico “nova era”, as tardes estarão sempre tintas de sangue.
O Brasil entre aspas
De todas as anotações encontradas no material apreendido pela Polícia Federal com o ativista bolsonarista Allan dos Santos, no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos, a que mais me chamou atenção foi a seguinte: “a prioridade do presidente Bolsonaro não é resolver o ‘problema do Brasil’, mas eliminar os problemas DELE.”
Como noticiamos ontem, não está claro se a frase foi dita pelo ideólogo Olavo de Carvalho, que daria orientações ao ativista, de acordo com a PF, ou outra pessoa. Aparentemente, data de janeiro de 2019. Ou seja, do primeiro mês do governo de Jair Bolsonaro, quando Eduardo Bolsonaro, igualmente conhecido como Dudu Bananinha, dedicava-se a formar deputados — o que, imagino, consistia numa espécie de alinhamento doutrinário, se que é se pode chamar de doutrina essa mixórdia despejada diariamente pelos filhos do presidente da República e os seus sequazes sobre os brasileiros.
A frase chama atenção porque, se dita por um aliado do presidente da República, o que parece ser o caso, é a manifestação mais sincera do verdadeiro programa de governo do atual presidente. Se não saiu da boca de um acólito, também resume bem ao que assistimos. Trata-se de resolver os problemas DELE, não do país, o resto funcionando como cortina de fumaça preta, para enganar aquele quarto do eleitorado que, pelo jeito, continuará bolsonarista até ser jogado de uma das bordas da terra plana que habita.
Para eliminar os problemas DELE, Jair Bolsonaro jogou fora o pacote anticorrupção, ajudou a destruir a Lava Jato, interferiu politicamente na Polícia Federal, que agora se encontra balcanizada como nos tempos de Lula, passou a usar a Abin privativamente, aliou-se ao Centrão e instituiu um orçamento secreto para comprar parlamentares. Para eliminar os problemas DELE, concentrado que está em reeleger-se, em traição à sua promessa de não concorrer pela segunda vez ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro inventou uma cura falsa para a Covid e continua a estimular as pessoas a retomar a vida normal, a fim de produzir imunidade de rebanho natural ao custo de centenas de milhares de vidas — o que importa apenas são as estatísticas de crescimento para vender na campanha eleitoral de 2022. Para eliminar os problemas DELE, ele noiva com o golpismo (é muito mais do que um flerte a esta altura), estimulando a indisciplina nos quartéis e creditando desde já uma derrota nas urnas a fraude.
Todos esses fatos são cansativamente sabidos, mas nunca eles foram tão bem sintetizados por uma frase como “a prioridade do presidente Bolsonaro não é resolver o ‘problema do Brasil’, mas eliminar os problemas DELE”. Trata-se da manifestação mais crua do patrimonialismo brasileiro, esse sistema sempre aberto a arrivistas que reproduz as perversidades seculares a que nos sujeitamos — e que coloca o “problema do Brasil” sempre dessa forma, entre aspas. Jair Bolsonaro é manifestação purulenta de doença antiga.
A frase chama atenção porque, se dita por um aliado do presidente da República, o que parece ser o caso, é a manifestação mais sincera do verdadeiro programa de governo do atual presidente. Se não saiu da boca de um acólito, também resume bem ao que assistimos. Trata-se de resolver os problemas DELE, não do país, o resto funcionando como cortina de fumaça preta, para enganar aquele quarto do eleitorado que, pelo jeito, continuará bolsonarista até ser jogado de uma das bordas da terra plana que habita.
Para eliminar os problemas DELE, Jair Bolsonaro jogou fora o pacote anticorrupção, ajudou a destruir a Lava Jato, interferiu politicamente na Polícia Federal, que agora se encontra balcanizada como nos tempos de Lula, passou a usar a Abin privativamente, aliou-se ao Centrão e instituiu um orçamento secreto para comprar parlamentares. Para eliminar os problemas DELE, concentrado que está em reeleger-se, em traição à sua promessa de não concorrer pela segunda vez ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro inventou uma cura falsa para a Covid e continua a estimular as pessoas a retomar a vida normal, a fim de produzir imunidade de rebanho natural ao custo de centenas de milhares de vidas — o que importa apenas são as estatísticas de crescimento para vender na campanha eleitoral de 2022. Para eliminar os problemas DELE, ele noiva com o golpismo (é muito mais do que um flerte a esta altura), estimulando a indisciplina nos quartéis e creditando desde já uma derrota nas urnas a fraude.
Todos esses fatos são cansativamente sabidos, mas nunca eles foram tão bem sintetizados por uma frase como “a prioridade do presidente Bolsonaro não é resolver o ‘problema do Brasil’, mas eliminar os problemas DELE”. Trata-se da manifestação mais crua do patrimonialismo brasileiro, esse sistema sempre aberto a arrivistas que reproduz as perversidades seculares a que nos sujeitamos — e que coloca o “problema do Brasil” sempre dessa forma, entre aspas. Jair Bolsonaro é manifestação purulenta de doença antiga.
Assinar:
Comentários (Atom)