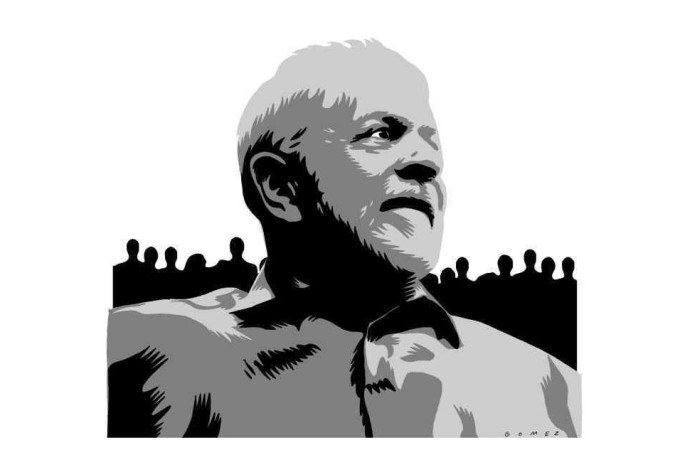domingo, 9 de fevereiro de 2025
Indignados
"Outraged" (indignados), de Kurt Gray, é um livro adequado a nossos tempos. O autor se propõe a investigar as razões que nos levam a dividir-nos em relação a questões morais e políticas. Basicamente, ele estuda a polarização.
A tese central de Gray é que o homem foi, ao longo de sua história evolutiva, muito mais presa do que predador. Isso deixou marcas em nosso psiquismo. A mais notável delas seria um instinto moral baseado na ideia de proteção. Todos os nossos juízos morais seriam uma tentativa de proteger a nós mesmos, nossa família, terceiros ou até valores que visam a manter a coesão social.
O que separa defensores e opositores do aborto não seria uma paleta moral totalmente diversa, mas uma diferença sobre quem é a vítima real da loteria cósmica, a mulher ou o feto.
O alvo principal de Gray é o psicólogo Jonathan Haidt, proponente da teoria dos fundamentos morais. Segundo Haidt, nosso instinto moral é composto por cinco ingredientes. A ideia de proteção é só um deles.
O livro me trouxe um insight valioso. Gray é enfático ao afirmar que, dada nossa história evolutiva, estamos condenados a sempre procurar sinais de perigo. Essa tendência, quando opera num mundo cada vez mais seguro e menos intolerante, faz com que nos preocupemos (e nos dividamos) por questões cada vez menos relevantes.
Isso vale tanto para o mundo físico como para o moral. Crianças da minha geração viajavam no chiqueirinho das Variants e jamais cogitariam de usar capacete para andar de skate ou de bicicleta. Um pai que permitir isso hoje pode ser preso.
De modo análogo, enfrentar o racismo algumas décadas atrás era opor-se a leis que negavam igualdade jurídica a todos os cidadãos; hoje discutimos quais palavras causam desconforto psíquico a quais grupos.
O assustador é pensar que, quanto mais avançarmos, mais obcecados por minudências nos tornaremos. Essa, contudo, é a minha visão. Gray é otimista. Ele acha que há formas de superar os piores aspectos de nossas divisões morais.
Hélio Schwartsman
A tese central de Gray é que o homem foi, ao longo de sua história evolutiva, muito mais presa do que predador. Isso deixou marcas em nosso psiquismo. A mais notável delas seria um instinto moral baseado na ideia de proteção. Todos os nossos juízos morais seriam uma tentativa de proteger a nós mesmos, nossa família, terceiros ou até valores que visam a manter a coesão social.
O que separa defensores e opositores do aborto não seria uma paleta moral totalmente diversa, mas uma diferença sobre quem é a vítima real da loteria cósmica, a mulher ou o feto.
O alvo principal de Gray é o psicólogo Jonathan Haidt, proponente da teoria dos fundamentos morais. Segundo Haidt, nosso instinto moral é composto por cinco ingredientes. A ideia de proteção é só um deles.
O livro me trouxe um insight valioso. Gray é enfático ao afirmar que, dada nossa história evolutiva, estamos condenados a sempre procurar sinais de perigo. Essa tendência, quando opera num mundo cada vez mais seguro e menos intolerante, faz com que nos preocupemos (e nos dividamos) por questões cada vez menos relevantes.
Isso vale tanto para o mundo físico como para o moral. Crianças da minha geração viajavam no chiqueirinho das Variants e jamais cogitariam de usar capacete para andar de skate ou de bicicleta. Um pai que permitir isso hoje pode ser preso.
De modo análogo, enfrentar o racismo algumas décadas atrás era opor-se a leis que negavam igualdade jurídica a todos os cidadãos; hoje discutimos quais palavras causam desconforto psíquico a quais grupos.
O assustador é pensar que, quanto mais avançarmos, mais obcecados por minudências nos tornaremos. Essa, contudo, é a minha visão. Gray é otimista. Ele acha que há formas de superar os piores aspectos de nossas divisões morais.
Hélio Schwartsman
Governo de alma sem corpo encara o público
Despertando na metade do mandato com a palavra comunicação na cabeça, Lula trocou de secretários, Pimenta por Sidônio. Nome com pedigree latino: Caius Sollis Modestus Apollinaris Sidonius foi genro de imperador, bispo, poeta e diplomata competente. Este último atributo é sugestivo para o recém-chegado, pois qualquer tarefa pública demanda hoje jogo de dentro com as cascavéis do entorno partidário e jogo de fora, estilo Garrincha, para driblar a mentira institucionalizada. Duas manhas familiares à capoeira.
Baiano, Sidônio pode até ser esperto em ambas. Mas a comunicação pós-analógica não tem nada a ver com lero-lero diplomático nem com informação verdadeira. Tem a ver com crença. E o que se transforma em convicção não é a qualidade das proposições, mas a solidez do sistema em que aparecem. A força da convicção pode ser maior que a da verdade.
O primeiro meio-ambiente do indivíduo é a própria mente, mas essa "morada" primeira é condicionada por um comum inerente ao meio vital. Aprende-se por confiança na autoridade das fontes (pais, professores). Só que a rede eletrônica cria hoje um meio (vital?) em que algoritmos autônomos abrem caminho para discursos subterrâneos incontroláveis.
Daí uma realidade separada, com lógica e linguagem próprias, sem referências objetivas e sem compromisso com verdade. Nada impede que o falseamento se converta em objeto de desejo, não tanto como mentira deliberada, mas como "psitacismo" ou fala de papagaio, mera repetição do que se ouve. Isso que neoliberais e adictos de redes sociais confundem com liberdade de expressão.
Não erra quem diz que essa é uma visão acadêmica. De fato, se trata de conhecimento familiar a pesquisadores da era pós-analógica. Comunicação sempre foi encontro simbólico de duas partes, portanto, diálogo radical, e não transmissão unilateral de conteúdos de um polo a outro. Voltada para estruturas político-econômicas e velhas utopias, a esquerda jurássica confundiu comunicação com propaganda, desconhecendo sua função, que hoje atende à lógica das sensações, e não dos argumentos. Perdeu o rumo sob o capitalismo financeiro, com a digitalização dos meios vitais. Não que a direita tenha entendido, mas aproveitou: a ignorância torna-se douta à sombra da arrogância dos pretensos donos da verdade.
Assim, dúvidas razoáveis sobre a nova empreitada. O governo tem alma, mas velha, já sem corpo. Sidônio aperfeiçoaria a informação, tirando ministérios da conveniente letargia, falando para além da bolha. Para isso, uma campanha de mobilização democrática nesse instante de realinhamento ou esfacelamento da direita. Com discurso sincero e boa diplomacia, a verdade se mostraria. Analógica, claro. Os epígonos de Caius Sidonius aplaudiriam.
Mas será que a questão é só de bem comunicar? De apenas evitar falhas como a do Pix? Se for, Sidônio, na Idade Média como na Mídia, o que se exige de uma comunicação sensível para as massas é pão, segurança, circo e uma cara (um foco visível), que o governo não tem. E dificilmente terá enquanto refém emparedado pela máquina parasitária de "unidades orçamentárias" (em vez de representantes do povo) chamada centrão, cuja estratégia é a não comunicação, o silêncio da caverna de Ali-Babá.
Baiano, Sidônio pode até ser esperto em ambas. Mas a comunicação pós-analógica não tem nada a ver com lero-lero diplomático nem com informação verdadeira. Tem a ver com crença. E o que se transforma em convicção não é a qualidade das proposições, mas a solidez do sistema em que aparecem. A força da convicção pode ser maior que a da verdade.
O primeiro meio-ambiente do indivíduo é a própria mente, mas essa "morada" primeira é condicionada por um comum inerente ao meio vital. Aprende-se por confiança na autoridade das fontes (pais, professores). Só que a rede eletrônica cria hoje um meio (vital?) em que algoritmos autônomos abrem caminho para discursos subterrâneos incontroláveis.
Daí uma realidade separada, com lógica e linguagem próprias, sem referências objetivas e sem compromisso com verdade. Nada impede que o falseamento se converta em objeto de desejo, não tanto como mentira deliberada, mas como "psitacismo" ou fala de papagaio, mera repetição do que se ouve. Isso que neoliberais e adictos de redes sociais confundem com liberdade de expressão.
Não erra quem diz que essa é uma visão acadêmica. De fato, se trata de conhecimento familiar a pesquisadores da era pós-analógica. Comunicação sempre foi encontro simbólico de duas partes, portanto, diálogo radical, e não transmissão unilateral de conteúdos de um polo a outro. Voltada para estruturas político-econômicas e velhas utopias, a esquerda jurássica confundiu comunicação com propaganda, desconhecendo sua função, que hoje atende à lógica das sensações, e não dos argumentos. Perdeu o rumo sob o capitalismo financeiro, com a digitalização dos meios vitais. Não que a direita tenha entendido, mas aproveitou: a ignorância torna-se douta à sombra da arrogância dos pretensos donos da verdade.
Assim, dúvidas razoáveis sobre a nova empreitada. O governo tem alma, mas velha, já sem corpo. Sidônio aperfeiçoaria a informação, tirando ministérios da conveniente letargia, falando para além da bolha. Para isso, uma campanha de mobilização democrática nesse instante de realinhamento ou esfacelamento da direita. Com discurso sincero e boa diplomacia, a verdade se mostraria. Analógica, claro. Os epígonos de Caius Sidonius aplaudiriam.
Mas será que a questão é só de bem comunicar? De apenas evitar falhas como a do Pix? Se for, Sidônio, na Idade Média como na Mídia, o que se exige de uma comunicação sensível para as massas é pão, segurança, circo e uma cara (um foco visível), que o governo não tem. E dificilmente terá enquanto refém emparedado pela máquina parasitária de "unidades orçamentárias" (em vez de representantes do povo) chamada centrão, cuja estratégia é a não comunicação, o silêncio da caverna de Ali-Babá.
IA, redes sociais e o resgate da esfera pública como espaço de diálogo
A previsão de que 30% dos postos de trabalho humano podem ser eliminados pela inteligência artificial até 2027, anunciada por Dario Amodei, CEO da Anthropic, dona da IA Claude e principal concorrente do ChatGPT, durante o Fórum Econômico Mundial de 2025 em Davos ressoa como um marco do impacto avassalador da tecnologia em nossas estruturas sociais e econômicas. Como salientado em Davos por Amodei, sem políticas redistributivas e transformações estruturais, a IA intensificará conflitos sociais, expondo a incapacidade das democracias atuais de lidar com as consequências dessa transição.
Contudo, essa previsão não se limita a uma questão de números ou empregos. Ela denuncia o ápice do que Jürgen Habermas chamou de “colonização do mundo da vida”, isto é, a interligação entre “os sistemas dinheiro e poder” que geram patologias que invadem os âmbitos centrais da reprodução social, cultural e psicológica dos indivíduos socializados, desdobrando-se em crises, resistência e inúmeros tipos de protesto.
Habermas, conhecido como o último iluminista, ao longo de mais de 75 anos de trabalho filosófico, argumenta que a democracia tem origem na esfera pública: espaço de deliberação onde cidadãos, embasados na racionalidade comunicativa do mundo da vida, podem construir consensos sobre “as condições para uma vida digna do homem e para a felicidade socialmente organizada”.
No entanto, as grandes corporações tecnológicas, as chamadas big techs, não apenas controlam os fluxos informacionais por meio de algoritmos opacos, mas também sequestram a essência da esfera pública ao assumirem o vácuo deixado pelas antigas mídias e pelos próprios governos. Para Habermas, “a comunicação digitalizada não promove deliberação crítica e reflexiva; ela apenas reforça opiniões ideologicamente convincentes entre os membros de seu próprio público fragmentado”. Como resultado, “fake news não podem mais ser identificadas como tais da perspectiva dos participantes”, perdendo-se a capacidade de deliberação e consenso sob uma base comum de entendimentos, fundamentos da democracia.
Paulo Feldmann, professor da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP, destaca que essas empresas possuem um valor de mercado que supera o PIB da América Latina, o que lhes confere um poder desmesurado sobre economias e democracias globais. Para o economista vencedor do Nobel Joseph Stiglitz, esse poder desproporcional das big techs transforma a autonomia estatal em uma ilusão ao mesmo tempo em que distorce processos democráticos.
Ao promoverem a “plataformização da esfera pública”, as big techs moldam comportamentos, reforçam bolhas informacionais e amplificam polarizações, “criando circuitos de comunicação isolados, nos quais grupos reforçam suas próprias crenças de forma dogmática e rejeitam ideias divergentes”. Nesse contexto, fake news e teorias da conspiração ganham força nas mídias sociais, enquanto as plataformas atacam a “imprensa mentirosa”, promovendo a desconfiança na mídia tradicional. Esse cenário torna o público mais vulnerável a narrativas populistas e antidemocráticas, colonizando a esfera pública e o espaço crítico e deliberativo.
Como consequência, Habermas destaca que “os sinais de regressão política são visíveis a olho nu”. A exclusão no sistema de poder e a impotência dos cidadãos minam a legitimidade democrática, o que se constata, por exemplo, no aumento de abstenções, transformando a democracia em um rótulo vazio. A apatia e o desengajamento enfraquecem a esfera pública, criando um ciclo em que governos ineficazes alimentam a alienação cidadã e a crise institucional.
Para Habermas, essa incapacidade de reagir às crises democráticas se deve ao “derrotismo político”, que atinge não apenas a classe política e acadêmica, mas também os próprios cidadãos.
Segundo ele, o fracasso coletivo é alimentado pela falsa crença de que sistemas econômicos e tecnológicos são autônomos e incontroláveis. Isso não apenas cria “políticas paralisantes”, mas também faz com que “a população perca a confiança em um governo que apenas simula a capacidade e a disposição de agir”.
Joseph Stiglitz, vencedor do Nobel de Economia, complementa essa visão. Ele argumenta que “o verdadeiro funcionamento democrático depende da mobilização coletiva da sociedade civil para contrabalançar os interesses especiais”. Stiglitz observa que, “enquanto grupos poderosos estão altamente engajados em moldar políticas públicas para seus próprios interesses, o restante da população frequentemente se desengaja, acreditando que sua participação não fará diferença”. É exatamente essa falta de engajamento da maioria que abre caminho para que grupos poderosos dominem e distorçam a democracia.
A superação dessa crise vai além da regulamentação das big techs ou do aumento da transparência algorítmica. Ela exige uma reinvenção do papel do governo como um facilitador da esfera pública e da democracia deliberativa.
Habermas propõe a criação de “canais facilitadores de comunicação”, que transformem o governo em uma rede social deliberativa — um espaço onde a administração pública não apenas gerencie a sociedade, mas também atue como mediadora de diálogos democráticos e consensos coletivos.
Para tanto, é preciso explorar o potencial emancipatório e democrático das sociedades digitalizadas. Isso inclui a difusão de informações, o empoderamento dos cidadãos, a descentralização e a horizontalidade em formas de auto-organização política e mobilização cidadã. Em vez de perpetuar “ruídos selvagens em câmaras de eco fragmentadas e que giram em torno de si mesmas”, devemos restaurar uma sociedade de interesses comuns, e não uma “sociedade de singularidades”.
Três pilares sustentam esse modelo:
Transparência e acessibilidade total: Governos devem adotar tecnologias que permitam aos cidadãos monitorar, influenciar e contribuir diretamente para as decisões administrativas, com dados claros e abertos.
Deliberação inclusiva: A criação de espaços governamentais dedicados ao diálogo contínuo entre cidadãos, instituições e especialistas, rompendo com a racionalidade estratégica tradicional de mercado.
Autonomia cidadã: Uma gestão de dados bottom-up, priorizando as necessidades dos cidadãos por meio de inputs deliberativos e promovendo a educação tecnológica para capacitar a população a avaliar e atuar com base em informações críticas.
Essa transformação não é apenas uma modernização da administração pública, mas uma redefinição de sua essência – e não dos seres humanos. O governo como uma rede social-pública deliberativa seria o oposto das plataformas dominadas pela lógica de mercado. Ele operaria como um ambiente digital que fomenta o diálogo racional comunicativo, a construção coletiva de soluções e a inclusão de perspectivas diversas.
A previsão de Davos sobre a eliminação de 30% dos empregos humanos até 2027 não é apenas um alerta sobre os perigos da racionalidade instrumental, mas também uma oportunidade para repensar profundamente as instituições democráticas.
Transformar o governo em uma rede social deliberativa não é uma utopia inatingível. É uma resposta necessária — e possível — para resgatar a esfera pública como espaço de diálogo, justiça social e inovação democrática. A última chama iluminista nos inspira a construir uma sociedade que transcenda ideologias e partidos, pautada na liberdade, na diversidade de ideias e no pensamento crítico. Uma democracia verdadeiramente coletiva, onde o bem comum seja definido e vivido por todos, como expressão genuína da humanidade.
O desafio de Gaza contra o apagamento
Desde a Nakba, Israel insiste que escreverá a história da terra entre o Rio Jordão e o mar. Mas os palestinos continuam a provar que Israel está errado.
O retorno de um milhão de palestinos do sul de Gaza para o norte em 27 de janeiro pareceu como se a história estivesse coreografando um dos eventos mais devastadores da memória recente.
Centenas de milhares de pessoas marcharam por uma única rua, a costeira Rashid Street, no trecho mais ocidental de Gaza. Embora essas massas deslocadas estivessem isoladas umas das outras em enormes campos de deslocamento no centro de Gaza e na região de Mawasi mais ao sul, elas cantaram as mesmas músicas, entoaram os mesmos cânticos e usaram os mesmos pontos de discussão.
Durante seu deslocamento forçado, eles não tinham eletricidade nem meios de comunicação, muito menos coordenação. Eles eram pessoas comuns, carregando algumas peças de roupa e quaisquer ferramentas de sobrevivência que tinham após o genocídio israelense sem precedentes. Eles seguiram para o norte, para casas que sabiam que provavelmente foram destruídas pelo exército israelense.
Ainda assim, eles permaneceram comprometidos com sua marcha de volta para suas cidades aniquiladas e campos de refugiados. Muitos sorriram, outros cantaram hinos religiosos e alguns recitaram canções e poemas nacionais.
Uma garotinha ofereceu a um repórter um poema que ela compôs. “Eu sou uma garota palestina e tenho orgulho”, sua voz berrava. Ela recitou versos simples, mas emocionais, sobre se identificar como uma “garota palestina forte e resiliente”. Ela falou sobre seu relacionamento com sua família e comunidade como a “filha de heróis, a filha de Gaza”, declarando que os moradores de Gaza “preferem a morte à vergonha”. Seu retorno à sua casa destruída foi um “dia de vitória”.
“Vitória” foi uma palavra repetida por praticamente todos os entrevistados pela mídia e inúmeras vezes nas mídias sociais. Enquanto muitos, incluindo alguns simpáticos à causa palestina, desafiaram abertamente a visão dos habitantes de Gaza sobre sua suposta “vitória”, eles falharam em apreciar a história da Palestina — na verdade, a história de todos os povos colonizados que arrancaram sua liberdade das garras de inimigos estrangeiros e brutais.
“As dificuldades quebram alguns homens, mas fazem outros. Nenhum machado é afiado o suficiente para cortar a alma de (alguém) armado com a esperança de que ele se levantará mesmo no final”, escreveu o icônico líder sul-africano anti-apartheid, Nelson Mandela, em uma carta para sua esposa em 1975 de sua cela na prisão. Suas palavras, escritas no contexto da luta da África do Sul, parecem ter sido escritas para os palestinos, especialmente o mais recente triunfo de Gaza contra o apagamento — tanto físico quanto psicológico.
Para entender isso melhor, examine o que os líderes políticos e militares israelenses disseram sobre o norte de Gaza imediatamente após o início da guerra genocida em 7 de outubro de 2023:
Israel manterá a “responsabilidade geral pela segurança” da Faixa de Gaza “por um período indefinido”, disse o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em uma entrevista à rede ABC News em novembro de 2023.
Um ano depois, o exército israelense reiterou o mesmo sentimento. Em uma declaração, o Brigadeiro General israelense Itzik Cohen disse aos repórteres israelenses que não haveria “retorno” para nenhum residente do norte de Gaza.
O Ministro das Finanças Bezalel Smotrich foi mais longe. “É possível criar uma situação em que a população de Gaza será reduzida à metade do seu tamanho atual em dois anos”, ele disse em 26 de novembro, afirmando que Israel deveria reocupar Gaza e “encorajar” a migração de seus habitantes.
Muitas outras autoridades e especialistas israelenses repetiram a mesma noção como um coro previsível. Grupos de colonos realizaram uma conferência em junho passado para avaliar oportunidades imobiliárias em Gaza. Em suas mentes, eles eram os únicos com uma palavra a dizer sobre o futuro de Gaza. Os palestinos pareciam inconsequentes para a roda da história, controlados, como os poderosos arrogantemente acreditavam, apenas por Tel Aviv.
Mas a massa infinita de pessoas cantava: "Vocês acham que podem se comparar aos livres, se comparar aos palestinos?... Nós morreremos antes de entregar nossa casa; eles nos chamam de lutadores pela liberdade."
Muitos meios de comunicação, incluindo os israelenses, relataram uma sensação de choque em Israel quando a população retornou em massa para uma região totalmente destruída. O choque não termina aí. Israel falhou em ocupar o norte, limpar etnicamente os palestinos de Gaza ou quebrar seu espírito coletivo. Em vez disso, os palestinos emergiram mais fortes, mais determinados e, igualmente assustador para Israel, com um novo objetivo: retornar à Palestina histórica.
Por décadas, Israel investiu em um discurso singular sobre o Direito Palestino de Retorno, reconhecido internacionalmente , às suas casas na Palestina histórica. Quase todos os líderes israelenses ou altos funcionários desde a Nakba de 1948 (a "Catástrofe" resultante da destruição da pátria palestina) ecoaram isso. O ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak resumiu isso em 2000 durante as negociações de Camp David, quando traçou sua "linha de fundo" em qualquer acordo de paz com os palestinos: não haveria direito de retorno para refugiados palestinos.
Como Gaza provou, os palestinos não seguem as indicações de Israel ou mesmo daqueles que alegam representá-los. Enquanto marchavam para o norte, quatro gerações de palestinos caminharam juntas, às vezes de mãos dadas, cantando por liberdade e retorno — não apenas para o norte, mas mais ao norte, para a própria Palestina histórica.
Desde a Nakba, Israel insiste que escreverá a história da terra entre o Rio Jordão e o mar. Mas os palestinos continuam a provar que Israel está errado. Eles sobreviveram em Gaza apesar do genocídio. Eles permaneceram. Eles retornaram. Eles emergiram com uma sensação de vitória. Eles estão escrevendo sua própria história, que, apesar das perdas imensuráveis e inimagináveis, também é uma história de esperança e vitória.
O retorno de um milhão de palestinos do sul de Gaza para o norte em 27 de janeiro pareceu como se a história estivesse coreografando um dos eventos mais devastadores da memória recente.
Centenas de milhares de pessoas marcharam por uma única rua, a costeira Rashid Street, no trecho mais ocidental de Gaza. Embora essas massas deslocadas estivessem isoladas umas das outras em enormes campos de deslocamento no centro de Gaza e na região de Mawasi mais ao sul, elas cantaram as mesmas músicas, entoaram os mesmos cânticos e usaram os mesmos pontos de discussão.
Durante seu deslocamento forçado, eles não tinham eletricidade nem meios de comunicação, muito menos coordenação. Eles eram pessoas comuns, carregando algumas peças de roupa e quaisquer ferramentas de sobrevivência que tinham após o genocídio israelense sem precedentes. Eles seguiram para o norte, para casas que sabiam que provavelmente foram destruídas pelo exército israelense.
Ainda assim, eles permaneceram comprometidos com sua marcha de volta para suas cidades aniquiladas e campos de refugiados. Muitos sorriram, outros cantaram hinos religiosos e alguns recitaram canções e poemas nacionais.
“Vitória” foi uma palavra repetida por praticamente todos os entrevistados pela mídia e inúmeras vezes nas mídias sociais. Enquanto muitos, incluindo alguns simpáticos à causa palestina, desafiaram abertamente a visão dos habitantes de Gaza sobre sua suposta “vitória”, eles falharam em apreciar a história da Palestina — na verdade, a história de todos os povos colonizados que arrancaram sua liberdade das garras de inimigos estrangeiros e brutais.
“As dificuldades quebram alguns homens, mas fazem outros. Nenhum machado é afiado o suficiente para cortar a alma de (alguém) armado com a esperança de que ele se levantará mesmo no final”, escreveu o icônico líder sul-africano anti-apartheid, Nelson Mandela, em uma carta para sua esposa em 1975 de sua cela na prisão. Suas palavras, escritas no contexto da luta da África do Sul, parecem ter sido escritas para os palestinos, especialmente o mais recente triunfo de Gaza contra o apagamento — tanto físico quanto psicológico.
Para entender isso melhor, examine o que os líderes políticos e militares israelenses disseram sobre o norte de Gaza imediatamente após o início da guerra genocida em 7 de outubro de 2023:
Israel manterá a “responsabilidade geral pela segurança” da Faixa de Gaza “por um período indefinido”, disse o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em uma entrevista à rede ABC News em novembro de 2023.
Um ano depois, o exército israelense reiterou o mesmo sentimento. Em uma declaração, o Brigadeiro General israelense Itzik Cohen disse aos repórteres israelenses que não haveria “retorno” para nenhum residente do norte de Gaza.
O Ministro das Finanças Bezalel Smotrich foi mais longe. “É possível criar uma situação em que a população de Gaza será reduzida à metade do seu tamanho atual em dois anos”, ele disse em 26 de novembro, afirmando que Israel deveria reocupar Gaza e “encorajar” a migração de seus habitantes.
Muitas outras autoridades e especialistas israelenses repetiram a mesma noção como um coro previsível. Grupos de colonos realizaram uma conferência em junho passado para avaliar oportunidades imobiliárias em Gaza. Em suas mentes, eles eram os únicos com uma palavra a dizer sobre o futuro de Gaza. Os palestinos pareciam inconsequentes para a roda da história, controlados, como os poderosos arrogantemente acreditavam, apenas por Tel Aviv.
Mas a massa infinita de pessoas cantava: "Vocês acham que podem se comparar aos livres, se comparar aos palestinos?... Nós morreremos antes de entregar nossa casa; eles nos chamam de lutadores pela liberdade."
Muitos meios de comunicação, incluindo os israelenses, relataram uma sensação de choque em Israel quando a população retornou em massa para uma região totalmente destruída. O choque não termina aí. Israel falhou em ocupar o norte, limpar etnicamente os palestinos de Gaza ou quebrar seu espírito coletivo. Em vez disso, os palestinos emergiram mais fortes, mais determinados e, igualmente assustador para Israel, com um novo objetivo: retornar à Palestina histórica.
Por décadas, Israel investiu em um discurso singular sobre o Direito Palestino de Retorno, reconhecido internacionalmente , às suas casas na Palestina histórica. Quase todos os líderes israelenses ou altos funcionários desde a Nakba de 1948 (a "Catástrofe" resultante da destruição da pátria palestina) ecoaram isso. O ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak resumiu isso em 2000 durante as negociações de Camp David, quando traçou sua "linha de fundo" em qualquer acordo de paz com os palestinos: não haveria direito de retorno para refugiados palestinos.
Como Gaza provou, os palestinos não seguem as indicações de Israel ou mesmo daqueles que alegam representá-los. Enquanto marchavam para o norte, quatro gerações de palestinos caminharam juntas, às vezes de mãos dadas, cantando por liberdade e retorno — não apenas para o norte, mas mais ao norte, para a própria Palestina histórica.
Desde a Nakba, Israel insiste que escreverá a história da terra entre o Rio Jordão e o mar. Mas os palestinos continuam a provar que Israel está errado. Eles sobreviveram em Gaza apesar do genocídio. Eles permaneceram. Eles retornaram. Eles emergiram com uma sensação de vitória. Eles estão escrevendo sua própria história, que, apesar das perdas imensuráveis e inimagináveis, também é uma história de esperança e vitória.
A religião e a violência de mãos dadas na produção de políticos extremistas
Algumas décadas atrás, em um passado recente, muitos pensadores apostavam que o mundo seguiria uma trajetória cada vez mais secular, com menos espaço para a religião nos rumos da humanidade. Mas a história, quem diria, testemunhou um plot-twist: na atualidade, as autoridades de países democráticos resgataram símbolos sagrados para fortalecer sua capacidade de exercer a liderança política. Levou um susto quem imaginava que a imagem do “direito divino dos reis” repousava nas páginas dos livros sobre a Idade Média. A ideia ganhou nova roupagem e hoje veste terno e gravata, nas figuras de presidentes ungidos por Deus, como Donaldo Trump e Jair Bolsonaro, vistos por muitos eleitores como representantes da vontade divina na Terra.
A onda conservadora e fundamentalista, no Brasil e no mundo, de alguma maneira, aponta para uma crise preocupante de legitimidade do Estado moderno e democrático. É como se muitos parassem de acreditar em suas promessas civilizatórias e em sua capacidade de manter a ordem no mundo. Para não se perderem, como boia de salvação, eles acabaram se agarrando nas instituições tradicionais, que existem há milênios, como família, mercado, propriedade privada e religião.
A onda conservadora e fundamentalista, no Brasil e no mundo, de alguma maneira, aponta para uma crise preocupante de legitimidade do Estado moderno e democrático. É como se muitos parassem de acreditar em suas promessas civilizatórias e em sua capacidade de manter a ordem no mundo. Para não se perderem, como boia de salvação, eles acabaram se agarrando nas instituições tradicionais, que existem há milênios, como família, mercado, propriedade privada e religião.
A vida em sociedade, assim como um jogo, depende de regras para funcionar. Se não fossem as regras, o jogo e a vida correriam o risco de perderem o sentido, já que seus participantes ficariam desorientados, sem saber sequer seus objetivos e razões para agir. Por isso a fragilização da estrutura normativa de uma sociedade é facilmente associada ao terror. É um dos nossos medos mais profundos. A desordem impede a vida em sociedade porque a esvazia de sentido. Os grandes tiranos costumam se fortalecer quando o caos está à espreita. Eles se vendem como solução para evitar a ameaça, identificam bodes expiatórios a serem dizimados e assim forjam sua autoridade.
Nas cidades brasileiras, o surgimento de justiceiros, grupos de extermínio, esquadrões da morte, milícias, a violência policial e até mesmo das facções, surgiram como forma de lidar com a ameaça de desordem. Receberam apoio popular e nunca deixaram de existir porque são associadas à produção de obediência em uma sociedade sem regras. A violência pode ser vista como positiva desde que voltada para evitar ou interromper o caos, usada como instrumento de produção de ordem. Muitos preferem conviver em um bairro governado pelas regras previsíveis de assassinos brutais do que se sentirem permanentemente ameaçados pela imprevisibilidade dos roubos. Enquanto o assassino mata bodes expiatórios, como os “bandidos”, causando alívio entre os que estão com medo, os roubos são aleatórios e viver sob a ameaça dos ladrões torna a vida insuportável.
A segunda eleição de Trump, a popularidade do bolsonarismo, o aparecimento de políticos brutos em todos os cantos do mundo, e até mesmo a força de Peixão, um traficante-pastor que exerce a autoridade em cinco favelas no Complexo de Israel, no Rio de Janeiro, acontecem porque eles são vistos como fiadores de uma ordem que está desmoronando. Estão dispostos a matar e ir para a guerra para garantir a ordem de seus mundos. É melhor garantir a ordem possível do que viver sem conseguir programar as ações cotidianas mais básicas e não poder sonhar com o futuro.
Diante do ceticismo em relação ao Estado moderno, racional e legal, valores como os dos Direitos Humanos, que depois da Segunda Guerra orientaram a formação dos regimes liberais e democráticos, também caíram em descrédito. Seus defensores são acusados de serem tolerantes e condescendentes com as migrações e com o avanço do crime. Ao lutarem pela garantia dos direitos individuais, facilitam a “contaminação cultural” dos ocidentais por credos radicais e favorecem a ação dos bandidos contra os “cidadãos de bem”. Ganham popularidade, por outro lado, os políticos que defendem o fechamento das fronteiras, a construção de muros e de prisões, com penas cada vez mais longas, para tirar do convívio as pessoas diferentes, consideradas ameaças potenciais à ordem vigente, e até mesmo o extermínio dos mais perigosos.
A ordem bolsonarista resgata no Brasil sobretudo os valores da sociedade patriarcal, que sobreviveu em torno do mercado e das famílias, comandada por homens brutos, na base da fé, do fuzil e do empreendedorismo. Renasce com a crise da política e com a crítica à modernidade. Favorece, assim, atividades como o garimpo, a grilagem de terra, o desmatamento, a jogatina e as milícias, todas associadas ao espírito empreendedor e guerreiro de homens em busca de enriquecer para vencer. Esse empreendedorismo ilegal se beneficia diante das infinitas e irrastreáveis possibilidades financeiras para lavagem do capital do crime. Do outro lado, as regulações ambientais, financeiras, o controle sobre a letalidade policial, o acompanhamento do dinheiro virtual por meio da Receita Federal, entre outras ações esperadas de uma burocracia moderna, são atacadas e demonizadas por sabotarem a disposição desses homens que se sacrificam para vencer. A ordem do mercado, mesmo ilegal, deve ser preservada para garantir os lucros, enquanto a ordem racional do Estado deve ser obstruída.
Já o tráfico de drogas segue como um inimigo consensual, porque comercializa uma mercadoria que todos temem, associada à loucura e à desordem, à fuga do mundo e da vida em sociedade. Desde que diferentes tipos de drogas passaram a ser amplamente consumidas e celebradas pela cultura urbana e hedonista contemporânea, passaram também a ser vistas como atalho para a anomia. Para lidar com o problema, os políticos declararam guerra contra os traficantes, como se pudessem tirar as substâncias das ruas. Em vez disso, promoveram o terror e a desordem nas favelas e nas cidades. Apesar dos efeitos colaterais perversos dessas medidas irracionais, o debate sobre o tema seguiu interditado, tamanho o medo que desperta. E o dinheiro do tráfico começou a financiar outras atividades ilegais e até formais, entrando na economia e na política.
O tema da ordem e da desordem, nesse sentido, é fundamental para compreender os ânimos políticos atuais, assim como o papel da religião e da violência. Muitas vezes, atiça mais a emoção do que a razão. Numa sociedade em transição profunda, em que estão mudando as formas de trabalho, de família e os papéis de gênero, muitos preferem se agarrar à tradição. A modernidade urbana das grandes cidades, a mistura de povos, a tolerância às diversas orientações sexuais, o protagonismo feminino, tudo passa a ser visto como sinônimo da anomia, o que deixa todos apavorados. Alguns grupos passam a ser responsabilizados pelo caos, como os comunistas, ateus e feministas, dando nome e sentido para a luta.
Ficam, contudo, diversas perguntas no ar: como resgatar a credibilidade do Estado moderno e das políticas públicas? Vivemos um retrocesso civilizatório e caminharemos ribanceira abaixo? Como resgatar a capacidade de produzir uma ordem racional e coletiva? Religião produz paz ou violência? Eu não tenho resposta para nenhuma dessas perguntas. Mas para entender a política contemporânea, por mais estranho que possa parecer, temos que voltar aos estudos de religião e de violência.
Bruno Paes Manso
Nas cidades brasileiras, o surgimento de justiceiros, grupos de extermínio, esquadrões da morte, milícias, a violência policial e até mesmo das facções, surgiram como forma de lidar com a ameaça de desordem. Receberam apoio popular e nunca deixaram de existir porque são associadas à produção de obediência em uma sociedade sem regras. A violência pode ser vista como positiva desde que voltada para evitar ou interromper o caos, usada como instrumento de produção de ordem. Muitos preferem conviver em um bairro governado pelas regras previsíveis de assassinos brutais do que se sentirem permanentemente ameaçados pela imprevisibilidade dos roubos. Enquanto o assassino mata bodes expiatórios, como os “bandidos”, causando alívio entre os que estão com medo, os roubos são aleatórios e viver sob a ameaça dos ladrões torna a vida insuportável.
A segunda eleição de Trump, a popularidade do bolsonarismo, o aparecimento de políticos brutos em todos os cantos do mundo, e até mesmo a força de Peixão, um traficante-pastor que exerce a autoridade em cinco favelas no Complexo de Israel, no Rio de Janeiro, acontecem porque eles são vistos como fiadores de uma ordem que está desmoronando. Estão dispostos a matar e ir para a guerra para garantir a ordem de seus mundos. É melhor garantir a ordem possível do que viver sem conseguir programar as ações cotidianas mais básicas e não poder sonhar com o futuro.
Diante do ceticismo em relação ao Estado moderno, racional e legal, valores como os dos Direitos Humanos, que depois da Segunda Guerra orientaram a formação dos regimes liberais e democráticos, também caíram em descrédito. Seus defensores são acusados de serem tolerantes e condescendentes com as migrações e com o avanço do crime. Ao lutarem pela garantia dos direitos individuais, facilitam a “contaminação cultural” dos ocidentais por credos radicais e favorecem a ação dos bandidos contra os “cidadãos de bem”. Ganham popularidade, por outro lado, os políticos que defendem o fechamento das fronteiras, a construção de muros e de prisões, com penas cada vez mais longas, para tirar do convívio as pessoas diferentes, consideradas ameaças potenciais à ordem vigente, e até mesmo o extermínio dos mais perigosos.
A ordem bolsonarista resgata no Brasil sobretudo os valores da sociedade patriarcal, que sobreviveu em torno do mercado e das famílias, comandada por homens brutos, na base da fé, do fuzil e do empreendedorismo. Renasce com a crise da política e com a crítica à modernidade. Favorece, assim, atividades como o garimpo, a grilagem de terra, o desmatamento, a jogatina e as milícias, todas associadas ao espírito empreendedor e guerreiro de homens em busca de enriquecer para vencer. Esse empreendedorismo ilegal se beneficia diante das infinitas e irrastreáveis possibilidades financeiras para lavagem do capital do crime. Do outro lado, as regulações ambientais, financeiras, o controle sobre a letalidade policial, o acompanhamento do dinheiro virtual por meio da Receita Federal, entre outras ações esperadas de uma burocracia moderna, são atacadas e demonizadas por sabotarem a disposição desses homens que se sacrificam para vencer. A ordem do mercado, mesmo ilegal, deve ser preservada para garantir os lucros, enquanto a ordem racional do Estado deve ser obstruída.
Já o tráfico de drogas segue como um inimigo consensual, porque comercializa uma mercadoria que todos temem, associada à loucura e à desordem, à fuga do mundo e da vida em sociedade. Desde que diferentes tipos de drogas passaram a ser amplamente consumidas e celebradas pela cultura urbana e hedonista contemporânea, passaram também a ser vistas como atalho para a anomia. Para lidar com o problema, os políticos declararam guerra contra os traficantes, como se pudessem tirar as substâncias das ruas. Em vez disso, promoveram o terror e a desordem nas favelas e nas cidades. Apesar dos efeitos colaterais perversos dessas medidas irracionais, o debate sobre o tema seguiu interditado, tamanho o medo que desperta. E o dinheiro do tráfico começou a financiar outras atividades ilegais e até formais, entrando na economia e na política.
O tema da ordem e da desordem, nesse sentido, é fundamental para compreender os ânimos políticos atuais, assim como o papel da religião e da violência. Muitas vezes, atiça mais a emoção do que a razão. Numa sociedade em transição profunda, em que estão mudando as formas de trabalho, de família e os papéis de gênero, muitos preferem se agarrar à tradição. A modernidade urbana das grandes cidades, a mistura de povos, a tolerância às diversas orientações sexuais, o protagonismo feminino, tudo passa a ser visto como sinônimo da anomia, o que deixa todos apavorados. Alguns grupos passam a ser responsabilizados pelo caos, como os comunistas, ateus e feministas, dando nome e sentido para a luta.
Ficam, contudo, diversas perguntas no ar: como resgatar a credibilidade do Estado moderno e das políticas públicas? Vivemos um retrocesso civilizatório e caminharemos ribanceira abaixo? Como resgatar a capacidade de produzir uma ordem racional e coletiva? Religião produz paz ou violência? Eu não tenho resposta para nenhuma dessas perguntas. Mas para entender a política contemporânea, por mais estranho que possa parecer, temos que voltar aos estudos de religião e de violência.
Bruno Paes Manso
Líder na transição energética ou nova chance perdida?
A Universidade Johns Hopkins, dos EUA, acaba de publicar um estudo segundo o qual o Brasil poderá ser um dos quatro países do mundo que, em 2050, estarão na liderança da transição tecnológica global necessária para combater o aquecimento global. O primeiro a publicar uma matéria sobre o estudo no Brasil foi o jornal Valor Econômico.
De acordo com o estudo, são sete os setores nos quais o Brasil tem vantagens estratégicas globais que serão decisivas para a transição energética: minerais estratégicos, produção de baterias, veículos elétricos híbridos (que também usam biocombustíveis), combustíveis sustentáveis de aviação (conhecidos pela sigla SAF), fabricação de turbinas eólicas e produção de produtos verdes, como aço de baixo carbono e fertilizantes de baixo carbono.
As grandes diferenças entre o Brasil e os muitos outros países em condições semelhantes no Oriente Médio, África ou Ásia são o grande mercado interno e a base industrial já existente – por exemplo na comparação com outras grandes economias, como a Índia.
A questão é se o Brasil vai aproveitar essa chance.
Porque, em primeiro lugar, o vento global está soprando contra qualquer iniciativa de adaptação à mudança climática. O governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, considera a mudança climática uma besteira, e retirou a maior economia do mundo de todos os compromissos voluntários de proteção climática.
Partes da economia americana, como alguns bancos e empresas, já seguiram o exemplo e abandonaram as regras da governança ambiental, social e corporativa (ESG), como são chamados os padrões, regras e práticas que obrigam uma empresa a operar de forma socialmente responsável e sustentável.
No Brasil, é improvável que as coisas sejam diferentes se houver um governo conservador de direita a partir de 2027.
E também o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não segue um conceito claro de sustentabilidade: em vez de se concentrar totalmente na expansão da cadeia de valor de baterias, desde a mineração das terras raras até a produção de cátodos para baterias, por exemplo, Lula quer agora permitir que a Petrobras produza petróleo no litoral norte do Brasil. Em tempos do "Drill, baby, drill!" de Trump, é provável que as críticas internacionais sejam bem menores.
Provavelmente vai acontecer o que sempre acontece no caso do Brasil: o país não usará suas vantagens e vai desperdiçar mais uma chance. Vai produzir um pouco de energia verde, integrar um pouco de energia sustentável em sua cadeia de valor, mas, ao mesmo tempo, produzir petróleo, operar usinas térmicas e investir numa refinaria para produtos petroquímicos – tudo, claro, a elevados custos, devido à má administração, corrupção e interesses políticos.
"Desenvolvemos nossa indústria tardiamente, perdemos em grande parte a revolução da TI – todas as vezes, o cavalo encilhado passou por nós a galope", comentou comigo, anos atrás, o bioquímico e gestor de fundos Fernando Reinach. Estávamos falando então sobre a posição de liderança global do Brasil em energias renováveis. Embora o Brasil não tenha perdido essa posição de liderança, ele ainda não alcançou de fato todo o seu potencial.
Essa história pode se repetir na transição energética para a mudança climática.
De acordo com o estudo, são sete os setores nos quais o Brasil tem vantagens estratégicas globais que serão decisivas para a transição energética: minerais estratégicos, produção de baterias, veículos elétricos híbridos (que também usam biocombustíveis), combustíveis sustentáveis de aviação (conhecidos pela sigla SAF), fabricação de turbinas eólicas e produção de produtos verdes, como aço de baixo carbono e fertilizantes de baixo carbono.
As grandes diferenças entre o Brasil e os muitos outros países em condições semelhantes no Oriente Médio, África ou Ásia são o grande mercado interno e a base industrial já existente – por exemplo na comparação com outras grandes economias, como a Índia.
A questão é se o Brasil vai aproveitar essa chance.
Porque, em primeiro lugar, o vento global está soprando contra qualquer iniciativa de adaptação à mudança climática. O governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, considera a mudança climática uma besteira, e retirou a maior economia do mundo de todos os compromissos voluntários de proteção climática.
Partes da economia americana, como alguns bancos e empresas, já seguiram o exemplo e abandonaram as regras da governança ambiental, social e corporativa (ESG), como são chamados os padrões, regras e práticas que obrigam uma empresa a operar de forma socialmente responsável e sustentável.
No Brasil, é improvável que as coisas sejam diferentes se houver um governo conservador de direita a partir de 2027.
E também o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não segue um conceito claro de sustentabilidade: em vez de se concentrar totalmente na expansão da cadeia de valor de baterias, desde a mineração das terras raras até a produção de cátodos para baterias, por exemplo, Lula quer agora permitir que a Petrobras produza petróleo no litoral norte do Brasil. Em tempos do "Drill, baby, drill!" de Trump, é provável que as críticas internacionais sejam bem menores.
Provavelmente vai acontecer o que sempre acontece no caso do Brasil: o país não usará suas vantagens e vai desperdiçar mais uma chance. Vai produzir um pouco de energia verde, integrar um pouco de energia sustentável em sua cadeia de valor, mas, ao mesmo tempo, produzir petróleo, operar usinas térmicas e investir numa refinaria para produtos petroquímicos – tudo, claro, a elevados custos, devido à má administração, corrupção e interesses políticos.
"Desenvolvemos nossa indústria tardiamente, perdemos em grande parte a revolução da TI – todas as vezes, o cavalo encilhado passou por nós a galope", comentou comigo, anos atrás, o bioquímico e gestor de fundos Fernando Reinach. Estávamos falando então sobre a posição de liderança global do Brasil em energias renováveis. Embora o Brasil não tenha perdido essa posição de liderança, ele ainda não alcançou de fato todo o seu potencial.
Essa história pode se repetir na transição energética para a mudança climática.
Assinar:
Comentários (Atom)