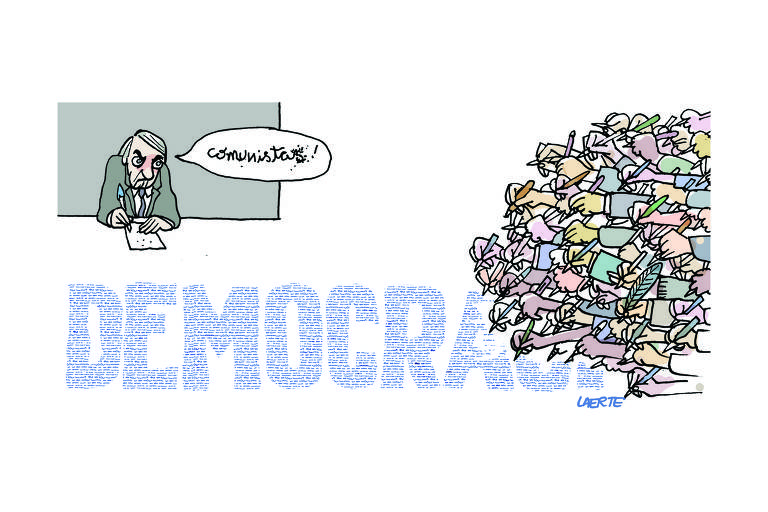quinta-feira, 3 de abril de 2025
O martírio da universidade brasileira começa lá
O fato de maior peso para o futuro da universidade pública brasileira não acontece no Brasil. Acontece lá fora. Acontece na Casa Branca, em Washington, epicentro de um tsunami radioativo que se alastra pelos campi de Columbia, em Nova York, de Tufts, em Boston, e de Yale, em New Haven. Leio numa reportagem de Jamil Chade, publicada no UOL, que o Departamento de Educação de Trump investiga 45 das mais respeitáveis instituições de ensino superior nos Estados Unidos, incluindo a Universidade de Kansas, a de Utah e a de Cornell.
Nas adjacências do Golfo do México – nome que está ameaçado de extinção – muitas bibliotecas escolares já convivem com a censura. Trata-se de uma caçada. As autoridades alegam que perseguem agentes do antissemitismo, sem apresentar provas circunstanciadas. Falam também que combatem o racismo – contra brancos. Em sua mira, entra tudo aquilo que desafine da doutrina obtusa do trumpismo. É uma nuvem de gafanhotos de silício que começou a devorar a liberdade acadêmica.
Começou também a prender pessoas. Ilegalmente. Mahmoud Khalil e Rumeysa Ozturk estão encarcerados em desobediência frontal a determinações judiciais. Estudiosos estrangeiros que vivem lá se veem ameaçados de expulsão. Estudantes são vigiados. A delação entre colegas é incentivada ou mesmo imposta. Desde que o macarthismo se abateu sobre milhares de professores nos anos 1940 e 1950 não se via nada parecido na terra de Bob Dylan, Martin Luther King, Jimmy Carter, Andy Warhol, Kamala Harris e Timothy Leary. Chuva corrosiva. Fuligem no céu. Trevas sob o sol a pino.
Donald Trump banca o Torquemada estulto. Armado de seu lança-chamas moral, incinera as cátedras que ainda respiram. Columbia sofreu um corte de US$ 400 milhões do orçamento que deveria receber do governo federal. Parte disso seria destinada ao combate contra a aids. Os golpes financeiros e políticos levaram a instituição a uma espécie de nocaute, a um estado de letargia que é até difícil de entender. Na semana passada, Columbia anunciou a demissão de sua presidente (reitora), Katrina Armstrong, que ficou apenas uns meses na função. Outras escolas se apressam em retirar dos seus currículos e de seus programas termos que façam referência a diversidade sexual ou estudos da democracia. O índex de vetos é pormenorizado e humilhante. A rendição já vem dando seus sinais.
E o que é que isso tem a ver com a universidade pública no nosso país? Ora, tudo. Absolutamente tudo. Tudo e mais um pouco. A sanha repressora que se levantou a partir do Salão Oval tem conexões íntimas, ou mesmo promíscuas, com facções da extrema direita antidemocrática de diversos países, o Brasil incluído.
Para essas forças, o paraíso se efetiva na tirania e no brilho opaco dos olhos dos fanáticos. Sua estratégia é desmontar a autonomia dos ambientes acadêmicos e lobotomizar os cérebros. Você viu Jack Nicholson em O Estranho no Ninho? Pois é isso. O que acontece nos Estados Unidos, hoje, é o ensaio geral do que vem sendo preparado para os tristes trópicos. Na primeira oportunidade, as tropas vão se pôr em movimento e virão para cima, com seu ódio ressentido.
Em seu primeiro mandato, entre 2017 e 2020, Donald Trump enfrentou resistências nas melhores escolas de sua nação. Lee Bollinger, um renomado especialista em liberdade de expressão, que presidiu Columbia de 2002 a 2023, expressou mais de uma vez seu descontentamento com as rosnadas do republicano. Agora, Trump, além de latir, começa a morder. Sangue nos olhos. O inquisidor do século 21 redobrou a carga e promoveu a uma “ocupação autoritária” (“authoritarian takeover”), para usar aqui as palavras do próprio Bollinger, segundo reportou o Guardian, em reportagem publicada em 20 de março. Bollinger não está mais à frente de Columbia, infelizmente. Trump está de volta à Casa Branca, mais infelizmente ainda.
O improvável leitor que não duvide: o que não falta hoje, seja no Congresso Nacional, seja no Palácio dos Bandeirantes, é gente engravatada que mal vê a hora de copiar o “authoritarian takeover”. Cada uma de nossas universidades será brindada com uma blitzkrieg taylormade. Na USP o bote virá de um jeito, digamos, personalizado. Na Unicamp, de outro. A Unesp terá seu próprio roteiro. Assaltos parecidos virão nas federais.
A gente já viu esse filme antes. A gente já viu como termina. A gente parece que esqueceu. Agora, estamos vendo o mesmo filme começar de novo, como se fosse uma atração inédita. Nos Estados Unidos, onde a elite financeira e tecnológica cerrou fileiras com o poder estatal, num pacto de viés antidemocrático, podemos ver o trailer.
A nossa universidade precisa se preparar e reforçar suas alianças com suas irmãs do norte. O espírito universitário, no mundo todo, só sobrevive e se expande quando sabe que é um só. A arte, a Filosofia e a ciência, que tecem as melhores universidades do mundo, não têm fronteiras. Isso vale para as horas das grandes conquistas e para as horas, como esta, em que temos de nos defender.
Nas adjacências do Golfo do México – nome que está ameaçado de extinção – muitas bibliotecas escolares já convivem com a censura. Trata-se de uma caçada. As autoridades alegam que perseguem agentes do antissemitismo, sem apresentar provas circunstanciadas. Falam também que combatem o racismo – contra brancos. Em sua mira, entra tudo aquilo que desafine da doutrina obtusa do trumpismo. É uma nuvem de gafanhotos de silício que começou a devorar a liberdade acadêmica.
Começou também a prender pessoas. Ilegalmente. Mahmoud Khalil e Rumeysa Ozturk estão encarcerados em desobediência frontal a determinações judiciais. Estudiosos estrangeiros que vivem lá se veem ameaçados de expulsão. Estudantes são vigiados. A delação entre colegas é incentivada ou mesmo imposta. Desde que o macarthismo se abateu sobre milhares de professores nos anos 1940 e 1950 não se via nada parecido na terra de Bob Dylan, Martin Luther King, Jimmy Carter, Andy Warhol, Kamala Harris e Timothy Leary. Chuva corrosiva. Fuligem no céu. Trevas sob o sol a pino.
Donald Trump banca o Torquemada estulto. Armado de seu lança-chamas moral, incinera as cátedras que ainda respiram. Columbia sofreu um corte de US$ 400 milhões do orçamento que deveria receber do governo federal. Parte disso seria destinada ao combate contra a aids. Os golpes financeiros e políticos levaram a instituição a uma espécie de nocaute, a um estado de letargia que é até difícil de entender. Na semana passada, Columbia anunciou a demissão de sua presidente (reitora), Katrina Armstrong, que ficou apenas uns meses na função. Outras escolas se apressam em retirar dos seus currículos e de seus programas termos que façam referência a diversidade sexual ou estudos da democracia. O índex de vetos é pormenorizado e humilhante. A rendição já vem dando seus sinais.
E o que é que isso tem a ver com a universidade pública no nosso país? Ora, tudo. Absolutamente tudo. Tudo e mais um pouco. A sanha repressora que se levantou a partir do Salão Oval tem conexões íntimas, ou mesmo promíscuas, com facções da extrema direita antidemocrática de diversos países, o Brasil incluído.
Para essas forças, o paraíso se efetiva na tirania e no brilho opaco dos olhos dos fanáticos. Sua estratégia é desmontar a autonomia dos ambientes acadêmicos e lobotomizar os cérebros. Você viu Jack Nicholson em O Estranho no Ninho? Pois é isso. O que acontece nos Estados Unidos, hoje, é o ensaio geral do que vem sendo preparado para os tristes trópicos. Na primeira oportunidade, as tropas vão se pôr em movimento e virão para cima, com seu ódio ressentido.
Em seu primeiro mandato, entre 2017 e 2020, Donald Trump enfrentou resistências nas melhores escolas de sua nação. Lee Bollinger, um renomado especialista em liberdade de expressão, que presidiu Columbia de 2002 a 2023, expressou mais de uma vez seu descontentamento com as rosnadas do republicano. Agora, Trump, além de latir, começa a morder. Sangue nos olhos. O inquisidor do século 21 redobrou a carga e promoveu a uma “ocupação autoritária” (“authoritarian takeover”), para usar aqui as palavras do próprio Bollinger, segundo reportou o Guardian, em reportagem publicada em 20 de março. Bollinger não está mais à frente de Columbia, infelizmente. Trump está de volta à Casa Branca, mais infelizmente ainda.
O improvável leitor que não duvide: o que não falta hoje, seja no Congresso Nacional, seja no Palácio dos Bandeirantes, é gente engravatada que mal vê a hora de copiar o “authoritarian takeover”. Cada uma de nossas universidades será brindada com uma blitzkrieg taylormade. Na USP o bote virá de um jeito, digamos, personalizado. Na Unicamp, de outro. A Unesp terá seu próprio roteiro. Assaltos parecidos virão nas federais.
A gente já viu esse filme antes. A gente já viu como termina. A gente parece que esqueceu. Agora, estamos vendo o mesmo filme começar de novo, como se fosse uma atração inédita. Nos Estados Unidos, onde a elite financeira e tecnológica cerrou fileiras com o poder estatal, num pacto de viés antidemocrático, podemos ver o trailer.
A nossa universidade precisa se preparar e reforçar suas alianças com suas irmãs do norte. O espírito universitário, no mundo todo, só sobrevive e se expande quando sabe que é um só. A arte, a Filosofia e a ciência, que tecem as melhores universidades do mundo, não têm fronteiras. Isso vale para as horas das grandes conquistas e para as horas, como esta, em que temos de nos defender.
Mais um gol contra do clã Bolsonaro. Nada de estranho
Como reagiria o Brasil ao tarifaço de Trump caso o presidente da República ainda fosse Jair Bolsonaro, reeleito em 2022 depois de derrotar Lula? Bolsonaro, e mais ninguém, tem a resposta.
E ele a ofereceu anteontem ao participar de mais um podcast que aplaude suas ideias. Na véspera do anúncio do tarifaço, que afetará setores estratégicos das exportações brasileiras, ele disse:
“A guerra comercial com os Estados Unidos não é uma estratégia inteligente que proteja os interesses do povo brasileiro. A única resposta razoável às tarifas recíprocas dos EUA é que o governo Lula abandone a mentalidade socialista que impõe altas tarifas aos produtos americanos, impedindo que os brasileiros tenham acesso a produtos de qualidade a preços mais baixos”.
Patriota de mentira procede assim. A qualquer hora, ou em hora particularmente delicada, ele tira a máscara e mostra de que lado está ou sempre esteve. Joga contra seu próprio país.
Como se o presidente americano estivesse de fato preocupado com a sorte de Bolsonaro. Para Trump, Bolsonaro não passa de uma caricatura tropical dele mesmo. Acha-o tão somente engraçado.
Nas últimas 48 horas, o Senado, por 70 votos a zero, aprovou o projeto de lei que permite ao Brasil retaliar o tarifaço de Trump. A Câmara dos Deputados também o aprovou por larga maioria.
A relatora do projeto foi a senadora Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, ligada ao agronegócio. Pela primeira vez, direita e esquerda marcharam unidas.
Eduardo Bolsonaro, (PL-SP), deputado licenciado para cuidar da própria vida nos Estados Unidos, e da vida do pai junto a Trump, partiu para cima da senadora. Escreveu nas redes sociais:
“Gostaria de fazer considerações sobre o projeto de lei da senadora Tereza Cristina […] Essa guerra não é nossa, não vamos defender a mentalidade tributária socialista, sob a falsa bandeira da proteção da indústria nacional, para manter essa imensa e pesada carga tributária, que esmaga o poder de compra do brasileiro e nos leva a ter uma péssima qualidade de vida. Tributação é a distribuição criminosa da miséria”.
Quem puxa aos seus não degenera. Dos filhos de Bolsonaro, Eduardo é o que mais puxou ao pai. Vai fritar hambúrguer, Eduardo!
E ele a ofereceu anteontem ao participar de mais um podcast que aplaude suas ideias. Na véspera do anúncio do tarifaço, que afetará setores estratégicos das exportações brasileiras, ele disse:
“A guerra comercial com os Estados Unidos não é uma estratégia inteligente que proteja os interesses do povo brasileiro. A única resposta razoável às tarifas recíprocas dos EUA é que o governo Lula abandone a mentalidade socialista que impõe altas tarifas aos produtos americanos, impedindo que os brasileiros tenham acesso a produtos de qualidade a preços mais baixos”.
Patriota de mentira procede assim. A qualquer hora, ou em hora particularmente delicada, ele tira a máscara e mostra de que lado está ou sempre esteve. Joga contra seu próprio país.
Dir-se-á – e seus fanáticos seguidores logo dirão -, que Bolsonaro quis apenas fazer mais um aceno a Trump porque necessita do seu apoio para não ser condenado e preso.
Como se o presidente americano estivesse de fato preocupado com a sorte de Bolsonaro. Para Trump, Bolsonaro não passa de uma caricatura tropical dele mesmo. Acha-o tão somente engraçado.
Nas últimas 48 horas, o Senado, por 70 votos a zero, aprovou o projeto de lei que permite ao Brasil retaliar o tarifaço de Trump. A Câmara dos Deputados também o aprovou por larga maioria.
A relatora do projeto foi a senadora Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, ligada ao agronegócio. Pela primeira vez, direita e esquerda marcharam unidas.
Eduardo Bolsonaro, (PL-SP), deputado licenciado para cuidar da própria vida nos Estados Unidos, e da vida do pai junto a Trump, partiu para cima da senadora. Escreveu nas redes sociais:
“Gostaria de fazer considerações sobre o projeto de lei da senadora Tereza Cristina […] Essa guerra não é nossa, não vamos defender a mentalidade tributária socialista, sob a falsa bandeira da proteção da indústria nacional, para manter essa imensa e pesada carga tributária, que esmaga o poder de compra do brasileiro e nos leva a ter uma péssima qualidade de vida. Tributação é a distribuição criminosa da miséria”.
Quem puxa aos seus não degenera. Dos filhos de Bolsonaro, Eduardo é o que mais puxou ao pai. Vai fritar hambúrguer, Eduardo!
O crime contra a democracia não pode compensar
Uma das características mais marcantes da extrema direita é a clareza com que defende que a punição severa e exemplar de qualquer comportamento desviante ou ilícito é o modo mais eficaz de manter a sociedade na linha. Um bom punitivista desdenha de quem busca compreender as causas sociais do comportamento e desconfia de garantias legais, como o devido processo, a presunção de inocência e o direito de defesa. Tudo isso —dirá— é parte da cultura de complacência progressista que mantém alta a criminalidade, a desordem e o desrespeito à lei no país.
Não tenho dúvida de que a abordagem punitivista do crime —muito mais próxima da percepção e do desejo da maioria dos brasileiros do que a exaurida perspectiva da esquerda— é uma das razões do sucesso popular do bolsonarismo.
Bolsonaro é a favor da pena de morte e da antecipação da maioridade penal, justifica a brutalidade policial, é contra audiências de custódia, progressão de penas e saídas temporárias e não dá a mínima para a superlotação carcerária ou para os direitos humanos de presos. Boa parte da população brasileira o acompanha.
Na base dessa posição está uma aplicação simplificada da teoria econômica do crime, proposta por Gary Becker, Prêmio Nobel de Economia, que em 1968 formulou a hipótese de que os criminosos agem com base em cálculos de custo-benefício. O indivíduo avalia a viabilidade de cometer um delito considerando três variáveis fundamentais: o risco de ser descoberto, a probabilidade real de punição e a severidade da pena em caso de condenação.
Se os riscos de ser descoberto são baixos —por falta de vigilância, insuficiência institucional ou cumplicidade interna—, o crime compensa, pois é provável que se escape ileso. Se, mesmo após a descoberta, a punição for improvável —por motivos políticos ou lentidão judicial—, a sensação de que vale a pena persiste. Por fim, se mesmo após ser descoberto e punido as penalidades forem brandas ou facilmente reversíveis, o benefício potencial da ação ilegal será percebido como ainda superior aos riscos envolvidos.
Pois bem, essa mesma teoria econômica do comportamento aplica-se com ainda mais precisão ao julgamento de Bolsonaro e dos bolsonaristas envolvidos na tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito e na conspiração golpista.
Ser tolerante com a violência política, o golpismo e os ataques às instituições democráticas é o mesmo que reduzir o custo de futuros atentados. E, como ensinou Becker, quando o custo é baixo, o crime se repete.
Ao longo da história, qualquer pessoa que se junta a outras para derrubar um regime sabe, de antemão, que se fracassar o preço será altíssimo. Se, mais adiante, alguém tiver sucesso na empreitada, os punidos serão considerados mártires e o golpe será chamado de revolução; mas, enquanto isso, fuzilamento, evisceração, forca, esquartejamento e prisões perpétuas são o preço cobrado por qualquer regime que resista ao ataque.
Na democracia, os golpistas ao menos têm direito ao devido processo —e já não se paga com sangue e vida, o que é muito mais do que eles ofereceriam aos seus inimigos se tivessem tido êxito. Mas nem mesmo a democracia sobrevive se não cobra um alto preço de quem tenta derrubar governos legítimos ou permanecer no poder à força.
O Brasil viveu várias experiências traumáticas com regimes autoritários e golpes militares ao longo de sua história, o que torna a democracia liberal, entre nós, sempre uma conquista provisória e sob risco. Nesse cenário, se não houver vigilância, investigação e punição de atos contra o Estado democrático de Direito emite-se a mensagem —aos oportunistas de sempre— de que o crime contra a democracia é um ato de baixo risco e que, portanto, compensa.
Por essa razão, todos precisam ser julgados e severamente punidos —inclusive Bolsonaro. Isso não é desejo de vingança, mas uma necessidade estratégica: elevar drasticamente o custo percebido de futuros atentados semelhantes. É fundamental que ninguém acredite poder escapar às consequências de atentar contra o regime democrático.
Aplique-se aos golpistas a mesma lógica do bolsonarismo, que diz: "Se não houver punição firme, o crime compensará". Permitir a impunidade ou minimizar a gravidade dos crimes contra a democracia significa tornar esses atos politicamente lucrativos, encorajar novos ataques e fragilizar permanentemente o sistema democrático.
Não há democracia sustentável sem que os riscos para seus inimigos sejam claros, certos e rigorosamente aplicados.
Não tenho dúvida de que a abordagem punitivista do crime —muito mais próxima da percepção e do desejo da maioria dos brasileiros do que a exaurida perspectiva da esquerda— é uma das razões do sucesso popular do bolsonarismo.
Bolsonaro é a favor da pena de morte e da antecipação da maioridade penal, justifica a brutalidade policial, é contra audiências de custódia, progressão de penas e saídas temporárias e não dá a mínima para a superlotação carcerária ou para os direitos humanos de presos. Boa parte da população brasileira o acompanha.
Na base dessa posição está uma aplicação simplificada da teoria econômica do crime, proposta por Gary Becker, Prêmio Nobel de Economia, que em 1968 formulou a hipótese de que os criminosos agem com base em cálculos de custo-benefício. O indivíduo avalia a viabilidade de cometer um delito considerando três variáveis fundamentais: o risco de ser descoberto, a probabilidade real de punição e a severidade da pena em caso de condenação.
Se os riscos de ser descoberto são baixos —por falta de vigilância, insuficiência institucional ou cumplicidade interna—, o crime compensa, pois é provável que se escape ileso. Se, mesmo após a descoberta, a punição for improvável —por motivos políticos ou lentidão judicial—, a sensação de que vale a pena persiste. Por fim, se mesmo após ser descoberto e punido as penalidades forem brandas ou facilmente reversíveis, o benefício potencial da ação ilegal será percebido como ainda superior aos riscos envolvidos.
Pois bem, essa mesma teoria econômica do comportamento aplica-se com ainda mais precisão ao julgamento de Bolsonaro e dos bolsonaristas envolvidos na tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito e na conspiração golpista.
Ser tolerante com a violência política, o golpismo e os ataques às instituições democráticas é o mesmo que reduzir o custo de futuros atentados. E, como ensinou Becker, quando o custo é baixo, o crime se repete.
Ao longo da história, qualquer pessoa que se junta a outras para derrubar um regime sabe, de antemão, que se fracassar o preço será altíssimo. Se, mais adiante, alguém tiver sucesso na empreitada, os punidos serão considerados mártires e o golpe será chamado de revolução; mas, enquanto isso, fuzilamento, evisceração, forca, esquartejamento e prisões perpétuas são o preço cobrado por qualquer regime que resista ao ataque.
Na democracia, os golpistas ao menos têm direito ao devido processo —e já não se paga com sangue e vida, o que é muito mais do que eles ofereceriam aos seus inimigos se tivessem tido êxito. Mas nem mesmo a democracia sobrevive se não cobra um alto preço de quem tenta derrubar governos legítimos ou permanecer no poder à força.
O Brasil viveu várias experiências traumáticas com regimes autoritários e golpes militares ao longo de sua história, o que torna a democracia liberal, entre nós, sempre uma conquista provisória e sob risco. Nesse cenário, se não houver vigilância, investigação e punição de atos contra o Estado democrático de Direito emite-se a mensagem —aos oportunistas de sempre— de que o crime contra a democracia é um ato de baixo risco e que, portanto, compensa.
Por essa razão, todos precisam ser julgados e severamente punidos —inclusive Bolsonaro. Isso não é desejo de vingança, mas uma necessidade estratégica: elevar drasticamente o custo percebido de futuros atentados semelhantes. É fundamental que ninguém acredite poder escapar às consequências de atentar contra o regime democrático.
Aplique-se aos golpistas a mesma lógica do bolsonarismo, que diz: "Se não houver punição firme, o crime compensará". Permitir a impunidade ou minimizar a gravidade dos crimes contra a democracia significa tornar esses atos politicamente lucrativos, encorajar novos ataques e fragilizar permanentemente o sistema democrático.
Não há democracia sustentável sem que os riscos para seus inimigos sejam claros, certos e rigorosamente aplicados.
Freud com Hitler
Acabo de voltar de uma viagem à Alemanha, em que experimentei o famoso Turismo Nazi. Visitei o local em Nurembergue, onde Hitler fazia seus comícios diante de multidões inflamadas. Também estive no Centro de Concentração de Dachau, ainda mais impressionante. A preservação desses lugares de memória demonstra um esforço da Alemanha para não repetir os erros do passado. Mas a crescente popularidade do partido Alternative für Deutschland (Alternativa para a Alemanha, AfD), de inspiração nazi, preocupa os alemães progressistas, que se perguntam se esse esforço terá sido em vão.
Enquanto as testemunhas da II Guerra Mundial se tornam anciãs e escassas, muitos jovens enxergam nas pautas da extrema-direita a solução para a crise econômica no país. No lugar dos judeus, o bode expiatório são os imigrantes — ambos têm em comum a condição de Outro, percebido como ameaça a ser subtraída.
Hitler ascendeu ao poder pelo voto popular, quando o povo se sentia fragilizado e elegeu o que Freud chamaria de um “Pai forte”. O psicanalista judeu morreu em setembro de 1939, três semanas após o início da II Guerra. Teve seus livros queimados pelos nazis e precisou se exilar na Inglaterra. No livro Psicologia das massas e análise do eu (1921), descreveu o mecanismo inconsciente que leva um sujeito, na massa, a projetar parte do seu Eu sobre a figura de um líder poderoso, capaz de guiá-lo e apaziguar seu desamparo.
Numa massa organizada, o sujeito se identifica com o líder de tal modo que o situa no lugar do seu próprio Ideal — de pensamento, de conduta, etc. Isto explica o alto grau de obediência em que as pessoas se engajam em instituições como a Igreja e o Exército, em que o Líder Supremo não admite questionamento. E este não é um processo exclusivo dos alemães. É um processo humano, que aconteceu e acontecerá em outros contextos.
Em troca da sua servidão voluntária, a massa ganha a fantasia de segurança, pertencimento e irmandade. São todos “filhos” do grande líder. A mesma fantasia contagiou os golpistas que acamparam em Brasília e outras cidades do Brasil, entre 2022 e 2023, defendendo a narrativa de Jair Bolsonaro de que houve fraude na eleição de Lula. Os golpistas estavam irmanados na destruição dos palácios dos Três Poderes e no patriotismo que sempre alimentou os fascismos (apesar de Bolsonaro não esconder sua veneração patética pelos Estados Unidos).
Segundo Freud, tais projeções tendem a ocorrer em qualquer massa organizada em torno de um líder forte. A rigor, nem eu nem você somos seres humanos superiores, livres de cair nessa armadilha. Aliás, a crença na superioridade do “nós” em relação ao “eles” é a essência do supremacismo nazi.
Nenhum de nós está livre do risco de cometer violências em nome de um Ideal que nos capture, inconscientemente, num momento de vulnerabilidade. É preciso atentarmos para esse perigo, para resistirmos a ele democraticamente, num mundo em que a crise parece o estado natural das coisas e as propostas autoritárias se apresentam como o caminho mais fácil.
Enquanto as testemunhas da II Guerra Mundial se tornam anciãs e escassas, muitos jovens enxergam nas pautas da extrema-direita a solução para a crise econômica no país. No lugar dos judeus, o bode expiatório são os imigrantes — ambos têm em comum a condição de Outro, percebido como ameaça a ser subtraída.
Hitler ascendeu ao poder pelo voto popular, quando o povo se sentia fragilizado e elegeu o que Freud chamaria de um “Pai forte”. O psicanalista judeu morreu em setembro de 1939, três semanas após o início da II Guerra. Teve seus livros queimados pelos nazis e precisou se exilar na Inglaterra. No livro Psicologia das massas e análise do eu (1921), descreveu o mecanismo inconsciente que leva um sujeito, na massa, a projetar parte do seu Eu sobre a figura de um líder poderoso, capaz de guiá-lo e apaziguar seu desamparo.
Numa massa organizada, o sujeito se identifica com o líder de tal modo que o situa no lugar do seu próprio Ideal — de pensamento, de conduta, etc. Isto explica o alto grau de obediência em que as pessoas se engajam em instituições como a Igreja e o Exército, em que o Líder Supremo não admite questionamento. E este não é um processo exclusivo dos alemães. É um processo humano, que aconteceu e acontecerá em outros contextos.
Em troca da sua servidão voluntária, a massa ganha a fantasia de segurança, pertencimento e irmandade. São todos “filhos” do grande líder. A mesma fantasia contagiou os golpistas que acamparam em Brasília e outras cidades do Brasil, entre 2022 e 2023, defendendo a narrativa de Jair Bolsonaro de que houve fraude na eleição de Lula. Os golpistas estavam irmanados na destruição dos palácios dos Três Poderes e no patriotismo que sempre alimentou os fascismos (apesar de Bolsonaro não esconder sua veneração patética pelos Estados Unidos).
Segundo Freud, tais projeções tendem a ocorrer em qualquer massa organizada em torno de um líder forte. A rigor, nem eu nem você somos seres humanos superiores, livres de cair nessa armadilha. Aliás, a crença na superioridade do “nós” em relação ao “eles” é a essência do supremacismo nazi.
Nenhum de nós está livre do risco de cometer violências em nome de um Ideal que nos capture, inconscientemente, num momento de vulnerabilidade. É preciso atentarmos para esse perigo, para resistirmos a ele democraticamente, num mundo em que a crise parece o estado natural das coisas e as propostas autoritárias se apresentam como o caminho mais fácil.
'Achava que o livre mercado tinha vindo para ficar, até que Trump apareceu'
Eu me lembro bem de 1974. Com o aumento da inflação, o governo britânico ficou travado em uma batalha contra os sindicatos sobre os salários dos trabalhadores.
O governo parecia paralisado. Se enfrentasse os mineiros, greves poderiam interromper o fornecimento elétrico. Se cedesse e aumentasse os salários, a inflação dispararia.
De repente, surgiu do nada a crise global do petróleo – que lançou as economias de muitos países ao caos, incluindo a do Reino Unido.
O governo britânico decidiu introduzir a semana de três dias. Cortes de energia eram comuns e ficávamos desligados no escuro sem aviso prévio. E, aparentemente, o governo simplesmente esperava que nós aceitássemos aquilo.
Foi também o ano em que comecei a apresentar Panorama – o programa sobre atualidades da BBC. Passamos muito tempo debatendo estas questões e surgiram pessoas com todo tipo de ideias a respeito.
Houve até quem sugerisse que, para retomar o controle dos sindicatos, o que o país realmente precisava era de um golpe de Estado, liderado pelos militares.
Surgiu também outra ideia, proposta pelo político conservador Keith Joseph (1918-1994). Na verdade, era algo tão radical, tão fora dos padrões, que, durante a gravação do Panorama, ele se voltou para a equipe de produção e perguntou, irritado, se eles haviam entendido o que ele queria dizer.
Ou seja, o Reino Unido abandonaria o consenso estabelecido após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) de que o governo deveria controlar a economia.
Em vez disso, se deixássemos os mercados funcionarem sozinhos, eles ofereceriam maior prosperidade e segurança ao país.
Em 2025, esta ideia parece totalmente comum. Esta é exatamente a questão.
O que vimos no Reino Unido dos anos 1980, com a primeira-ministra Margaret Thatcher (1925-2013), foi exatamente a rapidez com que o livre mercado deixou de ser uma ideia radical para se transformar em uma nova realidade. E, pouco tempo depois, muitos acreditaram que o sistema duraria para sempre.
O presidente americano, Donald Trump, é um empresário bilionário que, com certeza, se saiu muito bem financeiramente com o capitalismo. Mas, de repente – e, em parte, graças a ele –, o livre mercado está sendo atacado, como nunca havia sido antes.
O sistema ainda pode sobreviver à tempestade. Mas há quem pergunte: estaria o livre mercado fatalmente ferido e fadado ao fracasso?
As ações de Thatcher após sua vitória nas eleições gerais de 1983, em grande parte, parecem agora muito óbvias.
Ficamos acostumados a ver empresas particulares desempenharem papel central no nosso abastecimento de água, eletricidade, gás, ferrovias, portos e transporte de carga.
Mas, naquela época, poucos acreditavam que seria possível. Parecia um mundo de fantasia, totalmente distante de como tudo vinha sendo feito no pós-guerra.
Eu tinha seis anos de idade quando a guerra terminou.
Havia racionamento – cupons que nos permitiam comprar carne, roupas ou, é claro, doces. Mas, daqueles tempos difíceis e do calor da vitória, surgiu uma nova visão de sociedade no Reino Unido.
A vitória disparada de Clement Attlee (1883-1967) na eleição de julho de 1945 fez com que, pela primeira vez na história política do Reino Unido, a maioria dos eleitores votasse em um partido voltado ostensivamente ao socialismo.
Mas, mais do que isso, surgiu um novo consenso sobre como o país deveria ser governado. Em linhas gerais, o discurso dos líderes dos principais partidos britânicos, Trabalhista e Conservador, era parecido.
"Construímos nossas defesas contra a pobreza e a doença – e temos orgulho disso." A frase não é de um primeiro-ministro trabalhista, mas de Harold Macmillan (1894-1986), primeiro-ministro conservador entre 1957 e 1963. Era assim que tudo era feito na época.
Mas nem todos aceitavam este consenso. O criador de galinhas Antony Fisher (1915-1988) se irritou com o que considerava intromissão do Comitê de Comercialização dos Ovos, um antigo órgão do governo britânico.
Por isso, ele criou o think tank (centro de pesquisa e debates) Instituto de Assuntos Econômicos. Fisher inspirou Keith Joseph que, por sua vez, foi ter com Margaret Thatcher.
O mais irônico sobre o atual ataque ao sistema de livre mercado é que ele vem, em parte, de um presidente americano do Partido Republicano, já que as reformas de Thatcher foram muito populares entre a direita dos Estados Unidos.
Thatcher e o então presidente americano Ronald Reagan (1911-2004) mantinham visões de mundo parecidas. E Trump já falou de sua admiração por ambos, embora com a ressalva de que ele não concorda com algumas das políticas comerciais de Reagan.
Thatcher estava convencida de que seu país ficaria muito melhor se o gás, a água e a energia elétrica fossem retiradas das mãos do Estado e vendidas no mercado aberto – no mercado livre, como se estivéssemos comprando um pãozinho.
A grande ideia do governo Thatcher não era apenas vender as ações das companhias de serviços públicos para grandes empresas ou investidores. O governo iria oferecê-las para o povo do Reino Unido.
Em dezembro de 1984, foram colocadas à venda as ações da British Telecom (BT). E, na manhã seguinte, os números eram impressionantes: mais de dois milhões de britânicos passaram a ser acionistas da empresa.
Thatcher começou então a perceber que vender aquelas empresas não era apenas uma questão de romper as algemas do controle governamental. Poderia fazer parte de algo maior — transformar cada pessoa do Reino Unido em um capitalista e, assim, tornar o capitalismo mais popular.
No final dos anos 1980, a escala de transformação no Reino Unido era impressionante.
A venda das companhias estatais levantou o montante de 60 bilhões de libras (cerca de R$ 442 bilhões, pelo câmbio atual). Até 15 milhões de cidadãos britânicos passaram a ser acionistas.
Foi assim que o Reino Unido abraçou o livre mercado. Não era apenas uma mudança econômica, mas uma revolução cultural — uma redefinição da relação dos britânicos com o dinheiro, com o governo e consigo próprios.
E, depois que a privatização de Thatcher ofereceu às pessoas comuns a possibilidade de comprar ações, suas reformas do setor de serviços financeiros do país em 1986, conhecida como o Big Bang, permitiu que aquelas mesmas pessoas também as vendessem, oferecendo a elas um lugar no até então fechado mundo do mercado financeiro londrino.
Muitos políticos de esquerda acreditavam que o princípio que orientou estas reformas era questionável. Já as críticas ao livre mercado por parte da direita não eram sobre os princípios da reforma, mas sobre suas consequências.
No pensamento de Thatcher, havia a crença central de que o capitalismo de livre mercado só poderia funcionar se muitas pessoas participassem dele. E, com a propriedade das ações dos prestadores de serviços que, antes, eram estatais, foi o que aconteceu.
Mas, pouco tempo depois, começaram a soar os sinais de alarme – que só ficaram cada vez mais altos.
O empresário James Goldsmith (1933-1997) havia feito fortuna comprando empresas em dificuldades a preços baixos. Ele as remodelava para maximizar a eficiência e as vendia com lucro.
Para ele, as reformas dos anos 1980 foram uma dádiva dos céus. Mas, depois, ele pareceu ter mudado de opinião.
Em 1994, Goldsmith declarou a um comitê de senadores americanos que sua premissa continha uma falha mortal: o sistema exigia o máximo de lucro, mas atingir este ponto significava cortar o cordão umbilical com grande parte do seu próprio eleitorado.
"Você tem um sistema no qual, para conseguir os melhores lucros empresariais, você precisa deixar seu próprio país", afirmou ele. "Você precisa dizer para os seus vendedores: 'até logo, não podemos mais manter vocês – vocês são caros demais'."
"Vocês têm sindicatos. Vocês querem férias. Vocês querem proteção. Por isso, estamos indo para o exterior."
Ou seja, Goldsmith previu que as empresas levariam seus negócios para onde elas ganhassem mais dinheiro.
Se você for um CEO (diretor-executivo) comprometido com seus acionistas, esta é literalmente a descrição do seu trabalho. E o resultado, segundo Goldsmith, seria a perda de empregos no Ocidente, com comunidades entrando em colapso.
E, para piorar as coisas, ele defendeu que o Reino Unido havia cedido sua soberania a organizações como a União Europeia e à Organização Mundial do Comércio, restringindo-se a um sistema econômico conduzido por burocratas não eleitos em Bruxelas, na Bélgica (sede da UE). Tudo isso só aumentaria a sensação de alienação verificada nas comunidades que entravam em colapso.
E, com os mercados globais ditando a política, se uma indústria não fosse lucrativa, ela seria simplesmente abandonada até morrer.
Atualmente, o Reino Unido pode ser líder global em ciências e serviços financeiros. Mas será que isso serve de consolo para as comunidades que, um dia, faziam aquilo que hoje é feito no exterior?
A julgar pelo que ouvi frequentemente nos anos que passei viajando pelo país, apresentando o programa de TV Question Time, da BBC, não estou certo de que seja verdade.
Goldsmith acabaria tentando entrar na política. Seu Partido do Referendo levou uma surra nas eleições gerais de 1997, mas deixou uma semente plantada.
Ele defendeu que o caminho para o livre mercado global que o Reino Unido e o resto do mundo estavam percorrendo era perigoso. E que aumentaria as divisões em todo o mundo.
Se avançarmos cerca de 20 anos até 2016, seu alerta se tornou realidade. Os britânicos votaram para sair da União Europeia e o veredito não poderia ser mais claro: o voto a favor do Brexit foi mais alto nas comunidades que ficaram para trás, aparentemente alimentado pelas pessoas que sentiam que a globalização não estava funcionando para elas.
E o sonho de ter uma nação de acionistas de empresas também desandou.
Em 1989, a companhia de abastecimento de água Thames Water foi privatizada. Recebemos a promessa de redução das contas, melhor infraestrutura, menos burocracia e mais investimentos em um sistema desgastado pelas bordas. Era um investimento que o sistema capitalista global supostamente teria mais capacidade de oferecer.
Mas o que se seguiu foi totalmente diferente. As dívidas dispararam e os dividendos foram para os acionistas. A empresa extraía lucros enquanto os canos vazavam e o esgoto era despejado nos rios.
Agora, nossas contas pagam os juros daquelas dívidas. Parece que nos afastamos muito da nação de acionistas de empresas sonhada por Thatcher.
Em 1994, James Goldsmith havia defendido que o problema do sonho do livre mercado era que ele não protegia a base doméstica. Agora, existe alguém muito mais poderoso que concorda com aquela opinião.
Os métodos do presidente Trump são muito erráticos. Com ele, é difícil saber o que está acontecendo.
Sua disposição de lançar tarifas de importação para inimigos tradicionais e supostos amigos, com imensas consequências para os países envolvidos, desafia a nossa compreensão.
O que podemos dizer é que ele está tentando retornar às ideias anteriores ao livre mercado. Ele está tentando fortalecer a América por meio do protecionismo, dificultando para que qualquer pessoa consiga vender para qualquer lugar.
Existe o argumento de que, se você olhar a longo prazo, talvez o período de livre mercado seja a exceção. O próprio Reino Unido atravessou um período muito longo de protecionismo até abraçar o livre mercado.
As tarifas de importação não são nada de novo na história econômica mundial. E, de certa forma, Trump está simplesmente tentando fazer as coisas nos Estados Unidos voltarem a ser como eram antigamente, ainda que de forma bastante caótica.
O reinado do livre mercado enfrenta, agora, seu maior desafio de todos. Mas este desafio não vem dos apoiadores do socialismo – que, ideologicamente, defendem um grande papel para o Estado.
Na verdade, o desafio vem de Trump, que, de forma geral, é de direita e não tem escrúpulos ao ver o capitalismo permitindo que algumas pessoas enriqueçam cada vez mais.
O fato de que estes questionamentos vêm de dentro é o que os torna tão poderosos.
O governo parecia paralisado. Se enfrentasse os mineiros, greves poderiam interromper o fornecimento elétrico. Se cedesse e aumentasse os salários, a inflação dispararia.
De repente, surgiu do nada a crise global do petróleo – que lançou as economias de muitos países ao caos, incluindo a do Reino Unido.
O governo britânico decidiu introduzir a semana de três dias. Cortes de energia eram comuns e ficávamos desligados no escuro sem aviso prévio. E, aparentemente, o governo simplesmente esperava que nós aceitássemos aquilo.
Foi também o ano em que comecei a apresentar Panorama – o programa sobre atualidades da BBC. Passamos muito tempo debatendo estas questões e surgiram pessoas com todo tipo de ideias a respeito.
Houve até quem sugerisse que, para retomar o controle dos sindicatos, o que o país realmente precisava era de um golpe de Estado, liderado pelos militares.
Surgiu também outra ideia, proposta pelo político conservador Keith Joseph (1918-1994). Na verdade, era algo tão radical, tão fora dos padrões, que, durante a gravação do Panorama, ele se voltou para a equipe de produção e perguntou, irritado, se eles haviam entendido o que ele queria dizer.
Ou seja, o Reino Unido abandonaria o consenso estabelecido após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) de que o governo deveria controlar a economia.
Em vez disso, se deixássemos os mercados funcionarem sozinhos, eles ofereceriam maior prosperidade e segurança ao país.
Em 2025, esta ideia parece totalmente comum. Esta é exatamente a questão.
O que vimos no Reino Unido dos anos 1980, com a primeira-ministra Margaret Thatcher (1925-2013), foi exatamente a rapidez com que o livre mercado deixou de ser uma ideia radical para se transformar em uma nova realidade. E, pouco tempo depois, muitos acreditaram que o sistema duraria para sempre.
O presidente americano, Donald Trump, é um empresário bilionário que, com certeza, se saiu muito bem financeiramente com o capitalismo. Mas, de repente – e, em parte, graças a ele –, o livre mercado está sendo atacado, como nunca havia sido antes.
O sistema ainda pode sobreviver à tempestade. Mas há quem pergunte: estaria o livre mercado fatalmente ferido e fadado ao fracasso?
As ações de Thatcher após sua vitória nas eleições gerais de 1983, em grande parte, parecem agora muito óbvias.
Ficamos acostumados a ver empresas particulares desempenharem papel central no nosso abastecimento de água, eletricidade, gás, ferrovias, portos e transporte de carga.
Mas, naquela época, poucos acreditavam que seria possível. Parecia um mundo de fantasia, totalmente distante de como tudo vinha sendo feito no pós-guerra.
Eu tinha seis anos de idade quando a guerra terminou.
Havia racionamento – cupons que nos permitiam comprar carne, roupas ou, é claro, doces. Mas, daqueles tempos difíceis e do calor da vitória, surgiu uma nova visão de sociedade no Reino Unido.
A vitória disparada de Clement Attlee (1883-1967) na eleição de julho de 1945 fez com que, pela primeira vez na história política do Reino Unido, a maioria dos eleitores votasse em um partido voltado ostensivamente ao socialismo.
Mas, mais do que isso, surgiu um novo consenso sobre como o país deveria ser governado. Em linhas gerais, o discurso dos líderes dos principais partidos britânicos, Trabalhista e Conservador, era parecido.
"Construímos nossas defesas contra a pobreza e a doença – e temos orgulho disso." A frase não é de um primeiro-ministro trabalhista, mas de Harold Macmillan (1894-1986), primeiro-ministro conservador entre 1957 e 1963. Era assim que tudo era feito na época.
Mas nem todos aceitavam este consenso. O criador de galinhas Antony Fisher (1915-1988) se irritou com o que considerava intromissão do Comitê de Comercialização dos Ovos, um antigo órgão do governo britânico.
Por isso, ele criou o think tank (centro de pesquisa e debates) Instituto de Assuntos Econômicos. Fisher inspirou Keith Joseph que, por sua vez, foi ter com Margaret Thatcher.
O mais irônico sobre o atual ataque ao sistema de livre mercado é que ele vem, em parte, de um presidente americano do Partido Republicano, já que as reformas de Thatcher foram muito populares entre a direita dos Estados Unidos.
Thatcher e o então presidente americano Ronald Reagan (1911-2004) mantinham visões de mundo parecidas. E Trump já falou de sua admiração por ambos, embora com a ressalva de que ele não concorda com algumas das políticas comerciais de Reagan.
Thatcher estava convencida de que seu país ficaria muito melhor se o gás, a água e a energia elétrica fossem retiradas das mãos do Estado e vendidas no mercado aberto – no mercado livre, como se estivéssemos comprando um pãozinho.
A grande ideia do governo Thatcher não era apenas vender as ações das companhias de serviços públicos para grandes empresas ou investidores. O governo iria oferecê-las para o povo do Reino Unido.
Em dezembro de 1984, foram colocadas à venda as ações da British Telecom (BT). E, na manhã seguinte, os números eram impressionantes: mais de dois milhões de britânicos passaram a ser acionistas da empresa.
Thatcher começou então a perceber que vender aquelas empresas não era apenas uma questão de romper as algemas do controle governamental. Poderia fazer parte de algo maior — transformar cada pessoa do Reino Unido em um capitalista e, assim, tornar o capitalismo mais popular.
No final dos anos 1980, a escala de transformação no Reino Unido era impressionante.
A venda das companhias estatais levantou o montante de 60 bilhões de libras (cerca de R$ 442 bilhões, pelo câmbio atual). Até 15 milhões de cidadãos britânicos passaram a ser acionistas.
Foi assim que o Reino Unido abraçou o livre mercado. Não era apenas uma mudança econômica, mas uma revolução cultural — uma redefinição da relação dos britânicos com o dinheiro, com o governo e consigo próprios.
E, depois que a privatização de Thatcher ofereceu às pessoas comuns a possibilidade de comprar ações, suas reformas do setor de serviços financeiros do país em 1986, conhecida como o Big Bang, permitiu que aquelas mesmas pessoas também as vendessem, oferecendo a elas um lugar no até então fechado mundo do mercado financeiro londrino.
Muitos políticos de esquerda acreditavam que o princípio que orientou estas reformas era questionável. Já as críticas ao livre mercado por parte da direita não eram sobre os princípios da reforma, mas sobre suas consequências.
No pensamento de Thatcher, havia a crença central de que o capitalismo de livre mercado só poderia funcionar se muitas pessoas participassem dele. E, com a propriedade das ações dos prestadores de serviços que, antes, eram estatais, foi o que aconteceu.
Mas, pouco tempo depois, começaram a soar os sinais de alarme – que só ficaram cada vez mais altos.
O empresário James Goldsmith (1933-1997) havia feito fortuna comprando empresas em dificuldades a preços baixos. Ele as remodelava para maximizar a eficiência e as vendia com lucro.
Para ele, as reformas dos anos 1980 foram uma dádiva dos céus. Mas, depois, ele pareceu ter mudado de opinião.
Em 1994, Goldsmith declarou a um comitê de senadores americanos que sua premissa continha uma falha mortal: o sistema exigia o máximo de lucro, mas atingir este ponto significava cortar o cordão umbilical com grande parte do seu próprio eleitorado.
"Você tem um sistema no qual, para conseguir os melhores lucros empresariais, você precisa deixar seu próprio país", afirmou ele. "Você precisa dizer para os seus vendedores: 'até logo, não podemos mais manter vocês – vocês são caros demais'."
"Vocês têm sindicatos. Vocês querem férias. Vocês querem proteção. Por isso, estamos indo para o exterior."
Ou seja, Goldsmith previu que as empresas levariam seus negócios para onde elas ganhassem mais dinheiro.
Se você for um CEO (diretor-executivo) comprometido com seus acionistas, esta é literalmente a descrição do seu trabalho. E o resultado, segundo Goldsmith, seria a perda de empregos no Ocidente, com comunidades entrando em colapso.
E, para piorar as coisas, ele defendeu que o Reino Unido havia cedido sua soberania a organizações como a União Europeia e à Organização Mundial do Comércio, restringindo-se a um sistema econômico conduzido por burocratas não eleitos em Bruxelas, na Bélgica (sede da UE). Tudo isso só aumentaria a sensação de alienação verificada nas comunidades que entravam em colapso.
E, com os mercados globais ditando a política, se uma indústria não fosse lucrativa, ela seria simplesmente abandonada até morrer.
Atualmente, o Reino Unido pode ser líder global em ciências e serviços financeiros. Mas será que isso serve de consolo para as comunidades que, um dia, faziam aquilo que hoje é feito no exterior?
A julgar pelo que ouvi frequentemente nos anos que passei viajando pelo país, apresentando o programa de TV Question Time, da BBC, não estou certo de que seja verdade.
Goldsmith acabaria tentando entrar na política. Seu Partido do Referendo levou uma surra nas eleições gerais de 1997, mas deixou uma semente plantada.
Ele defendeu que o caminho para o livre mercado global que o Reino Unido e o resto do mundo estavam percorrendo era perigoso. E que aumentaria as divisões em todo o mundo.
Se avançarmos cerca de 20 anos até 2016, seu alerta se tornou realidade. Os britânicos votaram para sair da União Europeia e o veredito não poderia ser mais claro: o voto a favor do Brexit foi mais alto nas comunidades que ficaram para trás, aparentemente alimentado pelas pessoas que sentiam que a globalização não estava funcionando para elas.
E o sonho de ter uma nação de acionistas de empresas também desandou.
Em 1989, a companhia de abastecimento de água Thames Water foi privatizada. Recebemos a promessa de redução das contas, melhor infraestrutura, menos burocracia e mais investimentos em um sistema desgastado pelas bordas. Era um investimento que o sistema capitalista global supostamente teria mais capacidade de oferecer.
Mas o que se seguiu foi totalmente diferente. As dívidas dispararam e os dividendos foram para os acionistas. A empresa extraía lucros enquanto os canos vazavam e o esgoto era despejado nos rios.
Agora, nossas contas pagam os juros daquelas dívidas. Parece que nos afastamos muito da nação de acionistas de empresas sonhada por Thatcher.
Em 1994, James Goldsmith havia defendido que o problema do sonho do livre mercado era que ele não protegia a base doméstica. Agora, existe alguém muito mais poderoso que concorda com aquela opinião.
Os métodos do presidente Trump são muito erráticos. Com ele, é difícil saber o que está acontecendo.
Sua disposição de lançar tarifas de importação para inimigos tradicionais e supostos amigos, com imensas consequências para os países envolvidos, desafia a nossa compreensão.
O que podemos dizer é que ele está tentando retornar às ideias anteriores ao livre mercado. Ele está tentando fortalecer a América por meio do protecionismo, dificultando para que qualquer pessoa consiga vender para qualquer lugar.
Existe o argumento de que, se você olhar a longo prazo, talvez o período de livre mercado seja a exceção. O próprio Reino Unido atravessou um período muito longo de protecionismo até abraçar o livre mercado.
As tarifas de importação não são nada de novo na história econômica mundial. E, de certa forma, Trump está simplesmente tentando fazer as coisas nos Estados Unidos voltarem a ser como eram antigamente, ainda que de forma bastante caótica.
O reinado do livre mercado enfrenta, agora, seu maior desafio de todos. Mas este desafio não vem dos apoiadores do socialismo – que, ideologicamente, defendem um grande papel para o Estado.
Na verdade, o desafio vem de Trump, que, de forma geral, é de direita e não tem escrúpulos ao ver o capitalismo permitindo que algumas pessoas enriqueçam cada vez mais.
O fato de que estes questionamentos vêm de dentro é o que os torna tão poderosos.
Assinar:
Postagens (Atom)