65,6 milhões de brasileiros não trabalham nem procuram emprego13 milhões de desocupados
terça-feira, 31 de julho de 2018
Museu do eclipse
Mas as notícias que vêm do túnel indicam um personagem que parece rivalizar com os candidatos: o centrão.
Participei de quase todas as campanhas até 2010. Estou procurando entender esta e vejo o papel do Congresso mais explícito. O Congresso provou o gosto de sangue através da fragilidade dos dois último governos, Dilma e Temer. Ambos precisaram muito dele para sobreviver. E o centrão ganhou força e vai usá-la para que tudo continue o mesmo, sobretudo a ocupação partidária da máquina, a troca de votos por verbas; enfim, o velho fisiologismo.
O centrão, com a fortuna do Fundo Partidário, preservara seu número de deputados e enfraquecera o presidente eleito com sua bomba fiscal.
É uma forma mais articulada do que no passado. Mas também eles têm mais medo do que no passado.
Enquanto os times não entram em campo, fora do túnel, no mundo real observe também algo mais novo nas eleições brasileiras.
Agora pesa também, creio eu, além da ausência, o fato de que a pessoa vai transitar num universo ético desprezado, e isso repercute demais no cotidiano familiar.
Até os bancos brasileiros têm um pé atrás e classificam os parentes também como pessoas politicamente expostas.
Aproveitando que ainda estou no vestiário, cuido de alguns detalhes. É o período também em que surgem as denúncias. Uma delas me interessou não pelo conteúdo, mas pela palavra: museu do eclipse.
É um museu em homenagem ao maior eclipse da história, ocorrido em 1919 .
Quando li museu do eclipse, pensei: certas palavras não podem cair na minha frente, pois esqueço logo a trama política, aliás bem tediosa.
Por que um museu do eclipse em Sobral?
Atribui-se ao eclipse de 1919 uma grande importância científica, pois foi possível comprovar aspectos da teoria da relatividade, inclusive em Sobral, onde se concentrou um grupo de cientistas brasileiros e ingleses.
Um eclipse que trouxe luz, algo para comemorar.
Peço licença para usá-la num contexto mais amplo. A tendência a manter o velho estilo de governar diante de nossa carência de mudança vai transformar o Brasil num museu do eclipse.
As convenções que vi pouco falaram de uma perspectiva para o país. A sensação apocalíptica se acentua quando você vê conservadores discursando, mandando abraços héteros, confessando heteropaixões.
No passado, todo mundo mandava abraços e pronto. Ninguém se preocupava em definir sua orientação sexual.
O tema ganhou uma nova dimensão nos últimos anos, e tornou-se no discurso de Bolsonaro uma bandeira eleitoral.
Sem perceber o clima de intensa divisão, acaba produzindo uma nova palavra, o “heteroabraço”. E, consequentemente, o homoabraço.
Não haverá abraço possível entre um hétero e um homo, fica uma lacuna no vocabulário. A única saída é tentar reencontrá-la na sua forma mais simples e cristalina: abraço.
Com essas palavras, a gente vai construindo o museu do eclipse. Aliás, a fala do Ciro Gomes prometendo botar juízes e promotores em caixinhas e restabelecer a autoridade política. Essa vai na íntegra.
São apenas registros. Não vejo uma campanha como uma sucessão de bater e apanhar. Na verdade, no Brasil, todos apanhamos tanto da realidade que o ideal seria achar uma boa forma de discutir.
Vi uma entrevista do Alckmin no “Roda Viva”. Sua resposta sobre o crescimento do PCC em São Paulo e sua expansão pelo Brasil. Ele respondeu que todos os líderes do PCC foram presos.
Mas foi incapaz de elaborar que, apesar disso, a organização cresceu, que alguma coisa está errada, que os mecanismos de repressão ao crime organizado ainda são frágeis.
Claro que enfatizar um lado positivo faz parte do discurso de um candidato. Mas para mim, que vejo de fora, soa assim: nós prendemos os líderes; agora, se estão crescendo, isso é problema deles.
Se pudesse escolher outro cenário, certamente o faria. Mas esse é o que teremos, e será uma longa viagem não só num país muito estranho, mas também num mundo muito estranho.
PT esqueceu que governou
Nas suas entrevistas, Haddad tem esboçado um programa cheio de confusões que um economista não deveria fazer. É como se o PT não aprendesse nem com seus acertos. Ao assumir em 2003, o partido fez uma mudança importante e deixou de lado demagogias para entender que era preciso manter as bases do Plano Real, que colocara fim ao longo tormento hiperinflacionário.

O então ministro Antonio Palocci escolheu uma equipe competente, e Lula buscou no partido adversário o presidente do Banco Central. O governo elevou a meta de déficit primário, fortaleceu o sistema de metas de inflação e câmbio flutuante. Confirmou o tripé. Os índices de preços caíram, os temores se dissiparam e o partido levou o país a um período de prosperidade com políticas mais fortes de inclusão social. É essa a origem do bom recall do ex-presidente.
Depois disso, o PT considerou que era hora de implantar as suas ideias. Foi a era Guido Mantega. Inventou a nova matriz, deixou a inflação subir, manipulou dados fiscais e tomou uma série de decisões desastradas que levaram o país à recessão. Houve duas políticas econômicas, a segunda deu errado. Agora o dilema é como usar esta experiência e manter um discurso que atraia seu eleitor e ao mesmo tempo convença outras parcelas do eleitorado.
Fernando Haddad defendeu recentemente em entrevista ao “Valor” o que chamou de um “choque liberal” contra os elevados spreads bancários. Ele criticou a concentração do setor, mas ela se aprofundou a partir de 2008. Os quatro maiores bancos tinham 58% dos ativos bancários e quando Dilma saiu eles tinham 78%. Nada foi feito contra essa tendência no período. O choque que ele propõe é aumentar os tributos para os spreads altos e reduzir para os mais baixos. Se os impostos forem aumentados para as taxas mais altas, elas ficarão ainda maiores porque os bancos vão repassar, como sempre, o custo para o tomador do dinheiro ou toda a sua rede de clientes. Se reduzirem os impostos para os juros baixarem, isso seria na prática subsidiar o crédito bancário. E ele volta a falar em usar Banco do Brasil e Caixa para reduzir o custo dos financiamentos. Já foi feito no governo petista e deu errado.
O que complica a vida de Haddad é o fato de o PT ter governado o país durante 13 anos, quatro meses e 11 dias. Para dizer que há 60 milhões de pessoas com cadastro negativo, tem que esquecer que era esse mesmo o número quando o partido deixou o poder. Quando diz que o programa prevê taxação de dividendos, imposto sobre herança, maior progressividade no sistema tributário, ele repete o que estão dizendo outros candidatos, mas precisa explicar por que isso não foi feito antes. Além do mais, ele propõe, segundo disse ao “Valor” na semana passada, que será “acompanhado de redução da carga sobre pessoa jurídica”. Acabará dando no mesmo resultado do ponto de vista da arrecadação. É apenas uma forma diferente de cobrar.
Quando Haddad critica os problemas econômicos atuais ele tem que apostar que ninguém se lembrará de que a crise começou no governo do próprio PT e não foi devido ao ex-ministro Joaquim Levy, como ele disse. O déficit público e a recessão começaram no primeiro mandato de Dilma Rousseff. Haddad disse ao “Valor” que as agências reguladores foram “capturadas”. Sim, foram, mas não agora. O processo avassalador de escolha de indicados políticos para esses órgãos é dos governos petistas.
O PT tenta encontrar algum discurso radical, que agrade à militância, mas para isso é necessário esquecer o que ele fez quando esteve no poder. Haddad criticou o fato de o Comperj e Abreu e Lima estarem parados, mas esses dois investimentos foram superfaturados, usados para o pagamento de propina, produziram um volume enorme de prejuízo para a Petrobras. Há pontos que são apenas do governo Temer, como a reforma trabalhista e o teto de gastos. Mas a maioria das nossas aflições econômicas começaram na administração petista. E ele finge não saber.
Bem alimentado, Lula terceirizou greve de fome
Seis militantes de movimentos sociais iniciam nesta terça-feira, em Brasília, uma greve de fome pela libertação de Lula. Comandante do ''exército do MST'', João Pedro Stédile declarou que o tempo de duração da greve será determinado pela ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal.
“Ela foi indicada para respeitar a Constituição”, disse Stédile, ao lado dos companheiros que prometem fechar a boca. “Tem dois recursos aguardando julgamento –uma ADC do PCdoB, que consulta se uma pessoa pode ser presa antes do julgamento de todos recursos; e um outro recurso da OAB, sobre validade da presunção de inocência até o julgamento da última instância. Basta colocar os recursos em plenário para acabar com a greve.”
Em português claro, deseja-se pressionar o Supremo para rever a regra que autorizou o encarceramento de condenados em segunda instância. A questão já foi apreciada pelos ministros da Suprema Corte quatro vezes desde 2016. Na votação mais recente, produziu-se um placar de 6 votos a 5 contra a concessão de um habeas corpus que impediria a prisão de Lula.
Ironicamente, os devotos do líder petista fazem por Lula um sacrifício que ele se abstém de fazer por si mesmo. Lula desenvolveu uma ojeriza por greves de fome. Em fevereiro de 2010, ainda na pele de presidente, o agora presidiário realizou uma viagem oficial a Cuba. Desembarcou em Havana no dia da morte do dissidente cubano Orlando Zapata Tamoyo, que ficara sem comer por 85 dias.
Instado a comentar a privação alimentar do preso político cubano, Lula declarou: “Lamento profundamente que uma pessoa se deixe morrer por uma greve de fome. Eu, depois da minha experiência de greve de fome, pelo amor de Deus, ninguém que queira fazer protesto peça para eu fazer greve de fome que eu não farei mais.”
Na época, o repórter Elio Gaspari rememorou a “experiência” de Lula: “Em 1980, quando penou 31 dias de cadeia que ajudaram-no a embolsar pelo Bolsa Ditadura um capital capaz de gerar mais de R$ 1 milhão, Lula fez quatro dias de greve de fome. Apanhado escondendo guloseimas, reclamou: ‘Como esse cara é xiita! O que é que tem guardarmos duas balinhas, companheiro?’.”
Em março de 2010, já de volta ao Brasil, Lula adicionou ao comentário infeliz que fizera em Havana uma pitada de escárnio. Em defesa da soberania cubana, o então presidente petista comparou os presos políticos da ditadura dos irmãos Castro com os bandidos comuns esquecidos no interior do sistema carcerário de São Paulo.
Eis o que declarou Lula: “Eu penso que a greve de fome não pode ser utilizada como pretexto de direitos humanos para libertar pessoas. Imagina se todos os bandidos que estão presos em São Paulo entrarem em greve de fome e pedirem liberdade. Temos que respeitar a determinação da Justiça e do governo cubano de deter as pessoas em função da legislação de Cuba, como quero que respeitem ao Brasil.”
Quer dizer: considerando-se os critérios de Lula, condenado a 12 anos e um mês de cadeia por corrupção e lavagem de dinheiro, os militantes que se dispõem a deixar de inserir alimentos por sua libertação deveriam respeitar a “determinação da Justiça” brasileira. Sucede, porém, o oposto.
Bem alimentado, Lula patrocina o surgimento de mais uma excentricidade eleitoral. Depois da candidatura presidencial cenográfica de um ficha-suja, depois da campanha presidencial por correspondência, Lula conduz desde a cela especial de Curitiba um inusitado processo de terceirização de greve de fome.
“Ela foi indicada para respeitar a Constituição”, disse Stédile, ao lado dos companheiros que prometem fechar a boca. “Tem dois recursos aguardando julgamento –uma ADC do PCdoB, que consulta se uma pessoa pode ser presa antes do julgamento de todos recursos; e um outro recurso da OAB, sobre validade da presunção de inocência até o julgamento da última instância. Basta colocar os recursos em plenário para acabar com a greve.”
Em português claro, deseja-se pressionar o Supremo para rever a regra que autorizou o encarceramento de condenados em segunda instância. A questão já foi apreciada pelos ministros da Suprema Corte quatro vezes desde 2016. Na votação mais recente, produziu-se um placar de 6 votos a 5 contra a concessão de um habeas corpus que impediria a prisão de Lula.
Ironicamente, os devotos do líder petista fazem por Lula um sacrifício que ele se abstém de fazer por si mesmo. Lula desenvolveu uma ojeriza por greves de fome. Em fevereiro de 2010, ainda na pele de presidente, o agora presidiário realizou uma viagem oficial a Cuba. Desembarcou em Havana no dia da morte do dissidente cubano Orlando Zapata Tamoyo, que ficara sem comer por 85 dias.
Instado a comentar a privação alimentar do preso político cubano, Lula declarou: “Lamento profundamente que uma pessoa se deixe morrer por uma greve de fome. Eu, depois da minha experiência de greve de fome, pelo amor de Deus, ninguém que queira fazer protesto peça para eu fazer greve de fome que eu não farei mais.”
Na época, o repórter Elio Gaspari rememorou a “experiência” de Lula: “Em 1980, quando penou 31 dias de cadeia que ajudaram-no a embolsar pelo Bolsa Ditadura um capital capaz de gerar mais de R$ 1 milhão, Lula fez quatro dias de greve de fome. Apanhado escondendo guloseimas, reclamou: ‘Como esse cara é xiita! O que é que tem guardarmos duas balinhas, companheiro?’.”
Em março de 2010, já de volta ao Brasil, Lula adicionou ao comentário infeliz que fizera em Havana uma pitada de escárnio. Em defesa da soberania cubana, o então presidente petista comparou os presos políticos da ditadura dos irmãos Castro com os bandidos comuns esquecidos no interior do sistema carcerário de São Paulo.
Eis o que declarou Lula: “Eu penso que a greve de fome não pode ser utilizada como pretexto de direitos humanos para libertar pessoas. Imagina se todos os bandidos que estão presos em São Paulo entrarem em greve de fome e pedirem liberdade. Temos que respeitar a determinação da Justiça e do governo cubano de deter as pessoas em função da legislação de Cuba, como quero que respeitem ao Brasil.”
Quer dizer: considerando-se os critérios de Lula, condenado a 12 anos e um mês de cadeia por corrupção e lavagem de dinheiro, os militantes que se dispõem a deixar de inserir alimentos por sua libertação deveriam respeitar a “determinação da Justiça” brasileira. Sucede, porém, o oposto.
Bem alimentado, Lula patrocina o surgimento de mais uma excentricidade eleitoral. Depois da candidatura presidencial cenográfica de um ficha-suja, depois da campanha presidencial por correspondência, Lula conduz desde a cela especial de Curitiba um inusitado processo de terceirização de greve de fome.
Nós não temos heróis
Nós, nós não temos heróis
nem jamais os tivemos.
Afinal, para que servem os heróis e suas estátuas de granito ou de mármore negro, seus cavalos de bronze, suas medalhas barrocas e as espadas que não passam de metáforas?
Para que servem os heróis se o ácido da chuva desdenha da glória dos homens e nem os pássaros se importam com eles?
Para que servem os heróis se nem sabem quem somos nem jamais ouviram falar dos nossos mitos e utopias?
Infeliz do país que necessita de heróis.
Francisco Carvalho
nem jamais os tivemos.
Afinal, para que servem os heróis e suas estátuas de granito ou de mármore negro, seus cavalos de bronze, suas medalhas barrocas e as espadas que não passam de metáforas?
Para que servem os heróis se o ácido da chuva desdenha da glória dos homens e nem os pássaros se importam com eles?
Para que servem os heróis se nem sabem quem somos nem jamais ouviram falar dos nossos mitos e utopias?
Infeliz do país que necessita de heróis.
Francisco Carvalho
Na solidão da cela, o que está pensando Lula, que só recebe bajuladores?

Sob o codinome de “Barba”, Lula era informante do regime militar e se entendia diretamente com o delegado Romeu Tuma, que então ocupava o cargo de superintendente da Polícia Federal em São Paulo, antes de assumir a direção-geral em Brasília.
Tudo isso é mais do que sabido, o delegado Romeu Tuma Júnior publicou dois livros sobre o assunto, sob o título comum “Assassinato de Reputações”, e com os subtítulos “Um crime de estado” e “Muito além da Lava Jato”. Nessas obras, Tuma Jr. conta que Lula era tão íntimo do delegado Romeu Tuma que costumava visitá-lo e até dormia no sofá da sala depois do almoço.
Só estou citando esses fatos (são fatos, sem a menor especulação) para relembrar quem é Lula e como sua cabeça funciona. Como todos sabem, ele é inteligente, rápido e perspicaz. Seu defeito é a falta de cultura.
Com talento inato para exercer liderança, Lula chegou a comandar a política brasileira por 14 anos seguidos, e essa circunstância deve ser bem entendida para quem deseja saber como ele se comporta na prisão.
É o único preso do Brasil que recebe visitas diárias dos advogados, parlamentares, parentes e amigos. Sua impaciência é enorme, porque esses interlocutores só lhe levam notícias positivas, de que logo sairá da cadeia e poderá se candidatar, a vitória eleitoral está garantida e poderá se concretizar ainda no primeiro turno…
Lula hoje é uma ilha, cercado de bajuladores por todos os lados. Dizem-lhe que no exterior a pressão sobre o Brasil é enorme, o abaixo-assinado a favor da libertação ganha cada vez mais assinaturas de líderes internacionais, comentam que o festival de música na Lapa, no Rio de Janeiro, atraiu milhares de pessoas neste sábado, insistem em que os tribunais superiores vão inocentá-lo, as pesquisas indicam que nenhum outro candidato chega perto dele, e por aí a fora.
Fico pensando se Lula realmente acredita nessas baboseiras.
O que diria hoje Jesus aos candidatos e eleitores brasileiros?
Mas esses mesmos políticos que procuram proteção sob os altares talvez não gostassem de escutar algumas frases, duras como pedras, pronunciadas há quase 2.000 anos por Jesus Cristo contra “os falsos profetas”, de quem dizia: “Vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores”. Como reconhecê-los? Não só por suas promessas que podem ser vazias ou repletas de hipocrisia, mas por seus feitos. “Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinhos e figos dos abrolhos?” (Mt.7,16)

O cristianismo primitivo se inspirava nas atitudes que haviam guiado a pregação do Mestre, sobretudo em sua insistência contra o farisaísmo, a hipocrisia e os que enganam as pessoas simples. Jesus gostava do sim ou do não. “Oxalá fosses frio ou quente! Mas, como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te”, recorda o Apocalipse (3,15).
Se analisássemos essas afirmações taxativas das Escrituras e as aplicássemos a muitos dos candidatos que se dirigem às pessoas em busca de seu voto, veríamos que continuam atuais. Continuam vigentes os disfarces, por exemplo, de candidatos que cresceram e prosperaram na velha guarda do conservadorismo, do patrimonialismo, do caciquismo, e hoje se apresentam disfarçados de “políticos renovados”, de novos redentores. Acaso os espinheiros podem dar uvas?
Candidatos que se apresentam como os paladinos da moral e dos bons costumes e não têm vergonha de confessar que o dinheiro do auxílio-moradia do qual desfrutaram durante anos em Brasília sem dele precisar foi usado “para comer gente”, eufemismo para pagar prostitutas.
Candidatos incapazes de serem frios ou quentes para conseguirem agradar a todos, e que acabam provocando vômito, na gráfica expressão da Escritura. Candidatos que, como canta Gilberto Gil, com palavras dizem sim e com os fatos dizem não. Melhor os que são capazes de confessar que ninguém tem a pedra filosofal para resolver todos os problemas acumulados em anos de governos incompetentes ou ambiciosos, e que não oferecem mais do que acreditam que poderão realizar.
Os representantes das igrejas católicas e evangélicas deveriam estar atentos ao oferecerem acolhida e apoio em seus templos, às vezes no anonimato da noite, àqueles políticos que em vez de irem se inspirar na fonte dos Livros Sagrados comparecem como mercadores de votos. Para eles há também uma passagem dura do Evangelho: quando Jesus, ao entrar no templo de Jerusalém e ver os vendedores fazendo comércio com os fiéis pobres, depois de ter jogado as mesas no chão os repreendeu e lhes disse: “Minha casa é uma casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de ladrões” (Mt.21,12ss). Os estudiosos das escrituras, tanto católicos como protestantes, concordam que foi aquele gesto contra o comércio do sagrado a gota d’água que levou as autoridades do templo, em conivência com as autoridades civis romanas, a acabarem com a vida do profeta incômodo.
Às massas de cristãos que vão aos templos e escutarão neste período de seus pastores religiosos os chamados para votar nos políticos, a essas massas de gente pobre sempre à espera de um milagre que redima suas penas, a elas é preciso recordar que nessa Bíblia que está nas mãos de seus guias espirituais há uma passagem do profeta Ezequiel, dirigida aos governantes e que hoje parece de uma pungente atualidade. Sobre eles, diz:
“Vós não fortaleceis as ovelhas fracas; a doente, não a tratais; a ferida, não a curais; a transviada, não a reconduzis; a perdida, não a procurais; a todas tratais com violência e dureza. Assim, por falta de pastor, e em sua dispersão foram expostas a tornarem-se presa de todas as feras.” (Ez.34,4ss)
O Brasil precisa com urgência encontrar alguém capaz de sentir o clamor dos que procuram quem possa reconciliar o país, que seja guia sobretudo dos que sofrem o abandono, dos mais expostos aos perigos de serem devorados por uma política capaz de olhar só para o próprio umbigo, esquecendo-se do que realmente esta sociedade, embora irada e dividida, parece estar procurando em vão.
Imagem do Dia
A Ponte Dourada em Da Nang, no Vietnã, com 150 metros de extensão e a 1.400 m acima do nível do mar, foi construída em cerca de um ano e teve o custo total de 2 bilhões de dólares (R$ 7,5 bilhões). O objetivo é que, recém-inaugurada, possa atrair mais turistas a uma região que já recebe cerca de 1,5 milhão de visitantes todos os anos
Medo do imprevisto
Integrante do Comitê Central do PCB, Granja escapou de um sequestro em Itaboraí, em 1975, por muito pouco. À época, 18 integrantes do PCB, dos quais 12 do Comitê Central, foram assassinados. Avisado pelo filho, o engenheiro mecânico José Roberto Portugal, então um menino, saiu pelos fundos do sítio quando a equipe de agentes do DOI-CODI estava chegando. “Um deles passou a 20 metros de mim, com a metralhadora nas mãos; eu estava escondido no meio do mato, só com a calça do pijama e descalço.”
Graças àquela região montanhosa e aos antigos hábitos de ex-trabalhador rural, “Seu Chico”, como era chamado na região, driblou seus perseguidores se passando por boia-fria na fazenda Funchal. Depois, foi morar num sítio em Casemiro de Abreu. Foi um dos poucos dirigentes a permanecer no país durante todo o regime militar. De sandália havaiana e chapéu de palha, com as mãos calejadas pelo cabo da enxada, circulava pelo interior do antigo Estado do Rio como um peixe na água. Foi assim que reorganizou o antigo Partidão no interior fluminense e garantiu a eleição dos deputados comunistas Marcelo Cerqueira (federal) e Alves de Brito (estadual), pelo antigo MDB, nas eleições de 1978.
Seu grande mérito foi se distanciar do interesse imediato, no caso, a própria sobrevivência, para compreender o processo político. Granja percebeu, mesmo após as prisões do professor e economista Aírton Albuquerque, chefe do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense, e dos jornalistas Maurício Azedo e Luiz Paulo Santana Machado, logo após o carnaval de 1976, que a situação política estava mudando. Saiu da toca e foi à luta pela liberdade e pela democracia. Seu objetivo imediato era a anistia, a grande missão que confiou a Marcelo Cerqueira como parlamentar.
O Pacote de Abril, baixado pelo presidente Ernesto Geisel com o propósito de conter o avanço das oposições nas eleições municipais de 1976, na sua avaliação, fora uma demonstração de fraqueza. Os fatos confirmaram as previsões do velho dirigente do PCB, que aos 105 anos continua com uma memória invejável, capaz ainda de recitar suas poesias, contar causos da longa militância política e, com fina ironia e grande senso de humor, falar sobre a conjuntura sem dizer as besteiras que circulam com fartura pelas redes sociais.
Granja nunca teve medo do novo. Todas as vezes em que foi necessário, jogou dogmas e concepções ultrapassadas na lata do lixo da história. Fez autocrítica da Intentona de 1935, apoiou o relatório Kruschov, renegou as teses que defendiam a luta armada para lutar contra ditadura e chegar ao poder. Sabia que o PCB flertara com o golpismo em 1964, pois foi testemunha da conversa de Luiz Carlos Prestes com o presidente João Goulart, com Raul Riff, em fevereiro de 1964, quando o líder comunista sugeriu ao presidente deposto que apelasse às massas para fazer as reformas, que anunciou no Comício de 13 de março, sem respaldo do Congresso, em vez de recuar. Granja apoiou a mudança de sigla do PCB para PPS, do qual é o presidente de honra, e guardou no baú de recordações amorosas a velha bandeira vermelha com a foice e o martelo que empunhava desde 1934.
O que fazer diante do imponderável anunciado por Granja? Em primeiro lugar, considerar as contingências nas quais ocorrem as eleições deste ano. Uma economia que, bem ou mal, voltou a crescer, mas tem baixo desempenho porque o governo gasta mais do que arrecada. O pior já passou, foi a recessão do governo Dilma Rousseff. Sua “nova matriz econômica” ameaçava transformar o país numa nova Venezuela. Nossas instituições políticas sobreviveram à crise tríplice (econômica, política e ética) que nos levou ao impeachment.
O governo de transição está enfraquecido pelas denúncias de corrupção, mas mantém respaldo no Congresso para levar o país às eleições. O presidente Michel Temer é fleumático e equilibrado, apesar da impopularidade e das denúncias da Operação Lava-Jato. Finalmente, as Forças Armadas se mantêm nos limites estabelecidos pela Constituição, mesmo com a tropa torcendo pela eleição de um ex-militar à Presidência.
O imprevisível faz parte da democracia. Duro seria se tivéssemos eleições de cartas marcadas ou se as mesmas fossem suspensas. Sim, a radicalização política protagonizada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em contraponto com a narrativa autoritária do deputado Jair Bolsonaro cria um quadro de instabilidade institucional, mas as regras do jogo eleitoral podem resolver essa questão. Quem quer que venha a ganhar, terá que lidar com o Congresso e o Judiciário, a imprensa e a opinião pública. E não há alternativa para as forças políticas mais responsáveis que não seja a defesa da democracia, ganhando ou perdendo as eleições.
Luiz Carlos Azedo
Seja o que Deus quiser
Deus salve o rei. A sorte está lançada. Alea Jacta Est. As pedras estão catapultadas. O jogo vai começar. Ou vai ou racha, de vez. Que vença o menos ruim.
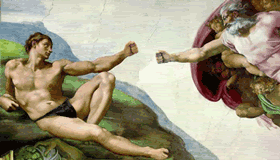
Sim, sim, desolador o horizonte de onde tenta surgir alguma esperança de mudança e orientação desse país tão bonito, tão rico, tão simpático e ao mesmo tempo tão maluco, que vive eclipsado por galáxias inferiores. Deus caprichou quando semeou o que viria a ser esse nosso chão. Agora só resta apelar a Ele.
Caveat emptor. “Cuidado, comprador”. O risco é seu quando for escolher os produtos que vai pôr na cestinha da urna eletrônica, os ovinhos de onde espera que saiam soluções para pôr fim a essa agonia que nos afunda ano após ano, aprofundando perigosamente as diferenças sociais. Cada vez que pensamos agora, vai, somos colocados diante de um muro, já cheio de gente se equilibrando em cima, se é que me entendem. Muro que novamente aparece como uma barreira protetora, pedindo que rezemos aos seus pés.
Estamos encastelados. Nesse muro moderno não vamos lá lamentar e nem deixamos pedidos escritos com nossos desejos. Nele, projetamos vídeos de celular – com imagens claras deitadas e áudios sofríveis, mas que apontam a realidade e muitas das necessidades – o que queremos. Mais, do que precisamos. Quem acompanha a série, a exibição, pode perceber o estado atual das coisas, a pobreza, as obras inacabadas, as estradas intransitáveis, a dificuldade de expressão do povo em sua própria língua pátria. Pode perceber também a imensidão dessa terra de que às vezes esquecemos a real dimensão, as diferenças, os tipos, os sotaques, os nomes das localidades, alguns que até contam a história de sua criação, levam os nomes de seus fundadores; outros, que trazem poesia; alguns, sua condição geológica, rochas, grutas, montanhas, montes.
Tudo muito lindo parece mostrar um país inteiro que sabe o que quer. E, corajoso, não quer só mostrar o lado bom de onde vivem. Apontam as faltas, como recém descobertos árbitros de vídeo.
Não, não está a oitava maravilha, faltam escolas, educação. Faltam diversidade, tolerância, cuidados com a natureza e riquezas naturais. Condições de trabalho, produção e formas de escoamento em uma malha de transportes integrada. Falta muito, além de esquerda, direita, centro.
Rezamos a todos os santos – muitos até homenageados com os seus nomes nessas cidades, onde sempre têm uma capelinha – e o que nos aparece? Os mesmos de sempre, atarracados como carrapatos no poder, querendo se reeleger. Pior, alguns que nem eleitos mereciam ter sido e querendo agora mais, governar, sentar na cabeceira da mesa. Subir na vida nas nossas costas.
Mais de uma dezena de candidatos a presidente, dezenas de senadores, centenas de deputados vão procurar você de novo. De algum jeito vão tentar chegar a você e à sua decisão. Vão se desculpar pelo que não fizeram, vão prometer o impossível, pedir desculpas e perdão por seus erros, tentarão explicar botando sempre a culpa em outro alguém. Até em você, preste atenção. Nossas costas são largas.
Nós mesmos já estamos nessa – nos culpando mutuamente como idiotas, já que ninguém merece que nos engalfinhemos. A maioria que ganha num determinado momento pode se dissolver logo. O que vimos na Era PT, e depois no tchau para a Dilma – “qualquer coisa seria melhor”, pensávamos.
Vejam só: “o qualquer coisa” foi mais uma decepção, um desastre. O líder popular não era bem assim, e a primeira mulher coisa e tal foi um festival de vacilos. Faça as contas: são muitos anos deixados para trás.
O direito de errar, de mal avaliar. O problema se torna mais dramático agora que as candidaturas se apresentam e são todos tão questionáveis, alguns muito mais questionáveis que outros. Novos, que são velhos. Alguns que se mostram e às suas verdadeiras faces, piores ainda quando questionados.
Nos deixam entre a cruz e a caldeirinha. Entre a cruz e a espada. Entre o agora ou nunca. Entre o céu e o inferno. Entre o amor e a guerra. Entre o ódio e a paz. Entre o ontem e o amanhã.
Vox Populi, Vox Dei. Voz do povo, Voz de Deus. Seja mesmo o que Deus quiser. Mas lembra que cada povo tem o governo que merece, não é mesmo? Frases feitas repletas de realidade.
Uma esquerda sem conceito
“Articular transformação com conservação” foi o tema que norteou a exposição de Marco Aurélio Garcia. Resgatar aquela exposição não é importante apenas em razão do conteúdo, mas também pela importância que o expositor assumiu nos governos do PT durante os 15 anos seguintes.
Questionando a tese de que nossa formação histórica fosse resultado de uma “transição por cima”, demarcando nossa “pronunciada especificidade”, Garcia afirmava que aquilo que “foi contabilizado de maneira geral como revolução passiva”, além de se voltar para o passado, seria tributário “de uma certa visão linear da história”. É significativo que um dos próceres do PT manifestasse uma visão francamente contrária à noção gramsciana de revolução passiva, desqualificando-a de maneira integral. Surpreende porque o conceito de revolução passiva, em Gramsci, não guarda absolutamente nada daquela visão obtusa da história. Surpreende, também, porque desde 1997 tínhamos à disposição A revolução passiva – iberismo e americanismo no Brasil, seminal estudo de Luiz Werneck Vianna sobre o tema e seus rebatimentos no Brasil.
O oximoro da revolução passiva, formulado por Gramsci nos Cadernos do Cárcere, juntamente com uma específica noção de hegemonia, já era reconhecido, por inúmeros estudiosos, como o par essencial de uma nova teoria sobre a política. Impossível expor, com profundidade, o que dá sustentação a essa nova conceituação. Aqui farei apenas uma breve súmula.
Revolução passiva é uma categoria analítica voltada para a compreensão de uma época de transformação histórica na qual o “impulso renovador” não advém do desenvolvimento econômico local, e sim de ideias derivadas do desenvolvimento internacional. Por incapacidade de autoconstituição da sociedade nacional, o Estado assume um papel preponderante na condução das mudanças, autonomizando sua classe dirigente. Nestes processos de construção do moderno, a conservação pesa, mas não é uma condenação. É distinto de uma contrarrevolução. Não há reação integral à mudança e o que se sobrepõe nas relações sociais é um conjunto de transformações moleculares. A história muda, mas não por meio de revoluções explosivas.
Como contemporâneo da revolução bolchevique, do fascismo e do americanismo, Gramsci sugere que se poderia entender como revolução passiva processos reformistas de transformação da estrutura econômica rumo a uma economia planificada, superando os momentos mais liberais e individualistas do capitalismo do século 19. Para Gramsci, o mundo caminhava rumo ao que ele chamava de uma “economia de programação”, dirigida quer pela política, quer pelo Estado em sua trama privada (o americanismo). A categoria da revolução passiva possibilitaria, então, a compreensão não apenas das modalidades de trânsito ao moderno, mas também as modalidades de reprodução da dominação sob o moderno.
Essa compreensão da história dá suporte a uma nova teoria da ação a partir da identificação de um grande problema político: saber em que grau, alcance e através de que formas as classes subalternas teriam constrangido o seu protagonismo. Em outros termos: de que forma as classes subalternas poderiam se manter ativas nos contextos de revolução passiva. Com centralidade na democracia política, a luta pela hegemonia seria essencial para a manutenção das classes subalternas em plena ativação, descartando tanto a ideia de assumir a revolução passiva como seu programa quanto o voluntarismo jacobino de uma estratégia de “antirrevolução passiva”.
A revolução passiva, na arguta observação de Luiz Werneck Vianna, expressaria, simultaneamente, positividade “em termos de processo, uma vez que, no seu curso, a democratização social, por meio de avanços moleculares, se faz ampliar”, e negatividade, “porque a ação das elites se exerce de modo a ‘conservar a tese na antítese’”. O problema estaria no agir político capaz de obstar a lógica predominante do “conservar mudando” e, realisticamente, conseguir inverter os vetores, fazendo com que a mudança dirigisse a conservação. Rovesciare, colocar em pé a revolução passiva, ou girar o registro do transformismo, de negativo para positivo, eis o sentido do que se vem chamando de “novo reformismo”, inspirado em Gramsci, no qual democracia e reformas, por meio de consensos, visam a suplantar a oligarquização do Estado, ampliar a participação, sem suprimir a representação política.
Sensível ao nexo transformação/conservação, Marco Aurélio Garcia preferiu a crítica convencional à “linearidade da história”, recusando-se a dialogar com o que havia de melhor no “comunismo democrático” brasileiro, na sugestiva expressão de Maria Alice Rezende de Carvalho. O rechaço à angulação da revolução passiva impediu a adoção de uma estratégia reformista fundamentada teoricamente e aberta à inovação.
Por que o intelectual petista optou, como está no final da sua exposição, por uma escolha burocrática que descrevia de maneira superposta e simplista as questões democrática, social e (pasmem) nacional como o feixe de problemas que se deveria enfrentar para mudar o País? Difícil dizer, mas o que se pode inferir é que foi uma escolha consciente.
Mais uma vez pode-se registrar a distância sideral que sempre existiu entre o PT e Gramsci. O resto da história dessa esquerda avessa a conceitos é conhecido.
segunda-feira, 30 de julho de 2018
Caciques continuam tratando eleitor como gado
Quase tudo na sucessão de 2018 se parece com eleições anteriores, menos o eleitor. Os caciques fazem política com os pés no mundo da Lua, onde não há corrupção nem desemprego. Promovem os mesmos cambalachos de sempre. O feitiço pode virar urucubaca, pois o brasileiro amarga uma descida pelos nove círculos do inferno. E acha que não merece a excursão. Agora, às vésperas de uma nova eleição, a cabine de votação se confunde com uma visão do purgatório. O voto parece instrumento de purificação. Em órbita, candidatos e dirigentes partidários não se deram conta de que um pedaço do eleitorado está desconfortável no papel de gado.
Geraldo Alckmin acredita que seu desempenho pífio como presidenciável mudará a partir de 31 de agosto, quando começa o horário eleitoral na televisão. Por isso, vendeu a prataria para juntar cerca de 40% da propaganda eletrônica. Parte da plutocracia torce para que ele alce voo. Mas não há ricos suficientes no Brasil para eleger um presidente. E o discurso de Alckmin, por ora, mal convence os crédulos. A plateia corre o risco de ouvir o candidato durante vários minutos para chegar à conclusão de que ele não tem nada a dizer. Ou pior: se o voo for artificial, o tucano será confundido com um drone guiado por controle remoto pela marquetagem.
Ao atrair todo o centrão para o seu colo, Alckmin impediu que seus rivais capturassem nacos do tempo de propaganda dos partidos que integram o grupo. Com isso, deu a Ciro Gomes e Jair Bolsonaro a oportunidade de cuspir no prato em que não conseguiram comer. De quebra, ofereceu aos cerca de 40% de eleitores que ainda se declaram sem candidato o direito continuar repetindo que “são todos farinha do mesmo pacote”. Sem perceber, os contendores podem estar jogando um jogo de soma zero, em que nenhum deles amplia sua base de eleitores.
A ruína de Dilma Rousseff e o fiasco de Michel Temer pareciam tornar as coisas mais fáceis. Tão fáceis que qualquer espertalhão poderia passar a campanha trombeteando que, eleito, restauraria a moralidade e traria de volta a prosperidade. O vaivém do centrão e o balé de elefantes em que se converteu a escolha dos vices estimulou na banda desconfiada do eleitorado a crença de que não se deve confundir muitos com pluralidade, adesão com habilidade, pernóstico com sumidade, pose com dignidade, lero-lero com honestidade…
Campeão do horário eleitoral, Alckmin é uma nulidade nas redes sociais —um território em que Ciro e, sobretudo, Bolsonaro utilizam para cavalgar o desalento do eleitor. O problema é que a dupla exagera na raiva. Se Deus oferecesse temperança a Ciro, o candidato se empenharia para provar que Deus não existe. Quanto a Bolsonaro, tornou-se líder de intenção de votos e de rejeição. Conquistou eleitores misturando Deus à defesa de teses esdrúxulas. E acabou convencendo o naco do eleitorado que o rejeita de que Deus não merece existir.
Uma campanha que começa com as marcas da polêmica e da ferocidade, poderia fazer muito bem à candidatura de Marina Silva. Ela exala serenidade, não precisa fingir que veio de baixo, abomina “as megaestruturas” e conserva a biografia longe dos pesticidas da Lava Jato. Entretanto, tomada pelo desempenho, Marina vai se consolidando como uma personagem admiravelmente indecifrável para a maioria da plateia. A liderança e as concepções “marineiras” já afugentam até os correligionários da Rede. Marina costuma dizer que prefere “perder ganhando a ganhar perdendo.” Pode voltar para casa com 20 milhões de votos pela terceira vez.
Na galeria dos vitoriosos perdedores, Marina só não conseguirá superar Lula. Preso em Curitiba, o pajé do PT leva sua candidatura cenográfica às fronteiras do paroxismo. Lidera as pesquisas. Mas sabe que a ficha suja levará a Justiça Eleitoral a excluir sua foto da urna. Se tudo correr como planejado, deflagrará o Plano B do PT em meados de setembro. É como pedisse aos brasileiros para esquecer que Dilma, seu último poste, resultou num inesquecível curto-circuito.
É grande o prestígio do presidiário do PT. Entretanto, segundo a mais recente pesquisa do Datafolha, divulgada no mês passado, 51% dos eleitores informam que não entregariam o seu voto a um candidato indicado por Lula. Impossível prever quem será o próximo presidente. Mas já é possível constatar que o curral diminuiu.
Geraldo Alckmin acredita que seu desempenho pífio como presidenciável mudará a partir de 31 de agosto, quando começa o horário eleitoral na televisão. Por isso, vendeu a prataria para juntar cerca de 40% da propaganda eletrônica. Parte da plutocracia torce para que ele alce voo. Mas não há ricos suficientes no Brasil para eleger um presidente. E o discurso de Alckmin, por ora, mal convence os crédulos. A plateia corre o risco de ouvir o candidato durante vários minutos para chegar à conclusão de que ele não tem nada a dizer. Ou pior: se o voo for artificial, o tucano será confundido com um drone guiado por controle remoto pela marquetagem.
Ao atrair todo o centrão para o seu colo, Alckmin impediu que seus rivais capturassem nacos do tempo de propaganda dos partidos que integram o grupo. Com isso, deu a Ciro Gomes e Jair Bolsonaro a oportunidade de cuspir no prato em que não conseguiram comer. De quebra, ofereceu aos cerca de 40% de eleitores que ainda se declaram sem candidato o direito continuar repetindo que “são todos farinha do mesmo pacote”. Sem perceber, os contendores podem estar jogando um jogo de soma zero, em que nenhum deles amplia sua base de eleitores.
A ruína de Dilma Rousseff e o fiasco de Michel Temer pareciam tornar as coisas mais fáceis. Tão fáceis que qualquer espertalhão poderia passar a campanha trombeteando que, eleito, restauraria a moralidade e traria de volta a prosperidade. O vaivém do centrão e o balé de elefantes em que se converteu a escolha dos vices estimulou na banda desconfiada do eleitorado a crença de que não se deve confundir muitos com pluralidade, adesão com habilidade, pernóstico com sumidade, pose com dignidade, lero-lero com honestidade…
Campeão do horário eleitoral, Alckmin é uma nulidade nas redes sociais —um território em que Ciro e, sobretudo, Bolsonaro utilizam para cavalgar o desalento do eleitor. O problema é que a dupla exagera na raiva. Se Deus oferecesse temperança a Ciro, o candidato se empenharia para provar que Deus não existe. Quanto a Bolsonaro, tornou-se líder de intenção de votos e de rejeição. Conquistou eleitores misturando Deus à defesa de teses esdrúxulas. E acabou convencendo o naco do eleitorado que o rejeita de que Deus não merece existir.
Uma campanha que começa com as marcas da polêmica e da ferocidade, poderia fazer muito bem à candidatura de Marina Silva. Ela exala serenidade, não precisa fingir que veio de baixo, abomina “as megaestruturas” e conserva a biografia longe dos pesticidas da Lava Jato. Entretanto, tomada pelo desempenho, Marina vai se consolidando como uma personagem admiravelmente indecifrável para a maioria da plateia. A liderança e as concepções “marineiras” já afugentam até os correligionários da Rede. Marina costuma dizer que prefere “perder ganhando a ganhar perdendo.” Pode voltar para casa com 20 milhões de votos pela terceira vez.
Na galeria dos vitoriosos perdedores, Marina só não conseguirá superar Lula. Preso em Curitiba, o pajé do PT leva sua candidatura cenográfica às fronteiras do paroxismo. Lidera as pesquisas. Mas sabe que a ficha suja levará a Justiça Eleitoral a excluir sua foto da urna. Se tudo correr como planejado, deflagrará o Plano B do PT em meados de setembro. É como pedisse aos brasileiros para esquecer que Dilma, seu último poste, resultou num inesquecível curto-circuito.
É grande o prestígio do presidiário do PT. Entretanto, segundo a mais recente pesquisa do Datafolha, divulgada no mês passado, 51% dos eleitores informam que não entregariam o seu voto a um candidato indicado por Lula. Impossível prever quem será o próximo presidente. Mas já é possível constatar que o curral diminuiu.
Paraíso do privilégio
O Brasil hoje não funciona porque é um país de privilégios. Para vários grupos. Para políticos, funcionários públicos, grupos empresariais, JudiciárioJoão Amoêdo, pré-candidato e Fundador do NOVO
Ninguém segura!
Olho pela janela. Contemplo uma procissão de retirantes. Fogem dos tiroteios de um morro próximo. De cabeça baixa, retratando uma humilhação que nos atinge a todos, seguem pela rua afora carregando suas trouxas. Muitos terão como casa a vida e como endereço o mundo.
Mas há algo errado na cena: a procissão segue em silêncio! Eis o que falta: uma trilha sonora adequada ao quadro! Talvez o “Requiem” de Wolfgang Amadeus Mozart. Ou o de Gabriel Fauré. Surpreendentemente, no entanto, ela surge, pelas mãos de torcedores reunidos em um prédio próximo! Agitando bandeiras do Brasil, celebrando a Copa do Mundo realizada na Rússia, começam a cantar e exclamar um sonoro “Viva o Brasil”!

Animadamente, chegam ao refrão da música, uma certa “Eu te amo meu Brasil”, atribuída aos “Incríveis” (e nunca tão oportuna a referência). Cantam, a plenos pulmões, “Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil”. Deve ser verdade – que o digam os retirantes.
A triste procissão segue seu curso. Passa diante de reluzentes prédios públicos – muitos deles abrigando importantes instituições, daquelas simbolizadas por vetustos brasões e símbolos magnos da república. À porta, tremulam os pavilhões nacional e estadual. E prossegue o fundo musical: “Eu vou ficar aqui, porque existe amor”.
Converso com um dos retirantes, meu conhecido de longa data. Com o olhar sem brilho e a voz embargada, me descreve o horror da noite anterior, entrecortada por disparos de revólver e metralhadora. Ao nosso lado, a música continua: “As noites do Brasil tem mais beleza, lá, lá, lá, lá”.
Sou apresentado, por intermédio de uma senhora, às lágrimas de sua neta, traumatizada pela cena dos meliantes portando armas pesadas ostensivamente, à luz do dia, e dos cadáveres que produzem impunemente. Com o coração apertado pela desesperança que testemunho na face daquela criança, mais música chega aos meus ouvidos: “Mulatas brotam cheias de calor. No Carnaval, os gringos querem vê-las”.
Vejo a procissão dobrando a esquina da rua e da vida. Ouço a música ao fundo. Passa-me pela mente a orquestra do tristemente célebre navio Titanic, embalando, com seus acordes, um naufrágio de proporções dantescas. Mas logo afasto qualquer associação com o quadro que vejo – afinal, lá a música traduzia compaixão.
Pedro Valls Feu Rosa
Mas há algo errado na cena: a procissão segue em silêncio! Eis o que falta: uma trilha sonora adequada ao quadro! Talvez o “Requiem” de Wolfgang Amadeus Mozart. Ou o de Gabriel Fauré. Surpreendentemente, no entanto, ela surge, pelas mãos de torcedores reunidos em um prédio próximo! Agitando bandeiras do Brasil, celebrando a Copa do Mundo realizada na Rússia, começam a cantar e exclamar um sonoro “Viva o Brasil”!

A triste procissão segue seu curso. Passa diante de reluzentes prédios públicos – muitos deles abrigando importantes instituições, daquelas simbolizadas por vetustos brasões e símbolos magnos da república. À porta, tremulam os pavilhões nacional e estadual. E prossegue o fundo musical: “Eu vou ficar aqui, porque existe amor”.
Converso com um dos retirantes, meu conhecido de longa data. Com o olhar sem brilho e a voz embargada, me descreve o horror da noite anterior, entrecortada por disparos de revólver e metralhadora. Ao nosso lado, a música continua: “As noites do Brasil tem mais beleza, lá, lá, lá, lá”.
Sou apresentado, por intermédio de uma senhora, às lágrimas de sua neta, traumatizada pela cena dos meliantes portando armas pesadas ostensivamente, à luz do dia, e dos cadáveres que produzem impunemente. Com o coração apertado pela desesperança que testemunho na face daquela criança, mais música chega aos meus ouvidos: “Mulatas brotam cheias de calor. No Carnaval, os gringos querem vê-las”.
Vejo a procissão dobrando a esquina da rua e da vida. Ouço a música ao fundo. Passa-me pela mente a orquestra do tristemente célebre navio Titanic, embalando, com seus acordes, um naufrágio de proporções dantescas. Mas logo afasto qualquer associação com o quadro que vejo – afinal, lá a música traduzia compaixão.
Pedro Valls Feu Rosa
A pomba e o corvo do almanaque eleitoral
Temerosos de que depois daquela primeira Humanidade, os novos homens teriam que partir outra vez do zero, que, aliás, ainda não existia, pois a própria Arca de Noé foi calculada sem o zero, os dois anciãos pretendiam reunir os saberes já acumulados, com o fim de garantir que a nova Humanidade tivesse por onde começar de novo.
Também a palavra almanaque ainda não existia. Ela designará, muito mais tarde, o verbo que identifica o ato do camelo se ajoelhar. Ora, os camelos não se ajoelham onde querem, mas onde os viajantes das caravanas mandam. Porque, para os homens como para os animais, manda quem pode e obedece quem precisa.

Cultores do bom estilo, dizendo muito com poucas palavras, os dois anciãos precisaram de apenas três dias para reunir o saber epocal, fazendo em rochas, pedras e tijolos os registros imperecíveis de uma enciclopédia cujo título foi Livro de Todo-o-Saber.
As primeiras estiletadas marcaram a data do começo do mundo, as jornadas dos astros no Céu, vistas pelo Zodíaco, especialmente do Sol, da Lua e de algumas estrelas referenciais, como Vênus ou Estrela D’Alva, que, sendo a mesma, pela manhã deu nome ao Amor e ao Demônio, e ao entardecer tornou-se Vésper.
Os dois velhos reuniram o que já se sabia: a melhor época de plantar e de colher, como e quando tosquiar as ovelhas, como aproveitar a lã, forjar o ferro, amassar o barro, atrair e domesticar abelhas e lobos, tornando-os produtores de mel e guardiães da casa; que ervas usar como chás para isso ou aquilo, que substâncias pôr nos ferimentos, como entender registros que tinham permanecido, como as tábuas de pesos e medidas, alguns códigos de direito primitivo, que prescreviam como examinar e julgar os conflitos, que castigos e que penas impor etc.
Certamente não faltariam nestes registros alguns versos ou frases que resumiriam, às vezes de forma poética, a arte de viver, em paz ou em guerra, conforme fosse necessário.
Terão os brasileiros que fazer o que fizeram os dois velhos da lenda talmúdica? Como estão se desenhando as próximas eleições presidenciais, parece que sim. Deixemos, pois, registrado em algum lugar, como se faz orçamento, como se combate a inflação (sim, é preciso combatê-la), como se cuida da saúde, da educação, dos transportes, da segurança e de outros temas fundamentais para que o eleito não resolva inventar a roda.
E, assim, depois da longa quarentena do Dilúvio e de outras destruições que se avizinham, alguns corvos que ora adejam por aí, da mesma família daquele que Noé soltou, voltarão a sobrevoar, mas não encontrarão onde pousar e voltarão a seus galhos.
Será então a vez de soltar a pomba. Como aprendemos em outro almanaque, ela fará três viagens. Na primeira, voltará à Arca sem nada. Na segunda, voltará com um ramo verde no bico. E da terceira viagem ela não voltará e só então poderemos descer para recomeçar.Deonísio da Silva
Bico, o grande empregador
Entre janeiro e junho deste ano, 64,4% dos trabalhadores brasileiros fizeram bico para pagar as contas. Entre as classes de menor renda, a fatia salta para 70% em busca de trabalhos informais para complementar a renda
O Estado de S.Paulo
Sabichões a brincar aos pobrezinhos (ou Em Portugal como aqui)
Era uma vez um paraíso à beira-mar que poucos sabiam que existia. Nesse paraíso, havia praias de areia branca a perder de vista, mar quente e transparente, casinhas de paredes caiadas e tetos de colmo, mesmo ali junto à costa. Um cenário idílico para quem queria fugir dos luxos da cidade e descansar no meio da Natureza, pouco importavam os mosquitos. As casinhas, tão românticas, pertenciam aos agricultores, que rapidamente foram sendo empurrados para paragens mais distantes e menos interessantes, deixando as zonas nobres para os endinheirados que tinham descoberto um paraíso chamado Comporta. Vieram os administradores da herdade e a família Espírito Santo, vieram os amigos deles e ainda os amigos dos amigos, tão simpáticos.
Em poucos anos, o espaço virou um condomínio privado de luxo com portões trancados a código, e com uma praia praticamente privativa de tão inacessível. As casinhas de colmo mantiveram o charme inicial, mas conquistaram espaço, piscinas e terrenos circundantes, fazendo deste um sítio perfeito para, já se sabe, brincar aos pobrezinhos. Foram galinheiros transformados em residências charmosas, foram anexos transformados em moradias de 400 metros quadrados, foram tanques transformados em piscinas azuis infinitas – porque isso de brincar aos pobrezinhos tem piada, mas há mínimos.
Tudo foi feito, já se sabe, meio à socapa, meio à descarada, passando nos intervalos da chuva das regras da zona de paisagem protegida e contando com a benesse das autoridades – toda a gente sabia que aquela era a coutada dos Espírito Santo e dos amigos e que as coisas se iam ajustando à sua vontade.
Num país servil aos poderosos, preferimos andar atrás dos anexos e das marquises em bairros de classe baixa do que afrontar interesses instalados. Depois da queda do BES e da desgraça de Ricardo Salgado é que a festa acabou e tudo se complicou. Como relata a VISÃO nesta edição, dos quatro inquéritos-crime abertos entre 2014 e 2017, três estão no Departamento de Investigação e Ação Penal e já foram constituídos dez arguidos, tendo sido encontrados fortes indícios de corrupção, tráfico de influências, recebimento indevido, falsificação de documentos e violação das regras de construção. Estima-se que foram feitas mais de 100 obras ilegais, 74 sem qualquer licença ou autorização camarária. À auditoria demolidora não escapou sequer o príncipe Louis-Albert de Broglie, que fez em abril capa da VISÃO – a primeira vez que veio a público dar conta da sua intenção de comprar a herdade. O Ministério Público acredita que três construções que fez nos seus terrenos foram ilegalmente aprovadas pela câmara, um imbróglio legal que será complexo de resolver.
Abrem-se agora pudicamente várias bocas de espanto para o que toda a gente sabia que vinha a acontecer há décadas. Entre os arguidos contam--se administradores da herdade, mas sobretudo autarcas e arquitetos da câmara que, alegadamente, foram coniventes com estes processos. Como é óbvio, dificilmente poderia ser de outra maneira...
Tudo isto se sabe literalmente em vésperas de ser decidida a compra daqueles cobiçados (e preciosos) terrenos, para os quais concorrem o dito príncipe francês (que subiu a parada à ultima hora), a Oakvest e o consórcio de Paula Amorim e Claude Breda. É uma boa oportunidade para arrumar com a pouca-vergonha
e emendar a mão a décadas de compadrios, facilitismos e conivências. Tal como dissemos na semana passada quando reportámos os esquemas suspeitos na reconstrução de Pedrógão, está na hora de acabar de vez com a tolerância em relação à chico-espertice nacional.
Mafalda Anjos, Editorial da VISÃO
Jornalismo, alma da democracia
As redes sociais reverberam, multiplicam, agitam. Mas o pontapé inicial é sempre das empresas de conteúdo independentes. Sem elas a democracia não funciona.

O jornalismo não é antinada. Mas também não é neutro. É um espaço de contraponto. Seu compromisso não está vinculado aos ventos passageiros da política e dos partidarismos. Sua agenda é, ou deveria ser, determinada por valores perenes: liberdade, dignidade humana, respeito às minorias, promoção da livre-iniciativa, abertura ao contraditório. Por isso os jornais são fustigados pelos que, à esquerda e à direita, desenham projetos autoritários de poder.
O jornalismo sustenta a democracia não com engajamentos espúrios, mas com a força informativa da reportagem e com o farol de uma opinião firme, mas equilibrada e magnânima. A reportagem é, sem dúvida, o coração da mídia.
As redes sociais e o jornalismo cidadão têm contribuído de forma singular para o processo comunicativo e propiciado novas formas de participação, de construção da esfera pública, de mobilização do cidadão. Suscitam debates, geram polêmicas, algumas com forte radicalização, exercem pressão. Mas as notícias que realmente importam, aquelas que são capazes de alterar os rumos de um país, são fruto não de boatos ou meias-verdades disseminadas de forma irresponsável ou ingênua, mas resultam de um trabalho investigativo feito dentro de rígidos padrões de qualidade, algo que está na essência dos bons jornais.
A confiança da população na qualidade ética dos seus jornais tem sido um inestimável apoio para o desenvolvimento de um verdadeiro jornalismo de buldogues. O combate à corrupção e o enquadramento de históricos caciques da política nacional, alguns acertando suas contas na prisão e outros sofrendo o ostracismo do poder, só são possíveis graças à força do binômio que sustenta a democracia: imprensa livre e opinião pública informada.
Poucas coisas podem ter o mesmo impacto que o jornal tem sobre os funcionários públicos corruptos, sobre os políticos que se ligam ao crime, que abusam do seu poder, que traem os valores e os princípios democráticos. Políticos e governantes com desvios de conduta odeiam os jornais. Mas estes são, de longe, os grandes parceiros da sociedade, a alma da democracia.
Navega-se freneticamente no espaço virtual. Uma enxurrada de estímulos dispersa a inteligência. Fica-se refém da superficialidade e do vazio. Perdem-se contexto e sensibilidade crítica. A fragmentação dos conteúdos pode transmitir certa sensação de liberdade. Não dependemos, aparentemente, de ninguém. Somos os editores do nosso diário personalizado. Será?
Não creio, sinceramente. Penso que existe uma crescente demanda de jornalismo puro, de conteúdos editados com rigor, critério e qualidade técnica e ética. Há uma nostalgia de reportagem. É preciso recuperar, num contexto muito mais transparente e interativo, as competências e o fascínio do jornalismo de sempre.
Jornalismo sem brilho e sem alma é uma perigosa doença que pode contaminar redações. O leitor não sente o pulsar da vida. As reportagens não têm cheiro do asfalto. As empresas precisam repensar os seus modelos e investir poderosamente no coração. É preciso dar novo vigor à reportagem e ao conteúdo bem editado, sério, preciso, ético.
É preciso contar boas histórias. E apurar com verdadeiro empenho de isenção. A apuração de mentira representa uma das mais graves agressões à ética e à qualidade informativa. Matérias previamente decididas em guetos sectários buscam a cumplicidade da imparcialidade aparente. A decisão de ouvir o outro lado não é honesta, não se apoia na busca da verdade, mas num artifício que transmite um simulacro de isenção, uma ficção de imparcialidade. O assalto à verdade culmina com uma estratégia exemplar: repercussão seletiva. O pluralismo de fachada, hermético e dogmático, convoca pretensos especialistas para declarar o que o repórter quer ouvir. Mata-se a notícia. Cria-se a versão.
Frequentemente, também se sucumbe ao politicamente correto. Certas matérias, prisioneiras de chavões inconsistentes que há muito deveriam ter sido banidos das redações, mostram o flagrante descompasso entre essas interpretações e a força eloquente dos números e dos fatos. Resultado: a credibilidade, verdadeiro capital de um veículo, se esvai pelo ralo dos preconceitos.
A precipitação e a falta de rigor são outros vírus que ameaçam a qualidade. A incompetência foge dos bancos de dados. Na falta de pergunta inteligente, a ditadura das aspas ocupa o lugar da informação. O jornalismo de registro, burocrático e insosso, é o resultado acabado de uma perversa patologia: a falta de planejamento e a obsessão de editores com o fechamento. Quando editores não formam os seus repórteres, quando a qualidade é expulsa pela ditadura do deadline, quando as pautas não nascem da vida real, mas de pauteiros anestesiados pelo clima rarefeito das redações, é preciso ter a coragem de repensar todos os processos.
Estamos em ano eleitoral. Os leitores esperam algo mais do que aspas, fofoca, intriga política e marketing superficial. Querem bons perfis dos candidatos, análise aprofundada das suas propostas, desconstrução de miragens demagógicas e populistas.
A fortaleza do jornal não é dar notícia, é se adiantar e investir em análise, interpretação e se valer de sua credibilidade. Não é verdade que o público não goste de ler. Não lê o que não lhe interessa, o que não tem substância. Um bom texto, para um público que adquire a imprensa de qualidade, sempre vai ter interessados.
domingo, 29 de julho de 2018
O PT nada aprendeu, nada esqueceu
A repórter Marina Dias mostrou um pedaço do programa de 36 páginas do PT. Como se sabia, lá está a proposta para convocar um plebiscito para revogar iniciativas do governo de Michel Temer (só?). O recurso à consulta direta depois de uma eleição majoritária é golpismo e na Venezuela deu no que deu.
Coisas como o fim das férias de dois meses e do auxílio-moradia são arroz de festa, pois os penduricalhos agonizam. Parolagens em torno de ampliação dos poderes da "sociedade civil organizada" ou criação de "comissões de alto nível" são apenas parolagens.
Nessa amostra da plataforma petista vê-se que os comissários resolveram limpar o porão, trazendo de volta projetos repetidamente rejeitados pelo Congresso. É o caso do financiamento público das campanhas e o voto de lista.
Debulhando-se o aperitivo, percebe-se que diversas propostas dependem da aprovação de emendas constitucionais. É aí que a porca torce o rabo. Com que maioria o comissariado pretende aprová-las? Sua bancada será insuficiente, portanto, pretendem buscar os votos com aquilo que vem sendo chamado de centrão.
Como? Com os métodos que entre 2003 e 2004 acabaram no escândalo do mensalão. Nesse jogo reinava Valdemar Costa Neto, que foi para a cadeia, vestiu tornozeleira e foi indultado. Ele voltou a operar para Michel Temer e hoje está aninhado na coligação de Geraldo Alckmin.
Como os Bourbons que voltaram a reinar na França depois do colapso da revolução, o PT nada aprendeu, nada esqueceu.
São muitos os comissários petistas inquietos com a trava que Lula impôs ao partido recusando-se a aceitar um Plano B para a eleição.
A trava atrapalha os projetos individuais de petistas que precisam costurar alianças em seus estados.
O que os comissários parecem não ter percebido é que desde o século passado, quando criou o PT, Lula pensa primeiro nele. Depois, novamente nele.
Se o Poste perder a eleição, Lula continuará como vítima. Se ganhar, a vitória terá sido dele, e de mais ninguém.
Elio Gaspari
Outras propostas petistas dividem-se em três categorias. A transformação do Supremo Tribunal em Corte Constitucional está na mesa. Outras, como o estabelecimento de mandatos para demais cortes superiores, são más ideias. Já a participação de servidores na eleição dos órgãos de gestão dos tribunais é uma girafona.
Coisas como o fim das férias de dois meses e do auxílio-moradia são arroz de festa, pois os penduricalhos agonizam. Parolagens em torno de ampliação dos poderes da "sociedade civil organizada" ou criação de "comissões de alto nível" são apenas parolagens.
Nessa amostra da plataforma petista vê-se que os comissários resolveram limpar o porão, trazendo de volta projetos repetidamente rejeitados pelo Congresso. É o caso do financiamento público das campanhas e o voto de lista.
Debulhando-se o aperitivo, percebe-se que diversas propostas dependem da aprovação de emendas constitucionais. É aí que a porca torce o rabo. Com que maioria o comissariado pretende aprová-las? Sua bancada será insuficiente, portanto, pretendem buscar os votos com aquilo que vem sendo chamado de centrão.
Como? Com os métodos que entre 2003 e 2004 acabaram no escândalo do mensalão. Nesse jogo reinava Valdemar Costa Neto, que foi para a cadeia, vestiu tornozeleira e foi indultado. Ele voltou a operar para Michel Temer e hoje está aninhado na coligação de Geraldo Alckmin.
Como os Bourbons que voltaram a reinar na França depois do colapso da revolução, o PT nada aprendeu, nada esqueceu.
São muitos os comissários petistas inquietos com a trava que Lula impôs ao partido recusando-se a aceitar um Plano B para a eleição.
A trava atrapalha os projetos individuais de petistas que precisam costurar alianças em seus estados.
O que os comissários parecem não ter percebido é que desde o século passado, quando criou o PT, Lula pensa primeiro nele. Depois, novamente nele.
Se o Poste perder a eleição, Lula continuará como vítima. Se ganhar, a vitória terá sido dele, e de mais ninguém.
Elio Gaspari
Quem espalha desinformação? E quem não espalha?
As redes sociais criaram o problema involuntariamente, como um efeito colateral de seu agigantamento. É uma questão de escala: as ferramentas deram voz a todo mundo e originaram os conceitos de fake news e pós-verdade, que permeiam todo o debate político, mas que ninguém sabe definir exatamente o que significam. A notícia falsa pode ser uma mentira deliberada, uma interpretação maliciosa, uma crença genuína. A pós-verdade é uma mentira que não seria tão mentirosa assim. Quem define? A resposta liberal é: todo mundo. “A opinião que se tenta suprimir pela autoridade pode ser verdadeira. Aqueles que desejam suprimi-la naturalmente negam sua verdade; mas eles não são infalíveis”, alertou John Stuart Mill em Sobre a Liberdade na década de 1850.
Até o surgimento do Facebook e do Twitter, quem se sentisse afetado por uma declaração pública qualquer — e elas geralmente vinham pelos jornais — tinha a prerrogativa de ir à Justiça. Hoje, não há mais tempo para esperar o desenrolar de um processo, apesar de o Marco Civil da Internet prever como “alternativa ao contratante [no caso, o usuário de rede social] a adoção do foro brasileiro para solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados no Brasil”. O artigo 8º da legislação diz que “a garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet”. Mas a legislação não parece suficiente para controlar os distúrbios causados nas redes sociais.
Pressionadas, as próprias empresas se apresentaram para solucionar o problema. O YouTube estabelece quem pode ganhar dinheiro com os vídeos publicados na plataforma – e, se o produtor de conteúdo desagradar parte considerável dos usuários, pode acabar banido. O mesmo procedimento, de banimento e suspensão em caso de descumprimento de regras, é adotado pelo Twitter. Nesta semana, o presidente norte-americano, Donald Trump, reclamou que o microblog está “shadow banning” (diminuindo a exposição) de “republicanos proeminentes”. Já no Brasil, o Facebook contratou agências de checagem de notícia para separar o joio do trigo e derrubou de uma vez só 196 páginas e 87 perfis considerados inapropriados sem mencionar diretamente o tema fake news.
A remoção de “contas falsas” não parece tão controversa, mas a alegação da empresa, no informativo sobre a exclusão das contas, de que havia um “propósito de gerar divisão e espalhar desinformação” entre os banidos é ampla o bastante para incluir, por exemplo, contas de partidos políticos que promovam a candidatura de um ex-presidente que não pode se candidatar por impedimentos judiciais... O partido estaria gerando divisão? Tumultuando o processo eleitoral? Como pode uma ferramenta tão relevante como o Facebook endossá-las? As perguntas podem soar cínicas dependendo de quem ouve. Quem define?
Os membros do Movimento Brasil Livre (MBL) já publicaram várias informações erradas em seus perfis. O mesmo pode ser dito sobre deputados de partidos como PT e PCdoB, que de boa ou má fé fizeram circular imagens do que sugeriam ser grandes aglomerações de manifestantes apoiando determinada causa — quando se tratavam de protestos promovidos até em outros países. Quando confrontados com a realidade, geralmente os responsáveis pela postagem errada ou maliciosa as apagam, sob o preço do estigma de terem sido pegos na mentira.
As ferramentas virtuais têm a prerrogativa de estipular as próprias regras — e talvez a rigidez seja mesmo o melhor caminho para elas, apesar de a recente queda de ações do Facebook estar ligada a uma crise de modelo que parece afugentar novos usuários. As acusações de descuido com os dados dos usuários e a suspeita de interferência de russos na eleição dos Estados Unidos levaram Mark Zuckerberg a se explicar no Congresso norte-americano. Os expurgos periódicos atendem às demandas por um mínimo de ordem e transmitem alguma sensação de controle numa época em que se imagina que as redes sociais são capazes de definir disputas políticas. Mas as consequências dos bloqueios e banimentos podem ser bem piores para a sociedade do que a tranquilidade de uma timeline pacificada sugere.
As redes sociais se elevaram ao posto de fóruns de debate público e viraram plataformas para organização e mobilização política. É uma posição de prestígio, mas não é uma posição confortável. O fato de grupos à direita do espectro político serem os mais afetados — não apenas no Brasil — é relevante, independente do que isso signifique. Pode ser que a direita, representada massivamente no ambiente online brasileiro pelo MBL, seja mais ativa ou agressiva — ou eficiente — do que a esquerda e, por isso, chame mais atenção e se torne um alvo mais óbvio — a página Corrupção Brasileira Memes, de humor e também identificada como de direita, foi derrubada apesar de ter 1 milhão de seguidores.
Mas pode ser também que aqueles envolvidos em checar a qualidade de postagens e estratégias de atuação nas redes sejam de esquerda — como alegam os banidos — e, por isso, estejam mais atentos às mentiras da direita, das quais eles discordam. É nessa posição duvidosa que os responsáveis pelas redes sociais se colocam quando decidem arbitrar quem pode ou não participar do debate público. Para se livrar das suspeitas, o Facebook teria de encontrar um grupo esquerdista equivalente ao MBL para derrubar. Esse grupo existe? Quantos sites ou páginas teriam de cair para justificar a derrubada dos perfis ligados ao MBL? As informações disponibilizadas pelo Facebook sobre o banimento não parecem o bastante para solucionar as dúvidas que pairam no ar. Os banidos não merecem nenhum esclarecimento? Esse procedimento poderia melhorar?
As plataformas de debate virtual merecem crédito por tentar lidar com um problema que parece imenso, mas as tentativas de resolvê-lo já criaram tensões que sugerem problemas ainda maiores. Sem debate, não há possibilidade de entendimento. E o requisito mínimo para o debate é que as ideias circulem. Nem todo mundo saberá manuseá-las da melhor forma e há risco envolvido nisso, mas silenciar um ator ruim não vai fazê-lo desaparecer — e ele pode ter algo relevante a dizer em algum momento. A melhor forma de lidar com uma potencial mentira é permitir que ela seja dita, para que possa ser desmentida publicamente ou confrontada judicialmente. O mesmo vale para as fake news, seja lá o que forem.
Como Shakespeare explica a política contemporânea
 |
| Anna Kövecses |
O maior de todos os tiranos de Shakespeare é o personagem-título de Ricardo III. Sua ascensão, narrada a partir da trilogia Henrique VI, deriva de um ambiente familiar ao leitor atual: uma sociedade polarizada, rachada ao meio pela Guerra das Rosas. “O objetivo é criar o caos, que preparará o palco à tomada do poder pelo tirano.” O futuro rei Ricardo designa um preposto para semear a cizânia e cevar o ressentimento entre os pobres. “Promete tornar a Inglaterra grande outra vez. Como fará isso? Ataca a educação. A elite educada traiu o povo.” Quer destruir não só os nobres, mas todos os que “leem livros”. Sua personalidade é constituída por um misto de “autoestima sem limites, desrespeito à lei, prazer em causar dor, desejo compulsivo de dominar”. “É patologicamente narcisista e soberbamente arrogante. Tem um sentido grotesco de direito adquirido, jamais duvidando de que pode fazer o que quiser. Espera lealdade absoluta, mas é incapaz de gratidão.” Para chegar ao poder, conta com todos ao redor: os ludibriados; os impotentes ou assustados; os que não acreditam que ele possa ser tão ruim; os que sabem quem ele é, mas preferem encará-lo como normal; os que simplesmente obedecem; e os mais sinistros, aqueles que julgam poder tirar proveito da tirania.
Grenblatt decifra as limitações dos tiranos noutras peças, como Rei Lear e Macbeth. “Shakespeare não acreditava que eles durassem muito. Por mais espertos que fossem, uma vez no poder se revelavam incompetentes.” Dá para evitar a tirania antes do estrago? Nem sempre. Em Júlio César, o assassinato não surte o efeito desejado. “A tentativa de evitar uma crise constitucional precipita o colapso do Estado. O próprio ato que deveria salvar a República acaba por destruí-la.” Mas não é impossível, revela outro exemplo trazido da Roma Antiga: Coriolano, trama em que entra em ação um paradoxo da democracia. “A cidade é protegida da tirania pelos tribunos, políticos de carreira que levam o povo à ação. Ignóbeis e interesseiros, semelhantes aos detestados políticos profissionais nos congressos e parlamentos democráticos, eles é que resistem ao guerreiro-valentão e insistem nos direitos dos cidadãos comuns.” Entre dois males, uma sociedade precisa saber escolher o menor.
Helio Gurovitz
sábado, 28 de julho de 2018
Na terra dos vice-reis
O Brasil é um país em que vice tem vez e voz, desde a Colônia. Aqui, pontificaram os vice-reis, exportados por Portugal.
Quando, enfim, veio o próprio rei, dom João VI, acabou a festa e a matriz perdeu a Colônia, embora esta não viesse a perder a mania de ser governada pelos reservas.
Tão logo dom Pedro I abdicou, vieram os regentes, que nada mais eram que vices, à espera do titular, dom Pedro II.
Instalada a República, seu proclamador, o marechal Deodoro da Fonseca, renuncia e sucede-lhe, à revelia da Constituição (que mandava fazer nova eleição), o vice, Floriano Peixoto.
E assim foi ao longo do tempo. O terceiro presidente – e primeiro civil eleito -, Prudente de Morais, viveu atormentado pelo vice, Manuel Vitorino, que, substituindo-o interinamente, em face de enfermidade, não lhe quis devolver o cargo. Problemão.
A crise desembocou na tentativa de assassinato do presidente, mas a má pontaria do assassino matou o ministro da Guerra, Carlos Bittencourt. Ao todo, oito vice-presidentes governaram.
Quando da queda do poder civil, em 1964, lá estava um vice, João Goulart; idem quando da restauração do poder civil: José Sarney. Também no resgate das eleições diretas, o eleito, Fernando Collor, não governou até o fim.
O privilégio coube ao vice, Itamar Franco, em cujo mandato implantou-se o Plano Real, sepultado pelo PT, cujo reinado, ora em conclusão, dá-se por meio do vice que Lula escolheu para Dilma Roussef: Michel Temer.
Não é casual, pois, que os candidatos hoje favoritos à Presidência, Jair Bolsonaro (PSL) e Geraldo Alckmin (PSDB), estejam às voltas exatamente com a escolha do respectivo vice-presidente.
As chances de que venha a assumir, tendo em vista a tradição, não são remotas ou hipotéticas. Daí o cuidado com a escolha. Em princípio, busca-se alguém que agregue votos ou prestígio.
E esse alguém, em face desse prestígio, pode ser um aliado na campanha, mas um incômodo após a posse.
Alckmin buscou um empresário de renome, Josué Alencar, filho do ex-vice de Lula, José Alencar, mas este – quer por ter testemunhado o mandato do pai, quer por ter mais o que fazer – recusou. Já havia recusado também convite de Ciro Gomes (aí provavelmente em legítima defesa).
A busca de Alckmin prossegue, mas o arco de alianças em que se meteu – o Centrão – não lhe facilita a vida. Muitos querem a vaga, embora alguns ofereçam o risco de, uma vez empossado, a ocuparem desde a cadeia. Waldemar Costa Neto, por exemplo.
Bolsonaro quis o senador Magno Malta, evangélico, de grande prestígio em seu meio. Mas Malta está no partido de Waldemar, o PR, que, para cedê-lo, queria um pedaço da República.
Tentou então o general Augusto Heleno, de grande prestígio no meio militar e seu consultor informal. Mas o partido a que o general se filiou, o PRP, vetou a parceria, alegando que precisa de quadros no Congresso. Bolsonaro procurou então uma mulher, a advogada Janaína Pascoal, uma das mentoras do impeachment de Dilma.
Mas Janaína, em plena convenção do PSL, optou por relacionar as divergências com o titular, esquecendo-se de mencionar as convergências. Resultado: causou grande desconforto e pôs o convite na marca do pênalti. Bolsonaro definirá o imbróglio na terça-feira, numa conversa com ela, que se prenuncia tensa.
Fala-se na alternativa de chamar para o posto um herdeiro da Casa Imperial, o príncipe (e cientista social) dom Luís Felipe de Orleans e Bragança, filiado ao PSL e candidato à Câmara Federal.
Concretamente, porém, a campanha empacou nos vices. Espera-se que, após a posse, não se repita a tradição – recente e remota – de colocar em campo o regra três.
Ruy Fabiano
Quando, enfim, veio o próprio rei, dom João VI, acabou a festa e a matriz perdeu a Colônia, embora esta não viesse a perder a mania de ser governada pelos reservas.
Tão logo dom Pedro I abdicou, vieram os regentes, que nada mais eram que vices, à espera do titular, dom Pedro II.
Instalada a República, seu proclamador, o marechal Deodoro da Fonseca, renuncia e sucede-lhe, à revelia da Constituição (que mandava fazer nova eleição), o vice, Floriano Peixoto.
E assim foi ao longo do tempo. O terceiro presidente – e primeiro civil eleito -, Prudente de Morais, viveu atormentado pelo vice, Manuel Vitorino, que, substituindo-o interinamente, em face de enfermidade, não lhe quis devolver o cargo. Problemão.
A crise desembocou na tentativa de assassinato do presidente, mas a má pontaria do assassino matou o ministro da Guerra, Carlos Bittencourt. Ao todo, oito vice-presidentes governaram.
Quando da queda do poder civil, em 1964, lá estava um vice, João Goulart; idem quando da restauração do poder civil: José Sarney. Também no resgate das eleições diretas, o eleito, Fernando Collor, não governou até o fim.
O privilégio coube ao vice, Itamar Franco, em cujo mandato implantou-se o Plano Real, sepultado pelo PT, cujo reinado, ora em conclusão, dá-se por meio do vice que Lula escolheu para Dilma Roussef: Michel Temer.
Não é casual, pois, que os candidatos hoje favoritos à Presidência, Jair Bolsonaro (PSL) e Geraldo Alckmin (PSDB), estejam às voltas exatamente com a escolha do respectivo vice-presidente.
As chances de que venha a assumir, tendo em vista a tradição, não são remotas ou hipotéticas. Daí o cuidado com a escolha. Em princípio, busca-se alguém que agregue votos ou prestígio.
E esse alguém, em face desse prestígio, pode ser um aliado na campanha, mas um incômodo após a posse.
Alckmin buscou um empresário de renome, Josué Alencar, filho do ex-vice de Lula, José Alencar, mas este – quer por ter testemunhado o mandato do pai, quer por ter mais o que fazer – recusou. Já havia recusado também convite de Ciro Gomes (aí provavelmente em legítima defesa).
A busca de Alckmin prossegue, mas o arco de alianças em que se meteu – o Centrão – não lhe facilita a vida. Muitos querem a vaga, embora alguns ofereçam o risco de, uma vez empossado, a ocuparem desde a cadeia. Waldemar Costa Neto, por exemplo.
Bolsonaro quis o senador Magno Malta, evangélico, de grande prestígio em seu meio. Mas Malta está no partido de Waldemar, o PR, que, para cedê-lo, queria um pedaço da República.
Tentou então o general Augusto Heleno, de grande prestígio no meio militar e seu consultor informal. Mas o partido a que o general se filiou, o PRP, vetou a parceria, alegando que precisa de quadros no Congresso. Bolsonaro procurou então uma mulher, a advogada Janaína Pascoal, uma das mentoras do impeachment de Dilma.
Mas Janaína, em plena convenção do PSL, optou por relacionar as divergências com o titular, esquecendo-se de mencionar as convergências. Resultado: causou grande desconforto e pôs o convite na marca do pênalti. Bolsonaro definirá o imbróglio na terça-feira, numa conversa com ela, que se prenuncia tensa.
Fala-se na alternativa de chamar para o posto um herdeiro da Casa Imperial, o príncipe (e cientista social) dom Luís Felipe de Orleans e Bragança, filiado ao PSL e candidato à Câmara Federal.
Concretamente, porém, a campanha empacou nos vices. Espera-se que, após a posse, não se repita a tradição – recente e remota – de colocar em campo o regra três.
Ruy Fabiano
Assinar:
Comentários (Atom)



















