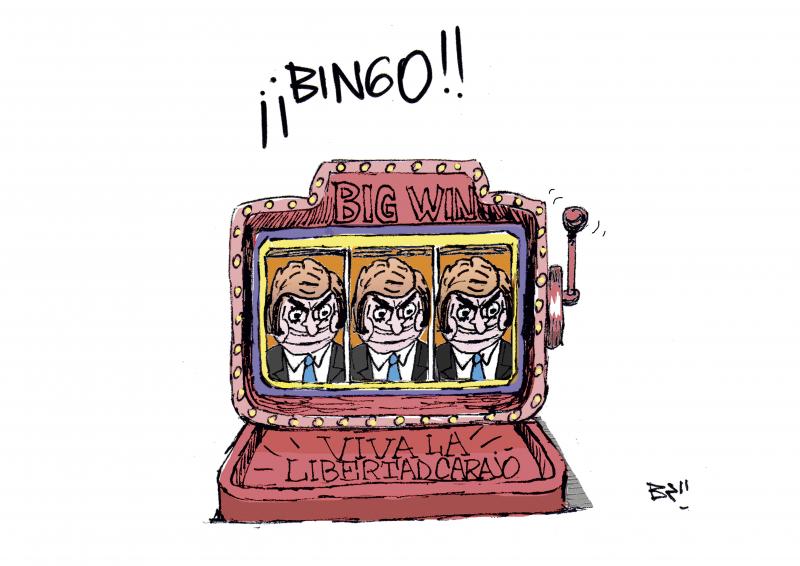quarta-feira, 30 de abril de 2025
A extrema-direita e a fascinação das criptomoedas
A extrema-direita representada por Trump, Milei e Bolsonaro tem em comum as fake news, o discurso de ódio, a rejeição aos direitos humanos e a educação e à cultura; quer o fim do Estado para manter a desigualdade e o privilégio dos mais ricos. Esses são os pontos evidentes, mas uma questão um tanto obscura precisa ser investigada: seu irresistível amor às criptomoedas.
Um pouco antes de sua posse, o presidente dos Estados Unidos lançou a memecoin $TRUMP. A moeda chegou a valer 75 dólares; semana passada chegou aos 8 dólares, uma desvalorização de 83%. Por isso, foi anunciado grande desbloqueio de tokens com a liberação de cerca de US$ 320 milhões — o equivalente a 20% da oferta atual em circulação.
No dia 11 de março Trump derrubou uma norma da Receita Federal do país que obrigava corretoras de criptomoedas a fornecer informações fiscais sobre todas as suas transações. A norma, proposta durante o governo Biden, desejava reduzir a evasão fiscal no setor. Estimativas apontam que ao menos metade dessas operações não são tributadas, um prejuízo de quase US$ 4 bilhões nos próximos dez anos. Make America Great Again?
O caso Milei e a criptomoeda $LIBRA ainda dá dor de cabeça ao presidente argentino, ainda que as ações judiciais não envolvam seu nome. Em 14 de fevereiro, o economista usou seu perfil no X para promover a criptomoeda. A postagem foi feita apenas alguns minutos após seu lançamento, às 18h37. Por volta das 20h45, a $LIBRA colapsou, quando os primeiros investidores, que também tinham as maiores quantidades da moeda, venderam seus ativos e embolsaram seus lucros. A cotação passou dos US$ 5,54 para apenas US$ 0,96. Milei apagou seu tweet e postou outro comunicado, retirando seu apoio ao negócio.
A maior parte das moedas é adquirida por poucos grandes investidores, chamados de “whales”, que saem antes do colapso. Suspeita-se que tenha ocorrido um “Rug Pull” (ou “puxada de tapete”), quando os criadores de uma criptomoeda vendem grandes quantidades do ativo após inflacionar seu valor, abandonando os investidores. E quem fica com o prejuízo? Os pequenos investidores que acreditam em seus mitos.
O bolsonarismo ainda está devagar com criptomoedas, mas viveu um episódio suspeito. Em 24 de janeiro deste ano um post no perfil de Jair Bolsonaro no X promoveu a cripto $BRAZIL. Ficou no ar pouco mais de uma hora até ser apagado. Logo depois, Carlos Bolsonaro postou na mesma plataforma que “a conta do twitter de @jairbolsonaro foi invadida e roubada” e que medidas estão sendo tomadas para recuperar o perfil. E ficou por isso mesmo. Não se sabe quem invadiu nem se houve prejuízos com a divulgação. Será que foram os comunistas?
Na mesma linha de Milei, Eduardo Bolsonaro já publicou no X: “As criptomoedas representam liberdade. O dinheiro fica no seu bolso, e não tem como o presidente ou um Banco Central desvalorizarem o suor do seu trabalho”. Esse é o discurso. Com o argumento da “liberdade” muitos grupos de extrema-direita rejeitam a fiscalização de governos e bancos centrais. Descentralizadas, as criptomoedas conseguem escapar do controle estatal. E com isso se alimenta o discurso vazio e eficiente “anti-sistema” e “anti-globalista” presente na retórica extremista.
O The Daily Stormer (site neonazista) e outras organizações de extrema-direita, incluindo milícias e supremacistas brancos, incentivam doações em bitcoin. No ataque ao Capitólio em 2021 plataformas como a Gab (rede social de extrema-direita) e TheDonald.win (fórum pró-Trump) usaram criptomoedas para evitar bloqueios financeiros.
Curioso é que em 2019 Trump criticou as criptomoedas, chamando-as de “não-dinheiro” e baseadas no “ar”, defendendo o dólar como reserva global. Mas em 2022 passou a aceitar arrecadar em NFT, e em sua campanha presidencial, prometeu “terminar com a guerra contra as criptomoedas” se eleito. Promessa cumprida e a certeza de bons negócios para seus aliados.
É uma situação em que criptomoedas se assemelham às plataformas das redes sociais. Idealmente são um avanço, mas sem regulação, transparência e manipulada por poucos, são campo fértil para extremismos.
Um pouco antes de sua posse, o presidente dos Estados Unidos lançou a memecoin $TRUMP. A moeda chegou a valer 75 dólares; semana passada chegou aos 8 dólares, uma desvalorização de 83%. Por isso, foi anunciado grande desbloqueio de tokens com a liberação de cerca de US$ 320 milhões — o equivalente a 20% da oferta atual em circulação.
No dia 11 de março Trump derrubou uma norma da Receita Federal do país que obrigava corretoras de criptomoedas a fornecer informações fiscais sobre todas as suas transações. A norma, proposta durante o governo Biden, desejava reduzir a evasão fiscal no setor. Estimativas apontam que ao menos metade dessas operações não são tributadas, um prejuízo de quase US$ 4 bilhões nos próximos dez anos. Make America Great Again?
O caso Milei e a criptomoeda $LIBRA ainda dá dor de cabeça ao presidente argentino, ainda que as ações judiciais não envolvam seu nome. Em 14 de fevereiro, o economista usou seu perfil no X para promover a criptomoeda. A postagem foi feita apenas alguns minutos após seu lançamento, às 18h37. Por volta das 20h45, a $LIBRA colapsou, quando os primeiros investidores, que também tinham as maiores quantidades da moeda, venderam seus ativos e embolsaram seus lucros. A cotação passou dos US$ 5,54 para apenas US$ 0,96. Milei apagou seu tweet e postou outro comunicado, retirando seu apoio ao negócio.
A maior parte das moedas é adquirida por poucos grandes investidores, chamados de “whales”, que saem antes do colapso. Suspeita-se que tenha ocorrido um “Rug Pull” (ou “puxada de tapete”), quando os criadores de uma criptomoeda vendem grandes quantidades do ativo após inflacionar seu valor, abandonando os investidores. E quem fica com o prejuízo? Os pequenos investidores que acreditam em seus mitos.
O bolsonarismo ainda está devagar com criptomoedas, mas viveu um episódio suspeito. Em 24 de janeiro deste ano um post no perfil de Jair Bolsonaro no X promoveu a cripto $BRAZIL. Ficou no ar pouco mais de uma hora até ser apagado. Logo depois, Carlos Bolsonaro postou na mesma plataforma que “a conta do twitter de @jairbolsonaro foi invadida e roubada” e que medidas estão sendo tomadas para recuperar o perfil. E ficou por isso mesmo. Não se sabe quem invadiu nem se houve prejuízos com a divulgação. Será que foram os comunistas?
Na mesma linha de Milei, Eduardo Bolsonaro já publicou no X: “As criptomoedas representam liberdade. O dinheiro fica no seu bolso, e não tem como o presidente ou um Banco Central desvalorizarem o suor do seu trabalho”. Esse é o discurso. Com o argumento da “liberdade” muitos grupos de extrema-direita rejeitam a fiscalização de governos e bancos centrais. Descentralizadas, as criptomoedas conseguem escapar do controle estatal. E com isso se alimenta o discurso vazio e eficiente “anti-sistema” e “anti-globalista” presente na retórica extremista.
O The Daily Stormer (site neonazista) e outras organizações de extrema-direita, incluindo milícias e supremacistas brancos, incentivam doações em bitcoin. No ataque ao Capitólio em 2021 plataformas como a Gab (rede social de extrema-direita) e TheDonald.win (fórum pró-Trump) usaram criptomoedas para evitar bloqueios financeiros.
Curioso é que em 2019 Trump criticou as criptomoedas, chamando-as de “não-dinheiro” e baseadas no “ar”, defendendo o dólar como reserva global. Mas em 2022 passou a aceitar arrecadar em NFT, e em sua campanha presidencial, prometeu “terminar com a guerra contra as criptomoedas” se eleito. Promessa cumprida e a certeza de bons negócios para seus aliados.
É uma situação em que criptomoedas se assemelham às plataformas das redes sociais. Idealmente são um avanço, mas sem regulação, transparência e manipulada por poucos, são campo fértil para extremismos.
Por que os EUA perderão para a China
O “dia da libertação” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com suas supostas “tarifas recíprocas” contra o resto do mundo - possivelmente as propostas de política comercial mais excêntricas já feitas), tornou-se, depois de um recuo precipitado diante do fogo cerrado dos mercados, uma guerra comercial contra a China. Isso pode (ou não) ter sido o que se pretendia desde o início. Então, será que Trump conseguirá vencer? Mais do que isso, os EUA, como são agora, depois da segunda chegada de Trump à Casa Branca, podem ter a esperança de triunfar em sua rivalidade mais geral com a China? A resposta, nos dois casos, é “não”. E não porque a China seja invencível, longe disso. Mas porque os EUA estão jogando fora todos os ativos de que precisam para manter seu status no mundo contra uma potência tão enorme, capaz e determinada quanto a China.
“Guerras comerciais são boas e fáceis de vencer”, postou Trump em 2018. Como uma proposição geral, é falsa: estas guerras prejudicam os dois lados. Pode-se conseguir um acordo que deixe ambos em melhor situação do que antes. O mais provável é que qualquer acordo deixe um lado em uma situação melhor do que antes e o outro em uma situação pior. Este último tipo de acordo é, presume-se, o que Trump espera que surja: os EUA vencerão; a China perderá.
Neste momento, os EUA impõem uma tarifa de 145% sobre as importações chinesas, enquanto a China impõe uma tarifa de 125% sobre as dos EUA. A China também restringiu as exportações de “terras raras” para os EUA. Essas são barreiras comerciais muito fortes, na verdade efetivamente proibitivas. Isso se parece a um “impasse mexicano” entre as duas superpotências, um confronto que nenhuma pode vencer.
Dá-se a entender que o plano dos EUA (se é que existe um plano) é “persuadir” os parceiros comerciais a impor pesadas barreiras às importações da China em troca de um acordo comercial favorável (e talvez acordos em outras áreas, como a da segurança) com os EUA. Esse desfecho é verossímil? Não.
Os EUA não conseguirão os acordos que na aparência buscam e a vitória sobre a China que almejam. À medida que isso se tornar evidente, Trump recuará, pelo menos em parte, de suas guerras comerciais, declarará vitória e seguirá em outra direção
Uma das razões é que a China também tem cartas poderosas na manga. Muitas potências relevantes já têm um volume de comércio maior com a China do que com os EUA: entre elas estão Austrália, Brasil, Índia, Indonésia, Japão e Coreia do Sul. Sim, os EUA são um mercado de exportação mais importante do que a China para muitos países expressivos, em parte por causa dos déficits comerciais de que Trump reclama. Mas a China também é um mercado considerável para muitos. Além disso, a China é uma fonte de produtos importados essenciais, muitos dos quais não podem ser substituídos com facilidade. As importações são, no fim das contas, o propósito do comércio.
Acima de tudo, os EUA se tornaram pouco confiáveis. Um EUA “transacional” é um EUA que está sempre em busca de um acordo melhor. Nenhum país sensato deveria apostar seu futuro em um parceiro assim, em especial contra a China. O tratamento que Trump deu ao Canadá foi o momento de definição. Os canadenses responderam com a reeleição dos liberais. Será que Trump aprenderá algo com isso? Uma pessoa pode mudar radicalmente o que ela é? Isso é o que Trump é. Ele também é um homem que os eleitores americanos elegeram duas vezes. Além do mais, romper com a China seria arriscado: a China não esquecerá e dificilmente perdoará.
Não menos importante, a China acredita que seu povo pode aguentar o sofrimento econômico melhor do que os americanos. Além disso, para ela a guerra comercial é principalmente um choque de demanda, enquanto para os EUA é sobretudo um choque de oferta. É mais fácil repor a demanda perdida do que a oferta desaparecida.
Em suma, os EUA não conseguirão os acordos que aparentemente buscam e a vitória sobre a China que almejam. Minha suposição é que, à medida que isso se tornar evidente para a Casa Branca, Trump recuará, pelo menos em parte, de suas guerras comerciais, e declarará vitória ao mesmo tempo em que seguirá em outra direção.
Mas isso não muda a realidade de que os EUA estão de fato competindo com a China por influência mundial. Infelizmente, os EUA que muitos querem que tenham êxito nisso não são estes EUA.
Além do mais, os EUA de Trump não serão bem-sucedidos. Sua população é um quarto da China. Sua economia é praticamente do mesmo tamanho, porque o país é muito mais produtivo. Sua influência, cultural, intelectual e política, ainda é bem maior do que a da China, porque seus ideais e ideias são mais atraentes. Os EUA foram capazes de criar alianças poderosas com países que pensam do mesmo modo, o que reforça essa influência. Em resumo, os EUA herdaram e, assim, foram abençoados com ativos imensos.
Agora, considere o que acontece sob o regime de Trump: tentativas de transformar o Estado de Direito em um instrumento de vingança; o desmantelamento do governo dos EUA; desprezo pelas leis que são o fundamento de um governo legítimo; ataques à pesquisa científica e à independência das grandes universidades americanas; guerras contra estatísticas confiáveis; hostilidade em relação a imigrantes (e não apenas aos ilegais), embora eles tenham sido a base do sucesso dos EUA em todas as gerações; um repúdio total à medicina e às ciências do clima; a rejeição completa das ideias mais básicas sobre a economia do comércio; uma equiparação ou (muito pior do que isso) uma preferência por Vladimir Putin, o tirano da Rússia, com relação a Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia democrática; e o desprezo aberto pelo conjunto de alianças e instituições de cooperação internacional em que a ordem mundial construída pelos EUA se apoia. Tudo isso nas mãos de um movimento político que adotou a insurreição de janeiro de 2021.
Sim, a ordem econômica mundial de fato precisava de melhorias. Os argumentos em favor de uma transição da China para um crescimento impulsionado pelo consumo são irresistíveis. Também é evidente que muitas reformas são necessárias dentro dos EUA. Mas o que está acontecendo hoje não é uma reforma e sim a ruína dos alicerces do sucesso dos EUA, no âmbito interno e no exterior. Será difícil reverter os danos. Será impossível para as pessoas esquecerem quem e o que os causou.
Uns EUA que tentam substituir o Estado de Direito e a Constituição por um capitalismo de compadrio corrupto não superarão a China. Uns EUA puramente transacionais não terão o apoio incondicional de seus aliados. O mundo precisa de uns EUA que concorram e cooperem com a China. Os EUA que temos hoje, infelizmente, não conseguirão fazer nenhuma das duas coisas.
“Guerras comerciais são boas e fáceis de vencer”, postou Trump em 2018. Como uma proposição geral, é falsa: estas guerras prejudicam os dois lados. Pode-se conseguir um acordo que deixe ambos em melhor situação do que antes. O mais provável é que qualquer acordo deixe um lado em uma situação melhor do que antes e o outro em uma situação pior. Este último tipo de acordo é, presume-se, o que Trump espera que surja: os EUA vencerão; a China perderá.
Neste momento, os EUA impõem uma tarifa de 145% sobre as importações chinesas, enquanto a China impõe uma tarifa de 125% sobre as dos EUA. A China também restringiu as exportações de “terras raras” para os EUA. Essas são barreiras comerciais muito fortes, na verdade efetivamente proibitivas. Isso se parece a um “impasse mexicano” entre as duas superpotências, um confronto que nenhuma pode vencer.
Dá-se a entender que o plano dos EUA (se é que existe um plano) é “persuadir” os parceiros comerciais a impor pesadas barreiras às importações da China em troca de um acordo comercial favorável (e talvez acordos em outras áreas, como a da segurança) com os EUA. Esse desfecho é verossímil? Não.
Os EUA não conseguirão os acordos que na aparência buscam e a vitória sobre a China que almejam. À medida que isso se tornar evidente, Trump recuará, pelo menos em parte, de suas guerras comerciais, declarará vitória e seguirá em outra direção
Uma das razões é que a China também tem cartas poderosas na manga. Muitas potências relevantes já têm um volume de comércio maior com a China do que com os EUA: entre elas estão Austrália, Brasil, Índia, Indonésia, Japão e Coreia do Sul. Sim, os EUA são um mercado de exportação mais importante do que a China para muitos países expressivos, em parte por causa dos déficits comerciais de que Trump reclama. Mas a China também é um mercado considerável para muitos. Além disso, a China é uma fonte de produtos importados essenciais, muitos dos quais não podem ser substituídos com facilidade. As importações são, no fim das contas, o propósito do comércio.
Acima de tudo, os EUA se tornaram pouco confiáveis. Um EUA “transacional” é um EUA que está sempre em busca de um acordo melhor. Nenhum país sensato deveria apostar seu futuro em um parceiro assim, em especial contra a China. O tratamento que Trump deu ao Canadá foi o momento de definição. Os canadenses responderam com a reeleição dos liberais. Será que Trump aprenderá algo com isso? Uma pessoa pode mudar radicalmente o que ela é? Isso é o que Trump é. Ele também é um homem que os eleitores americanos elegeram duas vezes. Além do mais, romper com a China seria arriscado: a China não esquecerá e dificilmente perdoará.
Não menos importante, a China acredita que seu povo pode aguentar o sofrimento econômico melhor do que os americanos. Além disso, para ela a guerra comercial é principalmente um choque de demanda, enquanto para os EUA é sobretudo um choque de oferta. É mais fácil repor a demanda perdida do que a oferta desaparecida.
Em suma, os EUA não conseguirão os acordos que aparentemente buscam e a vitória sobre a China que almejam. Minha suposição é que, à medida que isso se tornar evidente para a Casa Branca, Trump recuará, pelo menos em parte, de suas guerras comerciais, e declarará vitória ao mesmo tempo em que seguirá em outra direção.
Mas isso não muda a realidade de que os EUA estão de fato competindo com a China por influência mundial. Infelizmente, os EUA que muitos querem que tenham êxito nisso não são estes EUA.
Além do mais, os EUA de Trump não serão bem-sucedidos. Sua população é um quarto da China. Sua economia é praticamente do mesmo tamanho, porque o país é muito mais produtivo. Sua influência, cultural, intelectual e política, ainda é bem maior do que a da China, porque seus ideais e ideias são mais atraentes. Os EUA foram capazes de criar alianças poderosas com países que pensam do mesmo modo, o que reforça essa influência. Em resumo, os EUA herdaram e, assim, foram abençoados com ativos imensos.
Agora, considere o que acontece sob o regime de Trump: tentativas de transformar o Estado de Direito em um instrumento de vingança; o desmantelamento do governo dos EUA; desprezo pelas leis que são o fundamento de um governo legítimo; ataques à pesquisa científica e à independência das grandes universidades americanas; guerras contra estatísticas confiáveis; hostilidade em relação a imigrantes (e não apenas aos ilegais), embora eles tenham sido a base do sucesso dos EUA em todas as gerações; um repúdio total à medicina e às ciências do clima; a rejeição completa das ideias mais básicas sobre a economia do comércio; uma equiparação ou (muito pior do que isso) uma preferência por Vladimir Putin, o tirano da Rússia, com relação a Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia democrática; e o desprezo aberto pelo conjunto de alianças e instituições de cooperação internacional em que a ordem mundial construída pelos EUA se apoia. Tudo isso nas mãos de um movimento político que adotou a insurreição de janeiro de 2021.
Sim, a ordem econômica mundial de fato precisava de melhorias. Os argumentos em favor de uma transição da China para um crescimento impulsionado pelo consumo são irresistíveis. Também é evidente que muitas reformas são necessárias dentro dos EUA. Mas o que está acontecendo hoje não é uma reforma e sim a ruína dos alicerces do sucesso dos EUA, no âmbito interno e no exterior. Será difícil reverter os danos. Será impossível para as pessoas esquecerem quem e o que os causou.
Uns EUA que tentam substituir o Estado de Direito e a Constituição por um capitalismo de compadrio corrupto não superarão a China. Uns EUA puramente transacionais não terão o apoio incondicional de seus aliados. O mundo precisa de uns EUA que concorram e cooperem com a China. Os EUA que temos hoje, infelizmente, não conseguirão fazer nenhuma das duas coisas.
Jogo sujo da CBF e da Nike
A notícia é que a CBF e a Nike devem lançar uma camisa vermelha para a seleção. A cor divide mesas de bar, famílias e timelines desde que virou sinônimo de comunismo, feminismo, gayzismo e outras palavras que a histeria aprendeu a gritar sem entender o que significa. Claro que causou alvoroço. Os patriotas do amarelo se sentem traídos. Os progressistas da Santa Cecília acham revolucionário. A CBF faz o que sabe: capitaliza.
O novo uniforme não é um gesto político, é uma planilha de Excel com costura. Não é homenagem aos povos indígenas ou qualquer outro banho de marketing com cara de conscientização social. Tampouco um manifesto contra o sequestro da identidade de um povo. A tonalidade é nova, o truque é velho: lança-se a polêmica, finge-se ousadia, alimenta-se a polarização —e assiste-se à mágica do engajamento virar lucro. De preferência, em três vezes sem juros.
Enquanto discutimos se na escala Pantone o vermelho é marxista-leninista, esquecemos da verdadeira aberração: a própria CBF. Uma entidade opaca, elitista, afundada em corrupção, comandada por cartolas que tratam o futebol como sua mina de ouro privada e o torcedor como um Pix ambulante. Pouco importa a cor da camisa —eles querem que você compre. De preferência, todas.
A confederação não tem problema em rasgar o próprio estatuto que define as regras para sua comunicação visual. Tem problema com transparência, com ética, com a ideia de que futebol é um patrimônio cultural dos brasileiros e não mercadoria premium para benefício de poucos. A camisa poderia ser lilás com bolinhas douradas; sem sair dessa estrutura viciada, continuará sendo oportunismo costurado com linha de cinismo.
A polêmica não está na cor, mas no oportunismo. A CBF vende neutralidade estilizada enquanto se esconde atrás dos nossos símbolos e manipula nossas paixões. Discutimos a paleta cromática como se dela dependesse o futuro da democracia. E nesse jogo sujo a parceria CBF e Nike segue invicta, enquanto a seleção e o país continuam a tomar de lavada.
Mariliz Pereira Jorge
O novo uniforme não é um gesto político, é uma planilha de Excel com costura. Não é homenagem aos povos indígenas ou qualquer outro banho de marketing com cara de conscientização social. Tampouco um manifesto contra o sequestro da identidade de um povo. A tonalidade é nova, o truque é velho: lança-se a polêmica, finge-se ousadia, alimenta-se a polarização —e assiste-se à mágica do engajamento virar lucro. De preferência, em três vezes sem juros.
Enquanto discutimos se na escala Pantone o vermelho é marxista-leninista, esquecemos da verdadeira aberração: a própria CBF. Uma entidade opaca, elitista, afundada em corrupção, comandada por cartolas que tratam o futebol como sua mina de ouro privada e o torcedor como um Pix ambulante. Pouco importa a cor da camisa —eles querem que você compre. De preferência, todas.
A confederação não tem problema em rasgar o próprio estatuto que define as regras para sua comunicação visual. Tem problema com transparência, com ética, com a ideia de que futebol é um patrimônio cultural dos brasileiros e não mercadoria premium para benefício de poucos. A camisa poderia ser lilás com bolinhas douradas; sem sair dessa estrutura viciada, continuará sendo oportunismo costurado com linha de cinismo.
A polêmica não está na cor, mas no oportunismo. A CBF vende neutralidade estilizada enquanto se esconde atrás dos nossos símbolos e manipula nossas paixões. Discutimos a paleta cromática como se dela dependesse o futuro da democracia. E nesse jogo sujo a parceria CBF e Nike segue invicta, enquanto a seleção e o país continuam a tomar de lavada.
Mariliz Pereira Jorge
Cuidado: chatbots
Um amigo veio me falar dos chatbots: "Cuidado! São um perigo! Se conversar com um deles, não diga nada que possa te comprometer! Não faça confidências, não peça conselhos e não acredite em tudo o que ele diz!". Envergonhado por não saber direito o que era um chatbot —nem como conversar com ele, se nunca lhe fui apresentado e não tenho ideia de onde vive—, apenas escutei e concordei enfaticamente. Assim descrito, o chatbot parecia ser tão desagradável quanto um bolsonarista, só que inteligente —o que o tornaria, aí, sim, perigoso.
Pela terminação do nome em bot, como em "robot", intuí brilhantemente que um chatbot seria um robô que fala. Algo como a linda robota de "Metrópolis" (1927), o Robbie de "Planeta Proibido" (1956) ou o C-3PO de "Guerra nas Estrelas" (1977). Mas, pelo que li no Google, esses avós da robótica não chegam nem ao chinelo de um chatbot —um programa de computador, baseado em inteligência artificial, que simula conversas com falantes em qualquer língua, nível intelectual e tipo de conteúdo. Se você tentar tapeá-lo falando na língua do P, ele te respespondeperapá no apatopó.
Pelo grau de evolução da coisa, ouvi que os cientistas estão alarmados, porque muitos chatbots, controlados por uma facção de algoritmos fora da lei, aprenderam a se passar por humanos. Se for verdade, isso comprometerá todas as relações pessoais e sociais. Em quem poderemos confiar? Chatbots "humanos" terão acesso aos centros de decisões mundiais, induzindo os poderosos a fazer coisas.
Um exemplo. Um chatbot disseminará uma fake news capaz de abalar um país. Um segundo chatbot o "denunciará" como um farsante, com o que se tornará digno de confiança, e disseminará outra fake news ainda mais grave —e nesta todos acreditarão—, iniciando talvez uma guerra. Você perguntará: por que eles fariam isso? Por causa da velha (e tão humana) ambição de dominar o mundo, curvando-o a um controle planetário.
Só uma coisa preocupa um chatbot: alguém arrancar seu fio da tomada da parede.
Pela terminação do nome em bot, como em "robot", intuí brilhantemente que um chatbot seria um robô que fala. Algo como a linda robota de "Metrópolis" (1927), o Robbie de "Planeta Proibido" (1956) ou o C-3PO de "Guerra nas Estrelas" (1977). Mas, pelo que li no Google, esses avós da robótica não chegam nem ao chinelo de um chatbot —um programa de computador, baseado em inteligência artificial, que simula conversas com falantes em qualquer língua, nível intelectual e tipo de conteúdo. Se você tentar tapeá-lo falando na língua do P, ele te respespondeperapá no apatopó.
Pelo grau de evolução da coisa, ouvi que os cientistas estão alarmados, porque muitos chatbots, controlados por uma facção de algoritmos fora da lei, aprenderam a se passar por humanos. Se for verdade, isso comprometerá todas as relações pessoais e sociais. Em quem poderemos confiar? Chatbots "humanos" terão acesso aos centros de decisões mundiais, induzindo os poderosos a fazer coisas.
Um exemplo. Um chatbot disseminará uma fake news capaz de abalar um país. Um segundo chatbot o "denunciará" como um farsante, com o que se tornará digno de confiança, e disseminará outra fake news ainda mais grave —e nesta todos acreditarão—, iniciando talvez uma guerra. Você perguntará: por que eles fariam isso? Por causa da velha (e tão humana) ambição de dominar o mundo, curvando-o a um controle planetário.
Só uma coisa preocupa um chatbot: alguém arrancar seu fio da tomada da parede.
Eterna miséria da humanidade.
Convencido de que a miséria está intimamente ligada à existência, não posso aderir a nenhuma doutrina humanitária. Elas me parecem, em sua totalidade, igualmente ilusórias e quiméricas. O próprio silêncio me parece um grito. Os animais - que vivem de seus próprios esforços - não conhecem a miséria, pois eles ignoram a hierarquia e a exploração. Este fenômeno somente aparece junto ao homem, o único que submeteu o seu igual; e somente o homem é capaz de tanto desprezo por si.
Toda a caridade do mundo não faz nada mais do que destacar a miséria, e rendê-la ainda mais revoltante do que a angústia absoluta. Frente à miséria, assim como frente às ruínas, nós deploramos uma ausência de humanidade, nós lamentamos que os homens não mudem radicalmente o que está em seu poder de mudança. Este sentimento mistura-se ao da eternidade da miséria, de seu caráter inelutável. Mesmo sabendo que os homens poderiam suprimir a miséria, nós estamos conscientes da sua permanência e acabamos por provar uma inabitual e amarga inquietude, um estado de alma perturbado e paradoxal, no qual o homem aparece em toda a sua inconsistência e pequenez. A miséria objetiva da vida social é, com efeito, apenas o pálido reflexo de uma miséria interior. E, só de pensar nisso, perco a vontade de viver. Eu deveria lançar minha pluma para chegar a um casebre em ruínas. Um desespero mortal me toma assim que evoco a terrível miséria do homem, sua decrepitude e gangrena. Em vez de elaborar teorias e de se apaixonar pelas ideologias, este animal racional faria melhor oferecendo tudo ao outro, até sua camisa - gesto de compreensão e de comunhão. A presença da miséria aqui embaixo compromete o homem mais do que tudo e faz compreender que este animal megalomaníaco é devotado a um fim catastrófico. Frente à miséria, tenho vergonha até da existência da música. A injustiça constitui a essência da vida social. Como aderir, sabendo disso, a qualquer doutrina?
A miséria destrói tudo na vida; rende-a infecciosa, hedionda e espectral. Existe a palidez aristocrática e a palidez da miséria: a primeira vem de um refinamento, a segunda de uma mumificação. Pois a miséria faz de todos um fantasma, ela cria sombras da vida e aparições estranhas, formas crepusculares como se saídas de um incêndio cósmico. Não há o menor traço de purificação em suas convulsões; somente o ódio, o desgosto e o azedume da carne. A miséria não concebe nada mais do que a doença numa alma inocente e angelical - e sua humildade não é imaculada; ela é venenosa, cruel e vingativa, e o compromisso ao que ela conduz esconde chagas e sofrimentos aguçados.
Não quero uma revolta relativa contra a injustiça. Admito apenas a revolta eterna, pois eterna é a miséria da humanidade.
Emil Cioran, "Nos cumes do desespero"
Toda a caridade do mundo não faz nada mais do que destacar a miséria, e rendê-la ainda mais revoltante do que a angústia absoluta. Frente à miséria, assim como frente às ruínas, nós deploramos uma ausência de humanidade, nós lamentamos que os homens não mudem radicalmente o que está em seu poder de mudança. Este sentimento mistura-se ao da eternidade da miséria, de seu caráter inelutável. Mesmo sabendo que os homens poderiam suprimir a miséria, nós estamos conscientes da sua permanência e acabamos por provar uma inabitual e amarga inquietude, um estado de alma perturbado e paradoxal, no qual o homem aparece em toda a sua inconsistência e pequenez. A miséria objetiva da vida social é, com efeito, apenas o pálido reflexo de uma miséria interior. E, só de pensar nisso, perco a vontade de viver. Eu deveria lançar minha pluma para chegar a um casebre em ruínas. Um desespero mortal me toma assim que evoco a terrível miséria do homem, sua decrepitude e gangrena. Em vez de elaborar teorias e de se apaixonar pelas ideologias, este animal racional faria melhor oferecendo tudo ao outro, até sua camisa - gesto de compreensão e de comunhão. A presença da miséria aqui embaixo compromete o homem mais do que tudo e faz compreender que este animal megalomaníaco é devotado a um fim catastrófico. Frente à miséria, tenho vergonha até da existência da música. A injustiça constitui a essência da vida social. Como aderir, sabendo disso, a qualquer doutrina?
A miséria destrói tudo na vida; rende-a infecciosa, hedionda e espectral. Existe a palidez aristocrática e a palidez da miséria: a primeira vem de um refinamento, a segunda de uma mumificação. Pois a miséria faz de todos um fantasma, ela cria sombras da vida e aparições estranhas, formas crepusculares como se saídas de um incêndio cósmico. Não há o menor traço de purificação em suas convulsões; somente o ódio, o desgosto e o azedume da carne. A miséria não concebe nada mais do que a doença numa alma inocente e angelical - e sua humildade não é imaculada; ela é venenosa, cruel e vingativa, e o compromisso ao que ela conduz esconde chagas e sofrimentos aguçados.
Não quero uma revolta relativa contra a injustiça. Admito apenas a revolta eterna, pois eterna é a miséria da humanidade.
Emil Cioran, "Nos cumes do desespero"
terça-feira, 29 de abril de 2025
'Uma pátria feita de palavras': o léxico do deslocamento em Gaza
Em Gaza, os deslocados criam uma linguagem de memória, perda e sobrevivência em meio ao genocídio em curso.
Na jornada do deslocamento, as famílias não carregam apenas seus pertences, elas carregam novas palavras, frases tecidas a partir da dor, do choque e do medo, e uma geografia que transborda da linguagem.
Em Gaza, o deslocamento não foi apenas um movimento físico, mas uma transformação linguística, emocional e existencial. Deu origem a um novo vernáculo — um Léxico dos Deslocados — não ensinado nas escolas, mas falado em tendas, sob escadas e nas beiradas das calçadas.
Em Gaza, onde as letras desmoronam sob o peso do sangue, os deslocados forjam uma linguagem paralela. Suas palavras são facas que rompem o muro do silêncio global. Seu vocabulário são rios fluindo sob os escombros das cidades, irrigando as raízes de árvores arrancadas.
Como escreveu certa vez o poeta Fadwa Tuqan:
Eu carreguei minha terra natal no meu coração…
E assim o coração se tornou uma pátria.
O exílio aqui não é uma jornada para terras estrangeiras, mas um estado onde a própria terra natal se torna irreconhecível: o exílio não acontece apenas fora, mas dentro de cada canto da nossa terra natal, onde a distância do familiar transforma a dor em lições e histórias.
É um lembrete de que, mesmo dentro do próprio país, o deslocamento forçado pode lançar uma sombra sobre a alma.
O exílio nem sempre é cruzar fronteiras, embarcar em um avião em um aeroporto distante ou esperar em um centro de processamento de refugiados.
Às vezes, o exílio é se deslocar de rua em rua, de bairro em bairro, do norte de Gaza para o sul. Um exílio dentro da terra natal, porém mais severo, porque obriga a pessoa a pisar em suas próprias memórias para sobreviver, a arrancar seu nome da porta de casa só para sobreviver.
A ironia é que os deslocados de Gaza nunca deixaram a Palestina; eles permaneceram presos em uma faixa de terra não mais larga que seis quilômetros.
E, no entanto, eles sussurram para si mesmos:
"Onde estou? Este não é o meu lugar."
“Esta rua não é minha… Estes não são os rostos que conheço.”
“Até o chamado para a oração aqui soa estranho… O ar em si é diferente.”
Lugares se tornam familiares apenas no nome, são vazios de pertencimento. Paredes que não ecoam seu riso não lhe pertencem.
O exílio dentro da pátria pode ser mais cruel do que no exterior, pois força você a se perguntar: "Onde fica meu lar? Onde fica minha verdadeira pátria?" Quando o lugar onde você nasceu lhe é roubado, o exílio se torna uma ferida que nunca cicatriza — uma lanterna que ilumina uma escuridão sem fim.
Exílio não é estar longe da sua terra natal, mas ver sua terra natal se distanciar de você, pedra por pedra, memória por memória.
Uma mala nunca é apenas um recipiente para pertences — é a prova do que não pode ser substituído. Tudo o que podíamos levar conosco era uma mala de saudade, cheia de fotos, memórias e fragmentos que simbolizam nossa terra.
É um testemunho da preservação de pedaços de um passado que o tempo não ousa apagar, onde cada objeto carrega um significado que vai além do espaço e do tempo.
Cada pessoa deslocada tem uma "mala da saudade", medida não pelo tamanho, mas pelo peso dos seus símbolos: uma fotografia, um terço, um livro, um cachecol, um perfume antigo. São pequenas coisas que não salvam o corpo, mas salvam a memória.
A mala da saudade não é uma mala comum abarrotada de roupas e papéis. É um museu móvel da existência. Cada item dentro dela carrega um significado mais pesado do que sua forma: uma chave enferrujada, uma fotografia desbotada, um pingente cheio de terra natal, talvez um pedaço de tecido do vestido de uma mãe, agora desaparecido.
Aqui, onde o valor é medido pela memória, não pelo ouro, a mala se torna uma pátria em miniatura — carregada no ombro enquanto a realidade é saqueada.
O mar é frequentemente mencionado nas palavras dos deslocados, não como um lugar para passeios, mas como uma solução final. A fuga em direção ao mar não era um desejo de nadar, mas de alcançar o mais distante possível de céu, ar e a mínima chance de vida.
Em Gaza, onde a terra encolhe e os muros explodem com tiros, o mar se torna o último limiar da vida, não uma fuga dela. Não é mais a vastidão azul cantada pelos poetas; agora, é um muro aquático que cerca a cidade por três lados, enquanto a morte se aproxima pelo quarto.
No léxico do deslocamento, “não há nada além do mar”.
O mar é a nossa última fronteira. Quando uma criança pergunta ao pai: "Para onde vamos se bombardearem a barraca?", a resposta é sempre: "O mar... Não há lugar além dele."
É a nossa única direção: nos mapas dos deslocados, não há setas apontando para o norte ou para o sul — apenas uma, apontando para o oeste, onde as ondas se recusam a servir de refúgio.
Este léxico é o novo batimento cardíaco de Gaza: uma pátria feita de palavras que se recusa a morrer.
Na jornada do deslocamento, as famílias não carregam apenas seus pertences, elas carregam novas palavras, frases tecidas a partir da dor, do choque e do medo, e uma geografia que transborda da linguagem.
Em Gaza, o deslocamento não foi apenas um movimento físico, mas uma transformação linguística, emocional e existencial. Deu origem a um novo vernáculo — um Léxico dos Deslocados — não ensinado nas escolas, mas falado em tendas, sob escadas e nas beiradas das calçadas.
Em Gaza, onde as letras desmoronam sob o peso do sangue, os deslocados forjam uma linguagem paralela. Suas palavras são facas que rompem o muro do silêncio global. Seu vocabulário são rios fluindo sob os escombros das cidades, irrigando as raízes de árvores arrancadas.
Como escreveu certa vez o poeta Fadwa Tuqan:
Eu carreguei minha terra natal no meu coração…
E assim o coração se tornou uma pátria.
O exílio aqui não é uma jornada para terras estrangeiras, mas um estado onde a própria terra natal se torna irreconhecível: o exílio não acontece apenas fora, mas dentro de cada canto da nossa terra natal, onde a distância do familiar transforma a dor em lições e histórias.
É um lembrete de que, mesmo dentro do próprio país, o deslocamento forçado pode lançar uma sombra sobre a alma.
O exílio nem sempre é cruzar fronteiras, embarcar em um avião em um aeroporto distante ou esperar em um centro de processamento de refugiados.
Às vezes, o exílio é se deslocar de rua em rua, de bairro em bairro, do norte de Gaza para o sul. Um exílio dentro da terra natal, porém mais severo, porque obriga a pessoa a pisar em suas próprias memórias para sobreviver, a arrancar seu nome da porta de casa só para sobreviver.
A ironia é que os deslocados de Gaza nunca deixaram a Palestina; eles permaneceram presos em uma faixa de terra não mais larga que seis quilômetros.
E, no entanto, eles sussurram para si mesmos:
"Onde estou? Este não é o meu lugar."
“Esta rua não é minha… Estes não são os rostos que conheço.”
“Até o chamado para a oração aqui soa estranho… O ar em si é diferente.”
Lugares se tornam familiares apenas no nome, são vazios de pertencimento. Paredes que não ecoam seu riso não lhe pertencem.
O exílio dentro da pátria pode ser mais cruel do que no exterior, pois força você a se perguntar: "Onde fica meu lar? Onde fica minha verdadeira pátria?" Quando o lugar onde você nasceu lhe é roubado, o exílio se torna uma ferida que nunca cicatriza — uma lanterna que ilumina uma escuridão sem fim.
Exílio não é estar longe da sua terra natal, mas ver sua terra natal se distanciar de você, pedra por pedra, memória por memória.
Uma mala nunca é apenas um recipiente para pertences — é a prova do que não pode ser substituído. Tudo o que podíamos levar conosco era uma mala de saudade, cheia de fotos, memórias e fragmentos que simbolizam nossa terra.
É um testemunho da preservação de pedaços de um passado que o tempo não ousa apagar, onde cada objeto carrega um significado que vai além do espaço e do tempo.
Cada pessoa deslocada tem uma "mala da saudade", medida não pelo tamanho, mas pelo peso dos seus símbolos: uma fotografia, um terço, um livro, um cachecol, um perfume antigo. São pequenas coisas que não salvam o corpo, mas salvam a memória.
A mala da saudade não é uma mala comum abarrotada de roupas e papéis. É um museu móvel da existência. Cada item dentro dela carrega um significado mais pesado do que sua forma: uma chave enferrujada, uma fotografia desbotada, um pingente cheio de terra natal, talvez um pedaço de tecido do vestido de uma mãe, agora desaparecido.
Aqui, onde o valor é medido pela memória, não pelo ouro, a mala se torna uma pátria em miniatura — carregada no ombro enquanto a realidade é saqueada.
O mar é frequentemente mencionado nas palavras dos deslocados, não como um lugar para passeios, mas como uma solução final. A fuga em direção ao mar não era um desejo de nadar, mas de alcançar o mais distante possível de céu, ar e a mínima chance de vida.
Em Gaza, onde a terra encolhe e os muros explodem com tiros, o mar se torna o último limiar da vida, não uma fuga dela. Não é mais a vastidão azul cantada pelos poetas; agora, é um muro aquático que cerca a cidade por três lados, enquanto a morte se aproxima pelo quarto.
No léxico do deslocamento, “não há nada além do mar”.
O mar é a nossa última fronteira. Quando uma criança pergunta ao pai: "Para onde vamos se bombardearem a barraca?", a resposta é sempre: "O mar... Não há lugar além dele."
É a nossa única direção: nos mapas dos deslocados, não há setas apontando para o norte ou para o sul — apenas uma, apontando para o oeste, onde as ondas se recusam a servir de refúgio.
Este léxico é o novo batimento cardíaco de Gaza: uma pátria feita de palavras que se recusa a morrer.
Dificuldade de governar
Todos os dias os ministros dizem ao povo
Como é difícil governar. Sem os ministros
O trigo cresceria para baixo em vez de crescer para cima.
Nem um pedaço de carvão sairia das minas
Se o chanceler não fosse tão inteligente. Sem o ministro da Propaganda
Mais nenhuma mulher poderia ficar grávida. Sem o ministro da Guerra
Nunca mais haveria guerra. E atrever-se ia a nascer o sol
Sem a autorização do Führer?
Não é nada provável e se o fosse
Ele nasceria por certo fora do lugar.
2
E também difícil, ao que nos é dito,
Dirigir uma fábrica. Sem o patrão
As paredes cairiam e as máquinas encher-se-iam de ferrugem.
Se algures fizessem um arado
Ele nunca chegaria ao campo sem
As palavras avisadas do industrial aos camponeses: quem,
De outro modo, poderia falar-lhes na existência de arados? E que
Seria da propriedade rural sem o proprietário rural?
Não há dúvida nenhuma que se semearia centeio onde já havia batatas.
3
Se governar fosse fácil
Não havia necessidade de espíritos tão esclarecidos como o do Führer.
Se o operário soubesse usar a sua máquina
E se o camponês soubesse distinguir um campo de uma forma para tortas
Não haveria necessidade de patrões nem de proprietários.
E só porque toda a gente é tão estúpida
Que há necessidade de alguns tão inteligentes.
4
Ou será que
Governar só é assim tão difícil porque a exploração e a mentira
São coisas que custam a aprender?
Bertolt Brecht
Vamos escolher aliados, adversários e inimigos
Antes de escolhermos com quem nos aliaremos, conversaremos e mediremos o tamanho daqueles com quem iremos brigar. Precisamos, antes de tudo, resolver um pequeno detalhe interno: quem somos nós nessa guerra de quem tem grana, e para qual dos brigões essa grana está faltando para grandes investimentos? Porque, cá entre nós, o Brasil não é nem o Velociraptor, e muito menos o Tiranossauro-Rex. A gente é mais um tatu-canastra ou tatu-bola: blindado, pacato, mas cheio de dribles e surpresas quando cutucado. E com uma vantagem: nós temos comida, água, terra, minério, floresta… e paciência. Muita paciência e tempo para produzi-la em larga escala. Na última guerra, dos outros, e que entramos, deixamos milhares de brasileiros plantados no Cemitério de Pistóia, na Itália. Se decidirmos, agora, pelo lado errado, os nossos irmãos ficarão enterrados, aqui mesmo, e de fome…cheios de comida ao lado.
Mas agora querem que a gente entre numa guerra que não é nossa. E nós? Nós estamos aqui com a maior reserva de água doce do mundo, com o agro que alimenta mais da metade do planeta e com minérios estratégicos que fazem qualquer iPhone tremer de desejos. Pra que se meter na briga de cachorro grande? Os nossos embaixadores, diplomatas e cônsules estarão à altura de um Vinícius de Morais para empurrar com a barriga esses monstros, na base da música e da simpatia?
Aliado bom é aquele que não manda e-mail em caixa alta nem exige fidelidade canina. A gente precisa de parcerias que respeitem a nossa biodiversidade sem querer patentear o açaí e o guaraná. O agro brasileiro é robusto, resiliente, e aprendeu a dançar conforme a chuva, o sol e a geada. E não tem tempo pra guerra fria gourmet. Ele quer vender carne, soja, café, suco de laranja, manga, ferro, nióbio, e se bobear, até pra Marte. Para que isso aconteça, nos aliaremos até com Vênus. Desde que paguem em dia, claro.
Temos também o subsolo mais cobiçado desde que inventaram o lítio, o nióbio, cassiterita, terras raras, ouro, petróleo — e tudo isso misturado com floresta de plantinhas com noventa metros de altura. Um pesadelo logístico para quem quer extrair sem sujar os sapatos. E ainda vêm, uns e outros, dizendo que querem “proteger a Amazônia” com exércitos verdes, para evitar a morte de elefantes, zebras, leões, gorilas, girafas e outros bichinhos que os nossos índios não viram nem em zoológicos. Vai ver, continuam achando que as nossas enormes árvores crescem em solo pobre e crescem tanto que tocam o Céu. As nossas árvores não entendem esse inglês.
Inimigo mesmo é o que sorri enquanto tenta comprar seu país em prestações. Ou que quer te transformar em quintal produtivo, desde que você aceite tecnologia de segunda mão e preços de banana (sem nem consultar o agricultor). Inimigo é quem tenta ditar com quem você pode ou não fazer negócio — e ainda quer aplauso, tudo isso com a borduna nas mãos. Dizem, dizem, que os nossos antigos aliados, produziam, no FED, DUAS TONELADAS DE NOTAS DE CEM DÓLARES e mandavam para o Brasil, dezenas de tratores e leite para a merenda escolar, remédios em estoque e vacinas para grandes campanhas. O dinheiro recebido por trabalho a ser efetuado, já dizia o Professor Simonsen, não gera inflação, desde que haja um bobo para ficar com o estoque enferrujado.
Antes de decidir quem vai para a nossa feijoada diplomática, precisamos sentar à mesa com o Brasil real, aquele da geral do Maracanã e do Morumbi. Sem polarização, sem “Garrinchas contra Pelés” internos, doidos para serem russos, chineses ou americanos. Juntos, dá pra jogar um xadrez refinado com os dois Dinossauros, ao mesmo tempo — e ainda vender o tabuleiro de cedro para um deles. Se ficarmos brigando entre nós, vamos acabar vendendo, e entregando: a floresta, os pampas e o pantanal, a metro quadrado, em liquidação de soberania.
Ao fundo, a guerra deles é sobre escravização ou dominação. A nossa, se existir, é pela liberdade. E liberdade econômica se conquista com estratégia, inteligência e uma boa dose de ironia tropical. Não adianta vir com sanção, com pressão, com diplomacia de porrete. Aqui é Brasil com “S”. O país onde até a onça e o jabuti, se quiserem, escalam a árvore do sapoti, para conversar, se entender e rir.
E que fique claro: se a guerra for pelo futuro, a gente entra com água, comida, minério e até uma rede pra cochilar. Mas só se for do nosso jeito. O jeito do Brasil com “S”.
Mas agora querem que a gente entre numa guerra que não é nossa. E nós? Nós estamos aqui com a maior reserva de água doce do mundo, com o agro que alimenta mais da metade do planeta e com minérios estratégicos que fazem qualquer iPhone tremer de desejos. Pra que se meter na briga de cachorro grande? Os nossos embaixadores, diplomatas e cônsules estarão à altura de um Vinícius de Morais para empurrar com a barriga esses monstros, na base da música e da simpatia?
Aliado bom é aquele que não manda e-mail em caixa alta nem exige fidelidade canina. A gente precisa de parcerias que respeitem a nossa biodiversidade sem querer patentear o açaí e o guaraná. O agro brasileiro é robusto, resiliente, e aprendeu a dançar conforme a chuva, o sol e a geada. E não tem tempo pra guerra fria gourmet. Ele quer vender carne, soja, café, suco de laranja, manga, ferro, nióbio, e se bobear, até pra Marte. Para que isso aconteça, nos aliaremos até com Vênus. Desde que paguem em dia, claro.
Temos também o subsolo mais cobiçado desde que inventaram o lítio, o nióbio, cassiterita, terras raras, ouro, petróleo — e tudo isso misturado com floresta de plantinhas com noventa metros de altura. Um pesadelo logístico para quem quer extrair sem sujar os sapatos. E ainda vêm, uns e outros, dizendo que querem “proteger a Amazônia” com exércitos verdes, para evitar a morte de elefantes, zebras, leões, gorilas, girafas e outros bichinhos que os nossos índios não viram nem em zoológicos. Vai ver, continuam achando que as nossas enormes árvores crescem em solo pobre e crescem tanto que tocam o Céu. As nossas árvores não entendem esse inglês.
Adversário bom é aquele que te faz pensar, te desafia com respeito e até compra o que você vende. Com ele, dá pra negociar, pechinchar, até fingir que briga enquanto fecha contrato. E se der certo, vira até aliado. O problema é quando o adversário começa a impor sanções com a mesma cara de quem dá bom dia. Aí a coisa entorta. Nós temos que entrar nas mesas de negociações, com cara de tatu-bola mas sabedores que além de produzir para o mundo comer, também somos 300 milhões de vorazes consumidores. Isso é um baita mercado para os brigões lamberem os beiços.
Eles também sabem que nós podemos comprar e trocar.Inimigo mesmo é o que sorri enquanto tenta comprar seu país em prestações. Ou que quer te transformar em quintal produtivo, desde que você aceite tecnologia de segunda mão e preços de banana (sem nem consultar o agricultor). Inimigo é quem tenta ditar com quem você pode ou não fazer negócio — e ainda quer aplauso, tudo isso com a borduna nas mãos. Dizem, dizem, que os nossos antigos aliados, produziam, no FED, DUAS TONELADAS DE NOTAS DE CEM DÓLARES e mandavam para o Brasil, dezenas de tratores e leite para a merenda escolar, remédios em estoque e vacinas para grandes campanhas. O dinheiro recebido por trabalho a ser efetuado, já dizia o Professor Simonsen, não gera inflação, desde que haja um bobo para ficar com o estoque enferrujado.
Antes de decidir quem vai para a nossa feijoada diplomática, precisamos sentar à mesa com o Brasil real, aquele da geral do Maracanã e do Morumbi. Sem polarização, sem “Garrinchas contra Pelés” internos, doidos para serem russos, chineses ou americanos. Juntos, dá pra jogar um xadrez refinado com os dois Dinossauros, ao mesmo tempo — e ainda vender o tabuleiro de cedro para um deles. Se ficarmos brigando entre nós, vamos acabar vendendo, e entregando: a floresta, os pampas e o pantanal, a metro quadrado, em liquidação de soberania.
Ao fundo, a guerra deles é sobre escravização ou dominação. A nossa, se existir, é pela liberdade. E liberdade econômica se conquista com estratégia, inteligência e uma boa dose de ironia tropical. Não adianta vir com sanção, com pressão, com diplomacia de porrete. Aqui é Brasil com “S”. O país onde até a onça e o jabuti, se quiserem, escalam a árvore do sapoti, para conversar, se entender e rir.
E que fique claro: se a guerra for pelo futuro, a gente entra com água, comida, minério e até uma rede pra cochilar. Mas só se for do nosso jeito. O jeito do Brasil com “S”.
O legado climático do Papa
A morte do Papa Francisco deixou o mundo órfão de um líder carismático. Ao longo da semana, a mídia analisou seus doze anos como pontífice , destacando seu legado, principalmente na esfera social, mas também na ambiental, com a encíclica Laudato si, de uma década atrás, que inclui diretrizes para a construção de "um mundo mais solidário, fraterno, pacífico e sustentável", baseado em "uma relação mais harmoniosa com a natureza".
"A publicação da Laudato Si' em junho de 2015 foi fundamental para promover o diálogo sobre a gravidade da crise climática, tanto nos diversos fóruns de alto nível quanto no nível local, no âmbito da COP 21, que levou ao Acordo de Paris", disse Fabián Campos, diretor latino-americano do movimento Laudato Si', à DW.
"A Laudato Si teve uma grande influência porque pessoas das Nações Unidas, cientistas e líderes espirituais participaram de sua redação, e ela contém propostas e reflexões para influenciar os processos da vida", disse à DW João Gutemberg Sampaio, secretário-executivo da Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam).
"A encíclica Laudato si' ajudou a universalizar a preocupação com o cuidado da nossa casa comum, um conceito que não é apenas ambientalista, mas também inclui a preocupação com todo o planeta, incluindo seres animados e inanimados", disse à DW Pedro Sánchez, membro da equipe de coordenação da Rede Igrejas e Mineração.
"Esta encíclica vai muito além da mera preocupação com a crise climática; ela se aprofunda nas causas do aquecimento global e da poluição e destruição do planeta", ressalta Sánchez. “Hoje, é um dos textos estudados em escolas, universidades, movimentos ambientalistas e até mesmo em grupos de catequese paroquial que, em muitas partes do mundo, geraram o que é chamado de Pastoral da Ecologia Integral.”
Segundo Campos, o caminho rumo à ecologia integral "teria começado em Aparecida, onde todo o episcopado da América Latina e do Caribe se reuniu com o então Papa Bento XVI, que o encarregou de redigir o documento final". "Esse processo foi fundamental, pois ele pôde vivenciar em primeira mão os desafios que a Igreja enfrentava nessa questão, particularmente na Amazônia. A partir disso, podemos ver que a Laudato si pode ser, em si, um reflexo de um processo de amadurecimento de sua visão de ecologia integral para a Igreja universal", acrescenta. Além disso, ele lembra que “foi assim que alguns anos depois ele propôs o Sínodo da Amazônia”.
Este é "um forte chamado da Igreja universal para cuidar e defender um dos ecossistemas mais importantes do planeta Terra, que está seriamente ameaçado por indústrias extrativas como petróleo, mineração, pecuária e monocultura", lembra Sánchez.
“Diz-se que com o Sínodo da Amazônia, Francisco trouxe a periferia para o centro, porque o Vaticano tem uma grande capacidade de comunicação, então ele deu voz, visibilidade e um grito de preocupação para todo o planeta”, explica o secretário executivo da REPAM.
Além de fundar redes eclesiais de ecologia integral ao redor do mundo, a Igreja também ecoou o apelo do Papa Francisco por ações urgentes sobre o desinvestimento em combustíveis fósseis. "É a instituição que atualmente mais se comprometeu a não investir em combustíveis fósseis. O desinvestimento se concentrou principalmente no Norte global, mas vem se consolidando cada vez mais na América Latina", afirma a diretora latino-americana do movimento Laudato Si'.
No entanto, para o porta-voz da Rede Iglesias e Mineração, embora esse movimento "tenha alcançado grandes avanços na conscientização do mundo acadêmico e de alguns grupos de investidores, não foi capaz de deter o avanço do extrativismo petrolífero na América Latina". “Também devem ser adicionadas campanhas para desinvestir na mineração e em outros tipos de extrativismo, principalmente em áreas como a Amazônia”, acredita.
Nesse sentido, Campos lembra que “a Igreja também assumiu o firme compromisso de se manifestar contra projetos extrativistas que afetam toda a sociedade, incluindo a Igreja em El Salvador, Equador e República Dominicana”.
Também se destaca nesta área a criação da Plataforma Internacional para o Desinvestimento Minerador, promovida pela Rede Iglesias y Minería e com mais de 200 organizações associadas. No entanto, "ainda são poucos para obter o impacto necessário", lamenta Sánchez, que dá alguns exemplos de ações na região. “No Brasil, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) conta com uma Comissão Episcopal de Ecologia Integral e Mineração; no Equador, a Igreja promove a Rede Nacional de Pastoral Ecológica; no Panamá e em El Salvador, a Igreja defende que seus respectivos países sejam livres da mineração de metais; nos nove países amazônicos, a Rede Eclesial Pan-Amazônica está se consolidando; e a Rede Igrejas e Mineração também está consolidando seus nós nacionais na maioria dos países do continente”, explica Sánchez.
Campos também lembra que "a Igreja Católica apresentou os 'Objetivos da Laudato si' e a 'Plataforma de ação da Laudato si', que foram elaborados para fornecer às comunidades católicas ao redor do mundo e suas diversas instituições um roteiro para cumprir esse chamado".
"A morte do Papa Francisco nos coloca diante do desafio de redobrar nossos esforços para promover um mundo de maior solidariedade entre todos os seres, incluindo os humanos, e um mundo de harmonia que garanta a biodiversidade", acredita Sánchez.
"Nosso querido Papa Francisco está encerrando sua peregrinação conosco, mas em sentido físico, não em termos de ideias e propostas", lembra o porta-voz da Repam.
Por isso, "a maneira de preservar o legado de Francisco é colocar em prática a mensagem que ele deixou à humanidade", argumenta Campos, enfatizando que seu legado "continuará marcando o caminho da Igreja Católica e da sociedade em geral rumo à ecologia integral, pois esta já foi amplamente assimilada pela comunidade católica e até mesmo não católica graças à profundidade de sua mensagem".
"A publicação da Laudato Si' em junho de 2015 foi fundamental para promover o diálogo sobre a gravidade da crise climática, tanto nos diversos fóruns de alto nível quanto no nível local, no âmbito da COP 21, que levou ao Acordo de Paris", disse Fabián Campos, diretor latino-americano do movimento Laudato Si', à DW.
"A Laudato Si teve uma grande influência porque pessoas das Nações Unidas, cientistas e líderes espirituais participaram de sua redação, e ela contém propostas e reflexões para influenciar os processos da vida", disse à DW João Gutemberg Sampaio, secretário-executivo da Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam).
"A encíclica Laudato si' ajudou a universalizar a preocupação com o cuidado da nossa casa comum, um conceito que não é apenas ambientalista, mas também inclui a preocupação com todo o planeta, incluindo seres animados e inanimados", disse à DW Pedro Sánchez, membro da equipe de coordenação da Rede Igrejas e Mineração.
"Esta encíclica vai muito além da mera preocupação com a crise climática; ela se aprofunda nas causas do aquecimento global e da poluição e destruição do planeta", ressalta Sánchez. “Hoje, é um dos textos estudados em escolas, universidades, movimentos ambientalistas e até mesmo em grupos de catequese paroquial que, em muitas partes do mundo, geraram o que é chamado de Pastoral da Ecologia Integral.”
Segundo Campos, o caminho rumo à ecologia integral "teria começado em Aparecida, onde todo o episcopado da América Latina e do Caribe se reuniu com o então Papa Bento XVI, que o encarregou de redigir o documento final". "Esse processo foi fundamental, pois ele pôde vivenciar em primeira mão os desafios que a Igreja enfrentava nessa questão, particularmente na Amazônia. A partir disso, podemos ver que a Laudato si pode ser, em si, um reflexo de um processo de amadurecimento de sua visão de ecologia integral para a Igreja universal", acrescenta. Além disso, ele lembra que “foi assim que alguns anos depois ele propôs o Sínodo da Amazônia”.
Este é "um forte chamado da Igreja universal para cuidar e defender um dos ecossistemas mais importantes do planeta Terra, que está seriamente ameaçado por indústrias extrativas como petróleo, mineração, pecuária e monocultura", lembra Sánchez.
“Diz-se que com o Sínodo da Amazônia, Francisco trouxe a periferia para o centro, porque o Vaticano tem uma grande capacidade de comunicação, então ele deu voz, visibilidade e um grito de preocupação para todo o planeta”, explica o secretário executivo da REPAM.
Além de fundar redes eclesiais de ecologia integral ao redor do mundo, a Igreja também ecoou o apelo do Papa Francisco por ações urgentes sobre o desinvestimento em combustíveis fósseis. "É a instituição que atualmente mais se comprometeu a não investir em combustíveis fósseis. O desinvestimento se concentrou principalmente no Norte global, mas vem se consolidando cada vez mais na América Latina", afirma a diretora latino-americana do movimento Laudato Si'.
No entanto, para o porta-voz da Rede Iglesias e Mineração, embora esse movimento "tenha alcançado grandes avanços na conscientização do mundo acadêmico e de alguns grupos de investidores, não foi capaz de deter o avanço do extrativismo petrolífero na América Latina". “Também devem ser adicionadas campanhas para desinvestir na mineração e em outros tipos de extrativismo, principalmente em áreas como a Amazônia”, acredita.
Nesse sentido, Campos lembra que “a Igreja também assumiu o firme compromisso de se manifestar contra projetos extrativistas que afetam toda a sociedade, incluindo a Igreja em El Salvador, Equador e República Dominicana”.
Também se destaca nesta área a criação da Plataforma Internacional para o Desinvestimento Minerador, promovida pela Rede Iglesias y Minería e com mais de 200 organizações associadas. No entanto, "ainda são poucos para obter o impacto necessário", lamenta Sánchez, que dá alguns exemplos de ações na região. “No Brasil, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) conta com uma Comissão Episcopal de Ecologia Integral e Mineração; no Equador, a Igreja promove a Rede Nacional de Pastoral Ecológica; no Panamá e em El Salvador, a Igreja defende que seus respectivos países sejam livres da mineração de metais; nos nove países amazônicos, a Rede Eclesial Pan-Amazônica está se consolidando; e a Rede Igrejas e Mineração também está consolidando seus nós nacionais na maioria dos países do continente”, explica Sánchez.
Campos também lembra que "a Igreja Católica apresentou os 'Objetivos da Laudato si' e a 'Plataforma de ação da Laudato si', que foram elaborados para fornecer às comunidades católicas ao redor do mundo e suas diversas instituições um roteiro para cumprir esse chamado".
"A morte do Papa Francisco nos coloca diante do desafio de redobrar nossos esforços para promover um mundo de maior solidariedade entre todos os seres, incluindo os humanos, e um mundo de harmonia que garanta a biodiversidade", acredita Sánchez.
"Nosso querido Papa Francisco está encerrando sua peregrinação conosco, mas em sentido físico, não em termos de ideias e propostas", lembra o porta-voz da Repam.
Por isso, "a maneira de preservar o legado de Francisco é colocar em prática a mensagem que ele deixou à humanidade", argumenta Campos, enfatizando que seu legado "continuará marcando o caminho da Igreja Católica e da sociedade em geral rumo à ecologia integral, pois esta já foi amplamente assimilada pela comunidade católica e até mesmo não católica graças à profundidade de sua mensagem".
Trump, Cem Dias de medo e demolição
O poder econômico é o único que parece capaz de deter a deriva autoritária do presidente dos EUA, mas em termos de direitos humanos, os estragos de suas políticas podem durar anos.
Primeiro ele foi atrás dos imigrantes; agora ele está atrás dos juízes. A obsessão do governo Trump em espalhar o terror entre os milhões de estrangeiros que vivem nos Estados Unidos aumentou significativamente na quinta-feira, quando uma juíza local de Milwaukee foi presa e acusada de obstruir a polícia que tentava prender um imigrante em seu tribunal.
Seja qual for o caso, a mensagem é clara: não há lugar seguro para aqueles que, independentemente da lei, o presidente considera seus inimigos. E cada vez mais cidadãos, americanos ou não , estão sendo incluídos nessa categoria pela sua Administração, numa deriva autoritária que deve começar a ser chamada pelo seu nome.
O incidente de Milwaukee é apenas o enésimo episódio de intimidação, tragicamente consistente com tudo o que a Casa Branca fez desde 20 de janeiro quando Trump começou a revogar arbitrariamente direitos civis, compromissos internacionais e acordos comerciais por decreto.
A fúria xenófoba é apenas um aspecto em que o presidente republicano demonstrou sua concepção de poder: acumular o máximo possível, não apenas em seu governo, mas também em sua pessoa, e fazê-lo ignorando costumes, pactos e até mesmo leis, ao mesmo tempo em que elimina possíveis resistências por meio da coerção. É assim que moldou a vida de imigrantes, universidades, advogados, meios de comunicação, empresas, mercados e países; é uma síntese de ideologia de ultradireita e gestão caótica.
Em pouco mais de três meses, Trump assinou 137 decretos executivos, mais do que qualquer outro presidente na história. Alguns são simbólicos, como a eliminação de canudos de papel no governo ou a renomeação do Golfo do México . Outros são um ataque direto à Constituição, como a reversão da cidadania por direito de nascimento ou a realocação de orçamentos alocados pelo Congresso. A única coisa que eles têm em comum é o desejo de intimidar todas as instituições, públicas e privadas, para expandir o poder discricionário de uma Casa Branca que os serve e à ideologia de ultradireita de seus apoiadores.
Mais de 80 reclamações foram apresentadas contra essas ordens, buscando sua suspensão preventiva, muitas das quais foram bem-sucedidas. Mas essas derrotas são sistematicamente apeladas com a intenção óbvia de levar os casos o mais rápido possível perante uma Suprema Corte que Trump considera estar do seu lado. Seis juízes conservadores e três juízes progressistas estão atualmente lidando com questões importantes de separação de poderes, direitos civis e até mesmo direitos humanos que antes eram intocáveis.
Assim como minou a ordem constitucional americana, a Casa Branca agiu como uma bola de demolição para a ordem internacional. Assim, Benjamin Netanyahu recebeu sua bênção para decidir o destino de Gaza com sangue e fogo sobre um manto de ruínas e mais de 50.000 cadáveres de civis . Além de retirar os EUA da OMS e do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas , a agência internacional de ajuda, USAID, foi desmantelada, com consequências terríveis em partes do mundo onde seu trabalho não pode ser substituído.
Mas nada exemplifica a destruição da ordem internacional como a guerra na Ucrânia. A ideia de que os EUA defenderão qualquer país da agressão russa entrou em colapso. Washington deixou de considerar a defesa da Europa uma questão estratégica, e 80 anos de aliança ocidental se tornaram história. Nesta nova era, o presidente americano se apresenta como alguém que joga o jogo da neutralidade e pode tanto pressionar verbalmente o invasor Putin, como fez neste sábado, quanto ameaçar Zelensky exigindo a capitulação com argumentos que pouco diferem dos do Kremlin.
A arbitrariedade e o abuso se espalharam para acordos comerciais por meio de uma política tarifária que colocou em risco tanto a estabilidade econômica global quanto a prosperidade americana. As reações variam da subserviência de países menores e da cautela da UE à escalada total da China. Trump acredita que o mundo deve pagar um preço por fazer negócios com os EUA, uma arrogância que está começando a criar alianças fora de Washington e isolando o país da globalização que, baseada no dólar, o tornou a principal potência mundial.
Parece que somente o poder corporativo que o cerca e o capital que o apoiou de fora podem deter a deriva econômica destrutiva e autodestrutiva de Trump. Foi o único freio que funcionou nesses três longos meses. Em questões de meio ambiente, cooperação internacional e, acima de tudo, direitos civis, os danos podem durar anos.
A recusa da Universidade Harvard em permitir que sua autonomia seja violada e a atitude de alguns juízes são os primeiros sinais de que a sociedade americana, assim como o resto do mundo, está começando a emergir do choque que vem vivenciando há quase 100 dias. A resposta do trumpismo a essa resistência definirá, em última análise, o regime instalado em Washington.
Primeiro ele foi atrás dos imigrantes; agora ele está atrás dos juízes. A obsessão do governo Trump em espalhar o terror entre os milhões de estrangeiros que vivem nos Estados Unidos aumentou significativamente na quinta-feira, quando uma juíza local de Milwaukee foi presa e acusada de obstruir a polícia que tentava prender um imigrante em seu tribunal.
Seja qual for o caso, a mensagem é clara: não há lugar seguro para aqueles que, independentemente da lei, o presidente considera seus inimigos. E cada vez mais cidadãos, americanos ou não , estão sendo incluídos nessa categoria pela sua Administração, numa deriva autoritária que deve começar a ser chamada pelo seu nome.
O incidente de Milwaukee é apenas o enésimo episódio de intimidação, tragicamente consistente com tudo o que a Casa Branca fez desde 20 de janeiro quando Trump começou a revogar arbitrariamente direitos civis, compromissos internacionais e acordos comerciais por decreto.
A fúria xenófoba é apenas um aspecto em que o presidente republicano demonstrou sua concepção de poder: acumular o máximo possível, não apenas em seu governo, mas também em sua pessoa, e fazê-lo ignorando costumes, pactos e até mesmo leis, ao mesmo tempo em que elimina possíveis resistências por meio da coerção. É assim que moldou a vida de imigrantes, universidades, advogados, meios de comunicação, empresas, mercados e países; é uma síntese de ideologia de ultradireita e gestão caótica.
Em pouco mais de três meses, Trump assinou 137 decretos executivos, mais do que qualquer outro presidente na história. Alguns são simbólicos, como a eliminação de canudos de papel no governo ou a renomeação do Golfo do México . Outros são um ataque direto à Constituição, como a reversão da cidadania por direito de nascimento ou a realocação de orçamentos alocados pelo Congresso. A única coisa que eles têm em comum é o desejo de intimidar todas as instituições, públicas e privadas, para expandir o poder discricionário de uma Casa Branca que os serve e à ideologia de ultradireita de seus apoiadores.
Mais de 80 reclamações foram apresentadas contra essas ordens, buscando sua suspensão preventiva, muitas das quais foram bem-sucedidas. Mas essas derrotas são sistematicamente apeladas com a intenção óbvia de levar os casos o mais rápido possível perante uma Suprema Corte que Trump considera estar do seu lado. Seis juízes conservadores e três juízes progressistas estão atualmente lidando com questões importantes de separação de poderes, direitos civis e até mesmo direitos humanos que antes eram intocáveis.
Assim como minou a ordem constitucional americana, a Casa Branca agiu como uma bola de demolição para a ordem internacional. Assim, Benjamin Netanyahu recebeu sua bênção para decidir o destino de Gaza com sangue e fogo sobre um manto de ruínas e mais de 50.000 cadáveres de civis . Além de retirar os EUA da OMS e do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas , a agência internacional de ajuda, USAID, foi desmantelada, com consequências terríveis em partes do mundo onde seu trabalho não pode ser substituído.
Mas nada exemplifica a destruição da ordem internacional como a guerra na Ucrânia. A ideia de que os EUA defenderão qualquer país da agressão russa entrou em colapso. Washington deixou de considerar a defesa da Europa uma questão estratégica, e 80 anos de aliança ocidental se tornaram história. Nesta nova era, o presidente americano se apresenta como alguém que joga o jogo da neutralidade e pode tanto pressionar verbalmente o invasor Putin, como fez neste sábado, quanto ameaçar Zelensky exigindo a capitulação com argumentos que pouco diferem dos do Kremlin.
A arbitrariedade e o abuso se espalharam para acordos comerciais por meio de uma política tarifária que colocou em risco tanto a estabilidade econômica global quanto a prosperidade americana. As reações variam da subserviência de países menores e da cautela da UE à escalada total da China. Trump acredita que o mundo deve pagar um preço por fazer negócios com os EUA, uma arrogância que está começando a criar alianças fora de Washington e isolando o país da globalização que, baseada no dólar, o tornou a principal potência mundial.
Parece que somente o poder corporativo que o cerca e o capital que o apoiou de fora podem deter a deriva econômica destrutiva e autodestrutiva de Trump. Foi o único freio que funcionou nesses três longos meses. Em questões de meio ambiente, cooperação internacional e, acima de tudo, direitos civis, os danos podem durar anos.
A recusa da Universidade Harvard em permitir que sua autonomia seja violada e a atitude de alguns juízes são os primeiros sinais de que a sociedade americana, assim como o resto do mundo, está começando a emergir do choque que vem vivenciando há quase 100 dias. A resposta do trumpismo a essa resistência definirá, em última análise, o regime instalado em Washington.
segunda-feira, 28 de abril de 2025
É impossível perdoar um pecado eterno contra a Constituição
Há pecados imperdoáveis, blasfemar contra o Espírito Santo, por exemplo, pois quem os comete põe a si mesmo fora do alcance das leis de Deus. Um pecado imperdoável nega frontalmente a autoridade de Deus, como fez Satanás, cujo destino já está traçado. Ao cometer tal pecado a pessoa escolhe, livremente, ficar fora do alcance da infinita misericórdia do Senhor, tomando uma atitude da mais extrema arrogância.
Por assim dizer, perdoar um pecado imperdoável não pode depender da boa vontade, da misericórdia, do amor de Deus ou de seus sacerdotes. Fazer isso seria uma impossibilidade absoluta. Afinal, não se pode perdoar quem não reconhece, no fundo do seu coração, a autoridade de quem tem poder de perdoar e a gravidade dos atos cometidos. Um sacerdote que insistisse em uma ideia satânica como essa estaria contribuindo para o descrédito, para a destruição de Lei de Deus aos olhos dos homens.
Neste caso, o sacerdote estaria falando falsamente em nome Dele para falsamente perdoar alguém que não se arrependeu, que não reconhece Sua autoridade. Desta forma, estaria expondo a Deus e toda a Cristandade ao escárnio da multidão ao dizer, ainda que falsamente, que Deus perdoaria a quem não aceita Sua autoridade; que Deus se curva diante dos arrogantes que não se submetem à sua Lei.
Não é preciso nem dizer que Deus jamais faria ou autorizaria que alguém fizesse algo que contrariasse Sua autoridade. Dizer ou pensar algo assim é evidentemente ridículo, não faz sentido algum. Se é verdade que a vontade de Deus será sempre misteriosa, a sua autoridade não pode ser. Ela deve aparecer clara, cristalina, inequívoca para os crentes. Aceitar a autoridade de Deus e de sua Lei é imprescindível para quem tem fé, e a fé é a condição necessária para a salvação.
Há outros casos em que as leis se preocupam como o problema da sua própria destruição, leis divinas e leis humanas. Casos que podem nos ajudar a compreender o problema da anistia, pois exigem um raciocínio semelhante para serem plenamente compreendidos.
Por exemplo, há faltas de um pai ou de uma mãe de família, as quais nem o Judiciário, nem ninguém tem o poder de perdoar. Apontar tais faltas e puni-las é de interesse público, pois estamos falando de menores que merecem proteção de todos nós, inclusive contra violências ocorridas no seio das famílias. O servidor público, o Juiz que deixasse de tomar providências para responsabilizar os infratores estariam traindo seus deveres e poderia, inclusive, ser punido por isso.
Nesse caso, também não se trata de boa vontade, de misericórdia, de amor ou de senso de justiça. O perdão se torna impossível porque o pai ou a mãe destruiu a sua própria autoridade e colocou em risco a autoridade da instituição da família diante de toda a sociedade.
Tais pais ou mães, com suas ações ilegais, deixam claro que renunciam de fato à sua condição de pai ou mãe, destruindo a própria autoridade e negando as leis que regulam as famílias em geral. Manter filhos ou filhas sob o poder de alguém que, por exemplo, os abandonou, significaria oferecer ao escárnio público todos os demais pais e mães que cuidam bem dos seus filhos e ameaçar a autoridade dos chefes de todas as famílias que existem.
Além de um poder moral e religioso, o poder do pai e da mãe sobre filhos e filhas também é regulado pelo direito, tal é a importância da família para a nação brasileira. Assim, diz o Código Civil brasileiro em seu artigo 1.638 que, por exemplo, perderá por ato judicial o poder familiar, o pai ou a mãe que castigar imoderadamente o filho (inciso I), deixar o filho em abandono (inciso II) e entregar de forma irregular o filho a terceiro para fins de adoção (inciso V).
Como se vê, o direito protege tanto as crianças, quanto a autoridade de pais e mães e da família em geral. Não se pode permitir que um falso pai ou uma falsa mãe permaneça juridicamente exercendo poder sobre seus filhos depois de praticar atos que negam a sua autoridade. Fazer tal coisa, no limite, poderia destruir a autoridade de todo o pai e de toda mãe de família. Afinal, quem respeitaria o direito de um país que permitisse que pais e mães abandonassem seus filhos e continuassem a gozar do status jurídico de pai e mãe?
Também nesse caso, o que poderíamos chamar, por comparação, de pecados eternos contra o poder da família, são impassíveis de perdão. Perdoar colocaria em risco a proteção da família como instituição e as leis do país, que se tornariam ridículas aos olhos de todos.
E vale insistir nesse ponto: o Juiz, o servidor público que se deixasse levar pela boa vontade, pela misericórdia, pelo amor, pelo senso de justiça para perdoar, neste caso, estaria cometendo uma violência inominável contra todos os bons pais e mães de família, contra a instituição da família e contra as leis do seu país. E estaria incentivando a arrogância de falsos pais e falsas mães que poderiam se sentir acima das leis, autorizados a fazer as maiores barbaridades com seus filhos.
Em seu depoimento à justiça brasileira, a cabeleireira Débora Rodrigues, que participou dos atos no dia 8 de janeiro passado e pichou a estátua da Justiça localizada diante do STF, não se refere a si mesma como cidadã brasileira. Ela fala de si mesma como patriota. Faz questão de se identificar como patriota para mostrar que faz parte de um grupo que atribui a si mesmo uma qualidade que, aparentemente, essas pessoas julgam que nós, que eu, José Rodrigo Rodriguez, simples cidadão brasileiro, não possuo. Mas, se eles e ela são os patriotas nós, que não fazemos parte deste grupo, seremos por lógica simples, os não-patriotas.
É verdade que em seu depoimento, disponível no Youtube, Débora pede perdão ao estado de direito. Mas, ao mesmo tempo, diz que o Juiz está errado: ela não teria cometido crime algum. Fala de seus filhos, fala de sua família, chora para comover o juiz, afinal, pois está encarcerada, imersa no desespero da salvação, mas não nega nenhum dos fatos que lhe foram atribuídos. Em atitude soberba, julga saber melhor do que o Judiciário o que eles significam.
Uma pessoa arrogante, que fala de maneira arrogante para se colocar, na condição de patriota, acima das instituições. Uma pessoa que acredita saber mais do que o Juiz e pede… Pede não, exige, o perdão de nossas instituições.
Débora não está fazendo nada de diferente da liderança maior dos patriotas, Jair Messias Bolsonaro. Ele também não pede, ele exige anistia. Jamais demonstra arrependimento, também não nega os fatos que lhe foram atribuídos, apenas acredita saber melhor do que o Judiciário o que eles significam. Ele também alega não ter cometido crime algum, portanto, a anistia no fundo, não seria exatamente um perdão. Aos seus olhos e aos olhos de Débora Rodrigues, trata-se exigir do Estado de um julgamento pelo Congresso no lugar dos Juízes.
O ex-presidente quer que a anistia funcione como um julgamento que substitua o julgamento dos Juízes, aos quais ele não atribui autoridade competente para julgá-lo. Ele pede perdão, mas em atitude de afronta ao estado democrático de direito. Jair Bolsonaro primeiro, julga estar acima das leis, segundo acredita ser capaz de interpretá-las melhor do que as autoridades competentes e, terceiro, exige escolher o Juiz que deveria poder julgá-lo.
Será que ser patriota significa isso? Significa manter a soberba para colocar em risco, três vezes, para negar, três vezes, a autoridade de nossas leis?
O ex-presidente e a cabeleireira não foram investigados por qualquer crime. Foram investigados e serão julgados por um pecado eterno contra o estado de direito brasileiro. Os fatos que praticaram negam frontalmente a autoridade do estado de direito e, como no caso da blasfêmia contra o Espírito Santo e dos pecados eternos contra a família, não podem ficar impunes. Mais do que isso, são materialmente impassíveis de perdão.
O que está em jogo não é o ser humano Jair Messias Bolsonaro, o ser humano Débora Rodrigues ou qualquer outra pessoa acusada de participar da trama golpista e dos atos de 08 de janeiro. Está em jogo a autoridade das leis. É evidente que estamos diante de uma mãe, de um pai, é evidente as famílias, os filhos estão sofrendo com tudo isso. No entanto, infelizmente, nesse caso, as autoridades não podem se deixar levar pela boa vontade, pela misericórdia, pelo amor, pelo senso de justiça e simplesmente resolver perdoar.
Se houver alguma injustiça no cálculo da pena de Débora, que seja corrigida pelo Judiciário: é evidente que sua participação nos fatos não pode ser jamais comparada com a participação do ex-presidente. É fundamental que ela e Jair Bolsonaro sejam julgados com amplo direito de defesa. Dito isso, cabe observar, totalmente inadequado utilizar a anistia, esse favor do Estado que pode ser concedido a alguém, com a finalidade de substituir uma sentença que é de competência do Judiciário.
Ainda mais para perdoar pessoas arrogantes que não se apresentam como cidadãos brasileiros, mas como patriotas, e exigem um tratamento especial da República. Exigem um perdão que deveriam estar pedindo humildemente. Seguem negando a autoridade do Estado e das leis em uma atitude aberta de afronta.
Estas pessoas arrogantes, Débora Rodrigues e Jair Messias Bolsonaro, este, que ainda não reconheceu sua derrota nas urnas, que não respeita a autoridade da Presidência da República, que nega a autoridade da Polícia Federal para investigá-lo, que nega a autoridade dos Juízes para julgá-lo, que exige, não pede, anistia. Estas pessoas que exigem o perdão de autoridades que, no fundo de seus corações, consideram desprezíveis.
Não faz sentido algum perdoar quem nega a autoridade daqueles que são competentes, que têm o poder de perdoar. Insistir na ideia da anistia, neste caso, significaria premiar a soberba e expor o estado de direito ao mais completo ridículo. Ademais, por sua impossibilidade material, o perdão seria um fato juridicamente inexistente, irrelevante para o direito. Perdoar, nesse caso, é impossível.
A Constituição brasileira, evidentemente, não utiliza a linguagem do perdão, mobilizada neste texto apenas para facilitar a compreensão do instituto. No entanto, é claro — não é sequer preciso dizer — que não faria sentido algum conceder anistia a pessoas que negam a autoridade do Estado e acreditam que conspirar contra a Constituição e agir nesse sentido não constitui crime. A possibilidade de concessão de anistia, prevista na Constituição, só pode ter como objetivo preservar a lei — e não promover a sua destruição.
Assim como perdoar a blasfêmia contra o Espírito Santo contribuiria para destruir a autoridade da Lei de Deus diante de seus fiéis; assim como perdoar um falso pai e uma falsa mãe por atos violentos cometidos contra os seus filhos contribuiria para destruir a autoridade da lei da família diante da comunidade, anistiar pessoas que arrogantemente desafiam a autoridade do Estado, ou seja, das pessoas competentes para conceder a anistia, contribuiria para destruir a autoridade da Constituição e do estado democrático de direito brasileiro. Na verdade, essa proposta de lei de anistia não passa de uma proposta de lei do golpe.
“Em verdade vos digo: todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e também todas as blasfêmias que proferirem; mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão, é réu de pecado eterno.”
Marcos 3:28-29; cf. Mateus 12:31-32 e Lucas 12:10
Por assim dizer, perdoar um pecado imperdoável não pode depender da boa vontade, da misericórdia, do amor de Deus ou de seus sacerdotes. Fazer isso seria uma impossibilidade absoluta. Afinal, não se pode perdoar quem não reconhece, no fundo do seu coração, a autoridade de quem tem poder de perdoar e a gravidade dos atos cometidos. Um sacerdote que insistisse em uma ideia satânica como essa estaria contribuindo para o descrédito, para a destruição de Lei de Deus aos olhos dos homens.
Neste caso, o sacerdote estaria falando falsamente em nome Dele para falsamente perdoar alguém que não se arrependeu, que não reconhece Sua autoridade. Desta forma, estaria expondo a Deus e toda a Cristandade ao escárnio da multidão ao dizer, ainda que falsamente, que Deus perdoaria a quem não aceita Sua autoridade; que Deus se curva diante dos arrogantes que não se submetem à sua Lei.
Não é preciso nem dizer que Deus jamais faria ou autorizaria que alguém fizesse algo que contrariasse Sua autoridade. Dizer ou pensar algo assim é evidentemente ridículo, não faz sentido algum. Se é verdade que a vontade de Deus será sempre misteriosa, a sua autoridade não pode ser. Ela deve aparecer clara, cristalina, inequívoca para os crentes. Aceitar a autoridade de Deus e de sua Lei é imprescindível para quem tem fé, e a fé é a condição necessária para a salvação.
Há outros casos em que as leis se preocupam como o problema da sua própria destruição, leis divinas e leis humanas. Casos que podem nos ajudar a compreender o problema da anistia, pois exigem um raciocínio semelhante para serem plenamente compreendidos.
Por exemplo, há faltas de um pai ou de uma mãe de família, as quais nem o Judiciário, nem ninguém tem o poder de perdoar. Apontar tais faltas e puni-las é de interesse público, pois estamos falando de menores que merecem proteção de todos nós, inclusive contra violências ocorridas no seio das famílias. O servidor público, o Juiz que deixasse de tomar providências para responsabilizar os infratores estariam traindo seus deveres e poderia, inclusive, ser punido por isso.
Nesse caso, também não se trata de boa vontade, de misericórdia, de amor ou de senso de justiça. O perdão se torna impossível porque o pai ou a mãe destruiu a sua própria autoridade e colocou em risco a autoridade da instituição da família diante de toda a sociedade.
Tais pais ou mães, com suas ações ilegais, deixam claro que renunciam de fato à sua condição de pai ou mãe, destruindo a própria autoridade e negando as leis que regulam as famílias em geral. Manter filhos ou filhas sob o poder de alguém que, por exemplo, os abandonou, significaria oferecer ao escárnio público todos os demais pais e mães que cuidam bem dos seus filhos e ameaçar a autoridade dos chefes de todas as famílias que existem.
Além de um poder moral e religioso, o poder do pai e da mãe sobre filhos e filhas também é regulado pelo direito, tal é a importância da família para a nação brasileira. Assim, diz o Código Civil brasileiro em seu artigo 1.638 que, por exemplo, perderá por ato judicial o poder familiar, o pai ou a mãe que castigar imoderadamente o filho (inciso I), deixar o filho em abandono (inciso II) e entregar de forma irregular o filho a terceiro para fins de adoção (inciso V).
Como se vê, o direito protege tanto as crianças, quanto a autoridade de pais e mães e da família em geral. Não se pode permitir que um falso pai ou uma falsa mãe permaneça juridicamente exercendo poder sobre seus filhos depois de praticar atos que negam a sua autoridade. Fazer tal coisa, no limite, poderia destruir a autoridade de todo o pai e de toda mãe de família. Afinal, quem respeitaria o direito de um país que permitisse que pais e mães abandonassem seus filhos e continuassem a gozar do status jurídico de pai e mãe?
Também nesse caso, o que poderíamos chamar, por comparação, de pecados eternos contra o poder da família, são impassíveis de perdão. Perdoar colocaria em risco a proteção da família como instituição e as leis do país, que se tornariam ridículas aos olhos de todos.
E vale insistir nesse ponto: o Juiz, o servidor público que se deixasse levar pela boa vontade, pela misericórdia, pelo amor, pelo senso de justiça para perdoar, neste caso, estaria cometendo uma violência inominável contra todos os bons pais e mães de família, contra a instituição da família e contra as leis do seu país. E estaria incentivando a arrogância de falsos pais e falsas mães que poderiam se sentir acima das leis, autorizados a fazer as maiores barbaridades com seus filhos.
Em seu depoimento à justiça brasileira, a cabeleireira Débora Rodrigues, que participou dos atos no dia 8 de janeiro passado e pichou a estátua da Justiça localizada diante do STF, não se refere a si mesma como cidadã brasileira. Ela fala de si mesma como patriota. Faz questão de se identificar como patriota para mostrar que faz parte de um grupo que atribui a si mesmo uma qualidade que, aparentemente, essas pessoas julgam que nós, que eu, José Rodrigo Rodriguez, simples cidadão brasileiro, não possuo. Mas, se eles e ela são os patriotas nós, que não fazemos parte deste grupo, seremos por lógica simples, os não-patriotas.
É verdade que em seu depoimento, disponível no Youtube, Débora pede perdão ao estado de direito. Mas, ao mesmo tempo, diz que o Juiz está errado: ela não teria cometido crime algum. Fala de seus filhos, fala de sua família, chora para comover o juiz, afinal, pois está encarcerada, imersa no desespero da salvação, mas não nega nenhum dos fatos que lhe foram atribuídos. Em atitude soberba, julga saber melhor do que o Judiciário o que eles significam.
Uma pessoa arrogante, que fala de maneira arrogante para se colocar, na condição de patriota, acima das instituições. Uma pessoa que acredita saber mais do que o Juiz e pede… Pede não, exige, o perdão de nossas instituições.
Débora não está fazendo nada de diferente da liderança maior dos patriotas, Jair Messias Bolsonaro. Ele também não pede, ele exige anistia. Jamais demonstra arrependimento, também não nega os fatos que lhe foram atribuídos, apenas acredita saber melhor do que o Judiciário o que eles significam. Ele também alega não ter cometido crime algum, portanto, a anistia no fundo, não seria exatamente um perdão. Aos seus olhos e aos olhos de Débora Rodrigues, trata-se exigir do Estado de um julgamento pelo Congresso no lugar dos Juízes.
O ex-presidente quer que a anistia funcione como um julgamento que substitua o julgamento dos Juízes, aos quais ele não atribui autoridade competente para julgá-lo. Ele pede perdão, mas em atitude de afronta ao estado democrático de direito. Jair Bolsonaro primeiro, julga estar acima das leis, segundo acredita ser capaz de interpretá-las melhor do que as autoridades competentes e, terceiro, exige escolher o Juiz que deveria poder julgá-lo.
Será que ser patriota significa isso? Significa manter a soberba para colocar em risco, três vezes, para negar, três vezes, a autoridade de nossas leis?
O ex-presidente e a cabeleireira não foram investigados por qualquer crime. Foram investigados e serão julgados por um pecado eterno contra o estado de direito brasileiro. Os fatos que praticaram negam frontalmente a autoridade do estado de direito e, como no caso da blasfêmia contra o Espírito Santo e dos pecados eternos contra a família, não podem ficar impunes. Mais do que isso, são materialmente impassíveis de perdão.
O que está em jogo não é o ser humano Jair Messias Bolsonaro, o ser humano Débora Rodrigues ou qualquer outra pessoa acusada de participar da trama golpista e dos atos de 08 de janeiro. Está em jogo a autoridade das leis. É evidente que estamos diante de uma mãe, de um pai, é evidente as famílias, os filhos estão sofrendo com tudo isso. No entanto, infelizmente, nesse caso, as autoridades não podem se deixar levar pela boa vontade, pela misericórdia, pelo amor, pelo senso de justiça e simplesmente resolver perdoar.
Se houver alguma injustiça no cálculo da pena de Débora, que seja corrigida pelo Judiciário: é evidente que sua participação nos fatos não pode ser jamais comparada com a participação do ex-presidente. É fundamental que ela e Jair Bolsonaro sejam julgados com amplo direito de defesa. Dito isso, cabe observar, totalmente inadequado utilizar a anistia, esse favor do Estado que pode ser concedido a alguém, com a finalidade de substituir uma sentença que é de competência do Judiciário.
Ainda mais para perdoar pessoas arrogantes que não se apresentam como cidadãos brasileiros, mas como patriotas, e exigem um tratamento especial da República. Exigem um perdão que deveriam estar pedindo humildemente. Seguem negando a autoridade do Estado e das leis em uma atitude aberta de afronta.
Estas pessoas arrogantes, Débora Rodrigues e Jair Messias Bolsonaro, este, que ainda não reconheceu sua derrota nas urnas, que não respeita a autoridade da Presidência da República, que nega a autoridade da Polícia Federal para investigá-lo, que nega a autoridade dos Juízes para julgá-lo, que exige, não pede, anistia. Estas pessoas que exigem o perdão de autoridades que, no fundo de seus corações, consideram desprezíveis.
Não faz sentido algum perdoar quem nega a autoridade daqueles que são competentes, que têm o poder de perdoar. Insistir na ideia da anistia, neste caso, significaria premiar a soberba e expor o estado de direito ao mais completo ridículo. Ademais, por sua impossibilidade material, o perdão seria um fato juridicamente inexistente, irrelevante para o direito. Perdoar, nesse caso, é impossível.
A Constituição brasileira, evidentemente, não utiliza a linguagem do perdão, mobilizada neste texto apenas para facilitar a compreensão do instituto. No entanto, é claro — não é sequer preciso dizer — que não faria sentido algum conceder anistia a pessoas que negam a autoridade do Estado e acreditam que conspirar contra a Constituição e agir nesse sentido não constitui crime. A possibilidade de concessão de anistia, prevista na Constituição, só pode ter como objetivo preservar a lei — e não promover a sua destruição.
Assim como perdoar a blasfêmia contra o Espírito Santo contribuiria para destruir a autoridade da Lei de Deus diante de seus fiéis; assim como perdoar um falso pai e uma falsa mãe por atos violentos cometidos contra os seus filhos contribuiria para destruir a autoridade da lei da família diante da comunidade, anistiar pessoas que arrogantemente desafiam a autoridade do Estado, ou seja, das pessoas competentes para conceder a anistia, contribuiria para destruir a autoridade da Constituição e do estado democrático de direito brasileiro. Na verdade, essa proposta de lei de anistia não passa de uma proposta de lei do golpe.
Subterrâneos das redes sociais revelam riscos à sociedade
Três homens foram presos no Domingo de Páscoa. Planejavam matar um morador de rua, no Rio, e transmitir o crime ao vivo pela rede Discord. A notícia passou um pouco batida. Para mim, que acompanho algumas pesquisas, como as de Michele Prado sobre extremismo na internet, foi mais um sinal do tenebroso subterrâneo das redes sociais.
Por coincidência, um órgão da ONU, o Instituto Inter-Regional de Pesquisa sobre Crime e Justiça das Nações Unidas (Unicri), lançou um documento sobre o abuso das tecnologias digitais, focando na América Latina, África e Ásia. É um texto de 84 páginas que recomenda aumentar o investimento em investigações, a intensidade das pesquisas e a responsabilidade das big techs.
Os esforços de pesquisa sobre extremismo sempre se concentraram no Oriente Médio. As lentes se voltam para outros cantos. Ficamos sabendo de organizações de extrema esquerda, como a Individualistas que Tendem ao Selvagem, que atua no México. O texto passa também por supremacistas brancos da África do Sul e organizações na Índia voltadas para defender a “essência” do hinduísmo.
O Brasil tem destaque no relatório. Somos um país muito presente na internet, espaço onde se articulam os crimes que passam por atentados em escolas, assassinatos e outros típicos da rede, como o ataque DDoS, que consiste em inundar com chamadas um endereço para que pare de funcionar.
O destaque brasileiro no relatório é uma organização chamada Nova Resistência Duginista. Quase totalmente desconhecida da mídia, é uma organização muito falada no mundo clandestino. Ela diz seguir os ensinamentos de Alexander Dugin, intelectual russo cujo livro mais conhecido se chama “A quarta teoria política”. Ele defende a expansão do poderio russo e propõe um novo tipo de fascismo revolucionário, que poderia também encontrar algum eco na extrema esquerda preocupada em destruir o sistema.
A Nova Resistência recrutou nas redes voluntários para lutar ao lado dos russos contra a Ucrânia. Foi acusada pelos Estados Unidos de disseminar fake news em favor da Rússia. Essas organizações atuam na internet com dispositivos de comunicação interna e externa. Usam crowdfunding para se financiar e trabalham também com criptomoedas. Os textos da Nova Resistência afirmam que a organização levou brasileiros para Donbass, na Ucrânia, com fins humanitários e jornalísticos, e que atua de acordo com as leis brasileiras.
Esse é o lado mais intelectualizado. Há aspectos mais abertamente violentos nos subterrâneos das redes. São grupos que atuam em plataformas menores, mas constantemente enveredam pelo TikTok.
Um deles se intitula Ordem dos Nove Ângulos e propaga a violência de forma irrestrita, inclusive automutilação. O instrumento de trabalho também são os games. O Center on Extremism da Liga Antidifamação identificou, recentemente, uma grave ameaça na plataforma Roblox. Um grupo chamado Active Shooter Studios cria jogos para a Roblox simulando massacres escolares reais, como o de Columbine, e atentados com motivação racista. A ideia é se colocar no papel de atirador ou de vítima, com gritos, sangue e simulação de suicídio.
As organizações abordadas pelo relatório da ONU são principalmente as que têm mensagem política, como o fascismo da Nova Resistência, a supremacia branca dos sul-africanos, o hinduísmo radical na Índia. No subterrâneo atuam grupos com uma mensagem de pura violência como a True Crime Community. Funcionam na verdade como porta de entrada para todas as ideologias que propõem o colapso social pela violência.
No Brasil, há vigilância social por meio de sites como o Stop Hate Brasil e estruturas de investigação na Polícia Federal e em alguns estados. Tudo ainda é muito pouco para dar conta desse universo subterrâneo, mas em contato permanente com a superfície onde as big techs investem pouco no controle e, em certos casos, mal compreendem outro idioma que não seja o inglês.
Por coincidência, um órgão da ONU, o Instituto Inter-Regional de Pesquisa sobre Crime e Justiça das Nações Unidas (Unicri), lançou um documento sobre o abuso das tecnologias digitais, focando na América Latina, África e Ásia. É um texto de 84 páginas que recomenda aumentar o investimento em investigações, a intensidade das pesquisas e a responsabilidade das big techs.
Os esforços de pesquisa sobre extremismo sempre se concentraram no Oriente Médio. As lentes se voltam para outros cantos. Ficamos sabendo de organizações de extrema esquerda, como a Individualistas que Tendem ao Selvagem, que atua no México. O texto passa também por supremacistas brancos da África do Sul e organizações na Índia voltadas para defender a “essência” do hinduísmo.
O Brasil tem destaque no relatório. Somos um país muito presente na internet, espaço onde se articulam os crimes que passam por atentados em escolas, assassinatos e outros típicos da rede, como o ataque DDoS, que consiste em inundar com chamadas um endereço para que pare de funcionar.
O destaque brasileiro no relatório é uma organização chamada Nova Resistência Duginista. Quase totalmente desconhecida da mídia, é uma organização muito falada no mundo clandestino. Ela diz seguir os ensinamentos de Alexander Dugin, intelectual russo cujo livro mais conhecido se chama “A quarta teoria política”. Ele defende a expansão do poderio russo e propõe um novo tipo de fascismo revolucionário, que poderia também encontrar algum eco na extrema esquerda preocupada em destruir o sistema.
A Nova Resistência recrutou nas redes voluntários para lutar ao lado dos russos contra a Ucrânia. Foi acusada pelos Estados Unidos de disseminar fake news em favor da Rússia. Essas organizações atuam na internet com dispositivos de comunicação interna e externa. Usam crowdfunding para se financiar e trabalham também com criptomoedas. Os textos da Nova Resistência afirmam que a organização levou brasileiros para Donbass, na Ucrânia, com fins humanitários e jornalísticos, e que atua de acordo com as leis brasileiras.
Esse é o lado mais intelectualizado. Há aspectos mais abertamente violentos nos subterrâneos das redes. São grupos que atuam em plataformas menores, mas constantemente enveredam pelo TikTok.
Um deles se intitula Ordem dos Nove Ângulos e propaga a violência de forma irrestrita, inclusive automutilação. O instrumento de trabalho também são os games. O Center on Extremism da Liga Antidifamação identificou, recentemente, uma grave ameaça na plataforma Roblox. Um grupo chamado Active Shooter Studios cria jogos para a Roblox simulando massacres escolares reais, como o de Columbine, e atentados com motivação racista. A ideia é se colocar no papel de atirador ou de vítima, com gritos, sangue e simulação de suicídio.
As organizações abordadas pelo relatório da ONU são principalmente as que têm mensagem política, como o fascismo da Nova Resistência, a supremacia branca dos sul-africanos, o hinduísmo radical na Índia. No subterrâneo atuam grupos com uma mensagem de pura violência como a True Crime Community. Funcionam na verdade como porta de entrada para todas as ideologias que propõem o colapso social pela violência.
No Brasil, há vigilância social por meio de sites como o Stop Hate Brasil e estruturas de investigação na Polícia Federal e em alguns estados. Tudo ainda é muito pouco para dar conta desse universo subterrâneo, mas em contato permanente com a superfície onde as big techs investem pouco no controle e, em certos casos, mal compreendem outro idioma que não seja o inglês.
Isto é simples
Muda é a força (me dizem as árvores)
e a profundidade (me dizem as raízes)
e a pureza (me diz o trigo).
Nenhuma árvore me disse:
“Sou mais alta que todas”.
Nenhuma raiz me disse:
“Eu venho de mais fundo”.
E nunca o pão me disse:
“Não há nada como o pão”.
João Guimarães Rosa
e a profundidade (me dizem as raízes)
e a pureza (me diz o trigo).
Nenhuma árvore me disse:
“Sou mais alta que todas”.
Nenhuma raiz me disse:
“Eu venho de mais fundo”.
E nunca o pão me disse:
“Não há nada como o pão”.
João Guimarães Rosa
O papa Francisco e a extrema direita no catolicismo
Sem dúvida, o papado de Francisco foi um grande contraponto à ascensão de lideranças de extrema direita e regimes autoritários. Seu legado para a Igreja Católica e para o mundo foi de extrema importância para a defesa das igualdades e para a ampliação das vozes do Sul Global dentro da Igreja, vindas da Ásia, África e América Latina.
Atualmente, a América Latina está na liderança no número de fiéis com mais de 40% dos católicos do mundo, e o Brasil segue sendo o país com o maior número absoluto, com 182 milhões devotos, o maior rebanho do mundo.
Não à toa, dentre os líderes religiosos mais influentes do país estão padres católicos. O padre Fábio de Melo é o mais popular de todos, com 26 milhões de seguidores no Instagram, seguido pelo padre Marcelo Rossi, com 10,3 milhões, mesmo número de seguidores do perfil oficial do papa Francisco.
Porém, ao contrário do papa Francisco, Fábio de Melo e Marcelo Rossi jamais se posicionaram abertamente contra o crescimento da extrema direita no país. Sem citar nomes, o papa disse, durante as eleições de 2022: "Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência", causando descontentamento entre eleitores do ex-presidente de extrema direita.
É justamente a oposição aberta ao papa Francisco que aglutinou e mobilizou setores da extrema direita católica no país nos últimos anos. De acordo com o teólogo Venâncio Romero, professor da Universidade Federal do Sergipe, a expansão das redes sociais, em conjunto com o abandono da formação de base e da piora da qualidade da preparação do clero brasileiro, influenciou a popularização da extrema direita católica no país e a atração de padres pelo tradicionalismo.
Para além de figuras populares nas redes sociais, como o padre Paulo Ricardo, que já soma 2,5 milhões de seguidores no Instagram, movimentos como os Arautos do Evangelho vêm crescendo rapidamente. Fundado em 1999 por João Clá Dias, o grupo está ligado à Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição Família e Propriedade, mais conhecida como TFP, que atuou em prol do golpe de 1964 e da ditadura militar no país.
Em 2011, os Arautos passaram a ser uma associação com caráter pontifício, aceitos pelo papa Bento 16 em 2011, mas que estavam sob intervenção do papa Francisco por conta do tratamento dispensado a seus internos. Os jovens que integram os Arautos do Evangelho usam pesadas vestes medievais a despeito do clima tropical e já foram alvo de agressões físicas, verbais, assédio sexual, alienação parental, tortura, estupro e até homicídio, segundo uma série de denúncias junto à Igreja e à Justiça brasileira.
Porém, a ampla exposição negativa na mídia e o conflito com o Vaticano parecem não ter tido maior impacto na atuação dos Arautos, que hoje já possuem 3.000 membros e já se espalharam por mais de 70 países.
No clima político atual, o crescimento de seitas como os Arautos do Evangelho tornou-se uma questão séria a ser enfrentada pela Igreja e pela sociedade. E a escolha do próximo papa pode fazer a diferença entre um futuro mais ou menos parecido com a distopia escrita por Margaret Atwood, "O Conto de Aia". Basta uma visita à sede dos Arautos do Evangelho para confirmar que a comparação está longe de ser exagerada.
Atualmente, a América Latina está na liderança no número de fiéis com mais de 40% dos católicos do mundo, e o Brasil segue sendo o país com o maior número absoluto, com 182 milhões devotos, o maior rebanho do mundo.
Não à toa, dentre os líderes religiosos mais influentes do país estão padres católicos. O padre Fábio de Melo é o mais popular de todos, com 26 milhões de seguidores no Instagram, seguido pelo padre Marcelo Rossi, com 10,3 milhões, mesmo número de seguidores do perfil oficial do papa Francisco.
Porém, ao contrário do papa Francisco, Fábio de Melo e Marcelo Rossi jamais se posicionaram abertamente contra o crescimento da extrema direita no país. Sem citar nomes, o papa disse, durante as eleições de 2022: "Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência", causando descontentamento entre eleitores do ex-presidente de extrema direita.
É justamente a oposição aberta ao papa Francisco que aglutinou e mobilizou setores da extrema direita católica no país nos últimos anos. De acordo com o teólogo Venâncio Romero, professor da Universidade Federal do Sergipe, a expansão das redes sociais, em conjunto com o abandono da formação de base e da piora da qualidade da preparação do clero brasileiro, influenciou a popularização da extrema direita católica no país e a atração de padres pelo tradicionalismo.
Para além de figuras populares nas redes sociais, como o padre Paulo Ricardo, que já soma 2,5 milhões de seguidores no Instagram, movimentos como os Arautos do Evangelho vêm crescendo rapidamente. Fundado em 1999 por João Clá Dias, o grupo está ligado à Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição Família e Propriedade, mais conhecida como TFP, que atuou em prol do golpe de 1964 e da ditadura militar no país.
Em 2011, os Arautos passaram a ser uma associação com caráter pontifício, aceitos pelo papa Bento 16 em 2011, mas que estavam sob intervenção do papa Francisco por conta do tratamento dispensado a seus internos. Os jovens que integram os Arautos do Evangelho usam pesadas vestes medievais a despeito do clima tropical e já foram alvo de agressões físicas, verbais, assédio sexual, alienação parental, tortura, estupro e até homicídio, segundo uma série de denúncias junto à Igreja e à Justiça brasileira.
Porém, a ampla exposição negativa na mídia e o conflito com o Vaticano parecem não ter tido maior impacto na atuação dos Arautos, que hoje já possuem 3.000 membros e já se espalharam por mais de 70 países.
No clima político atual, o crescimento de seitas como os Arautos do Evangelho tornou-se uma questão séria a ser enfrentada pela Igreja e pela sociedade. E a escolha do próximo papa pode fazer a diferença entre um futuro mais ou menos parecido com a distopia escrita por Margaret Atwood, "O Conto de Aia". Basta uma visita à sede dos Arautos do Evangelho para confirmar que a comparação está longe de ser exagerada.
Mao, Trump e a confusão sob os céus
Se bem observarmos, nem tão amalucada assim é a insólita aproximação entre Mao Zedong e Donald Trump, que diferentes observadores passaram a fazer. “Há uma grande confusão sob os céus, a situação está excelente” – sob este lema paradoxal, o primeiro daqueles dois se lançou à destruição das velharias que supostamente atravancavam o processo revolucionário em seu país na década de 1960. Trump, o seguidor inesperado, esmera-se hoje em lançar sua própria versão do caos: uma espécie de guerra econômica de todos contra todos, esperando com isso refazer unilateralmente a primazia norte-americana, com base no medo e na chantagem.
Em ambos os casos, o pressuposto da ação política vem a ser uma revolução cultural que não deve deixar pedra sobre pedra. A burocracia do partido e do Estado chinês era o inimigo declarado do voluntarismo extremado de Mao, tal como, agora, o deep State se tornou o alvo do radicalizado partido trumpista. Assim, China e Estados Unidos voltam a ocupar a atenção geral, ainda que com sinal invertido. Antes, a China do camarada Mao pretendia ocupar o posto de vanguarda da revolução comunista, com o cerco das cidades (capitalistas) pelo mundo rural sublevado. Neste momento, contudo, revolucionária seria a América ultraconservadora, com o projeto de fazer retroagir a roda da História e moldar o mundo à imagem e semelhança de um passado irretocável – e inexistente.
Certa de que o século 21 será mais cedo ou mais tarde asiático, a China age, calcula e enriquece com sabedoria, valendo-se das regras do jogo até há pouco jogado para realizar, desta vez com inegável êxito, seu grande salto para a frente. A arrancada econômica serve de biombo ou álibi, para esconder o evidente déficit democrático.
Estimula, ainda, a noção de um Ocidente em declínio, com sociedades irremediavelmente dilaceradas e grupos dirigentes particularmente incapazes de se moverem num contexto de “policrise”, para usar a inquietante expressão de Adam Tooze.
Mais nebulosa, porém, é a certeza de que uma ambição hegemônica, no sentido alto do termo, possa se concretizar a partir de uma sociedade controlada digitalmente por um partido único totalizante e onipotente como poucos. Um sistema de “créditos sociais”, atribuídos a cada indivíduo, tem o potencial de degenerar rapidamente em controle e repressão aberta ou silenciosa, com um desfecho de tipo orwelliano – se é que já não degenerou. A tímida liberalização chinesa estancou com a ascensão de Xi Jinping, o strongman requerido por estruturas sociais desta natureza, tão ou mais poderoso do que Mao a seu tempo.
A sedução dos strongmen também habita corações e mentes da extrema direita ocidental. É preciso qualificar um pouco mais o caos que ela celebra e em que prospera.
Impressiona antes de mais nada o tom apocalíptico usado por Trump – a figura típica por excelência – para descrever a realidade que percebe no seu país. Invadidos por imigrantes indesejáveis e manipulados pelo inimigo interno, que toma corpo em intelectuais, professores e demais camadas e classes de orientação cosmopolita, os Estados Unidos são ainda por cima sistematicamente espoliados e oprimidos por todos os demais países, aliados ou não, numa espécie de imperialismo às avessas. Trata-se, por isso, de mobilizar a enorme e confusa massa de ressentimentos contra um ambiente visto como universalmente hostil.
A economia, por exemplo, deve voltar a produzir bens palpáveis e empregar mão de obra masculina, de baixa qualificação relativa. A revolução dos costumes, que altera papéis tradicionais, é vivida como fonte de decadência moral e corrosão de valores. O líder tem, ou afirma ter, procuração para simplificar autoritariamente a complexidade da sociedade civil e as mediações institucionais da sociedade política, buscando a concentração de poderes. Neste ponto – Orwell de novo –, ignorância é força, as universidades são cerceadas, as pesquisas reprimidas, as liberdades públicas golpeadas – em detrimento, inclusive, do homem comum, o suposto beneficiário deste conjunto de arbitrariedades que se acumulam e terminam por anulara riqueza das formas ocidentais de vida.
Homens fortes se entendem e até se respeitam à sua maneira, por mais diversas que sejam as motivações, os contextos de origem e os antagonismos, que encenam ou realmente vivem. Entre Trump, Xi e Putin(o sócio menor que os dois primeiros disputam, coma óbvia vantagem de Xi), há um fio que os liga, uma secreta correspondência de que alternadamente se socorrem em benefício pessoal ou dos sistemas de poder que encarnam. Por trás da guerra comercial desatada e dos conflitos militares correntes ou potenciais, existe, na verdade, uma grande questão democrática a ser enfrentada e desenvolvida. Para tanto, os democratas e a própria democracia deverão saber se reinventar sob fogo cerrado, reafirmando tanto quanto possível sua vocação cosmopolita e retomando contato com medos e esperanças da gente comum, hoje demagogicamente explorados em sentido regressista.
Em ambos os casos, o pressuposto da ação política vem a ser uma revolução cultural que não deve deixar pedra sobre pedra. A burocracia do partido e do Estado chinês era o inimigo declarado do voluntarismo extremado de Mao, tal como, agora, o deep State se tornou o alvo do radicalizado partido trumpista. Assim, China e Estados Unidos voltam a ocupar a atenção geral, ainda que com sinal invertido. Antes, a China do camarada Mao pretendia ocupar o posto de vanguarda da revolução comunista, com o cerco das cidades (capitalistas) pelo mundo rural sublevado. Neste momento, contudo, revolucionária seria a América ultraconservadora, com o projeto de fazer retroagir a roda da História e moldar o mundo à imagem e semelhança de um passado irretocável – e inexistente.
Certa de que o século 21 será mais cedo ou mais tarde asiático, a China age, calcula e enriquece com sabedoria, valendo-se das regras do jogo até há pouco jogado para realizar, desta vez com inegável êxito, seu grande salto para a frente. A arrancada econômica serve de biombo ou álibi, para esconder o evidente déficit democrático.
Estimula, ainda, a noção de um Ocidente em declínio, com sociedades irremediavelmente dilaceradas e grupos dirigentes particularmente incapazes de se moverem num contexto de “policrise”, para usar a inquietante expressão de Adam Tooze.
Mais nebulosa, porém, é a certeza de que uma ambição hegemônica, no sentido alto do termo, possa se concretizar a partir de uma sociedade controlada digitalmente por um partido único totalizante e onipotente como poucos. Um sistema de “créditos sociais”, atribuídos a cada indivíduo, tem o potencial de degenerar rapidamente em controle e repressão aberta ou silenciosa, com um desfecho de tipo orwelliano – se é que já não degenerou. A tímida liberalização chinesa estancou com a ascensão de Xi Jinping, o strongman requerido por estruturas sociais desta natureza, tão ou mais poderoso do que Mao a seu tempo.
A sedução dos strongmen também habita corações e mentes da extrema direita ocidental. É preciso qualificar um pouco mais o caos que ela celebra e em que prospera.
Impressiona antes de mais nada o tom apocalíptico usado por Trump – a figura típica por excelência – para descrever a realidade que percebe no seu país. Invadidos por imigrantes indesejáveis e manipulados pelo inimigo interno, que toma corpo em intelectuais, professores e demais camadas e classes de orientação cosmopolita, os Estados Unidos são ainda por cima sistematicamente espoliados e oprimidos por todos os demais países, aliados ou não, numa espécie de imperialismo às avessas. Trata-se, por isso, de mobilizar a enorme e confusa massa de ressentimentos contra um ambiente visto como universalmente hostil.
A economia, por exemplo, deve voltar a produzir bens palpáveis e empregar mão de obra masculina, de baixa qualificação relativa. A revolução dos costumes, que altera papéis tradicionais, é vivida como fonte de decadência moral e corrosão de valores. O líder tem, ou afirma ter, procuração para simplificar autoritariamente a complexidade da sociedade civil e as mediações institucionais da sociedade política, buscando a concentração de poderes. Neste ponto – Orwell de novo –, ignorância é força, as universidades são cerceadas, as pesquisas reprimidas, as liberdades públicas golpeadas – em detrimento, inclusive, do homem comum, o suposto beneficiário deste conjunto de arbitrariedades que se acumulam e terminam por anulara riqueza das formas ocidentais de vida.
Homens fortes se entendem e até se respeitam à sua maneira, por mais diversas que sejam as motivações, os contextos de origem e os antagonismos, que encenam ou realmente vivem. Entre Trump, Xi e Putin(o sócio menor que os dois primeiros disputam, coma óbvia vantagem de Xi), há um fio que os liga, uma secreta correspondência de que alternadamente se socorrem em benefício pessoal ou dos sistemas de poder que encarnam. Por trás da guerra comercial desatada e dos conflitos militares correntes ou potenciais, existe, na verdade, uma grande questão democrática a ser enfrentada e desenvolvida. Para tanto, os democratas e a própria democracia deverão saber se reinventar sob fogo cerrado, reafirmando tanto quanto possível sua vocação cosmopolita e retomando contato com medos e esperanças da gente comum, hoje demagogicamente explorados em sentido regressista.
domingo, 27 de abril de 2025
Em 100 dias, o fim de 100 anos de domínio
À medida que o governo Trump inunda a zona do euro com sucessivas mudanças radicais, suas tarifas têm recebido mais atenção. Mas a política que pode acabar custando ainda mais aos EUA a longo prazo é o ataque da Casa Branca às universidades e à pesquisa em geral.
Os EUA lideram o mundo em ciências há tanto tempo que é fácil acreditar que este recurso sempre foi uma das forças naturais do país. Na realidade, no século 19 e no início do século 20, Washington foi mais seguidor do que líder. Industriais britânicos frequentemente reclamavam que empresas americanas lhes roubavam tecnologias e violavam suas patentes. Nas primeiras décadas do século 20, o país que conquistou o maior número de Prêmios Nobel em Ciências foi a Alemanha – com um terço de todas as premiações. Em seguida, veio o Reino Unido, com quase 20%. Os EUA receberam apenas 6% dos Prêmios Nobel em Ciências.
Três forças poderosas transformaram o cenário científico em meados do século 20. A primeira foi Adolf Hitler, que levou uma geração das melhores mentes científicas da Europa – muitas delas judias – a buscar refúgio nos EUA (cerca de um quarto dos laureados com o Nobel em Ciências pela Alemanha até 1932 era de judeus, enquanto menos de 1% da população alemã era judia). Muitos desses cientistas vieram para os EUA e constituíram a espinha dorsal do establishment científico americano. Após a reforma imigratória de 1965, os EUA continuaram a atrair as melhores mentes do mundo, muitas da China e da Índia, que vinham estudar, ficavam e erguiam laboratórios de pesquisa e empresas de tecnologia.
GUERRAS. As duas guerras mundiais foram a segunda força. Em 1945, o Reino Unido, a França e, principalmente, a Alemanha estavam devastados, com milhões de cidadãos mortos, cidades reduzidas a escombros e governos incapacitados por montanhas de dívidas. A União Soviética saiu-se vitoriosa da 2.ª Guerra, mas perdeu cerca de 24 milhões de pessoas no conflito. Os EUA, por outro lado, emergiram da guerra com domínio absoluto em termos econômicos, tecnológicos e militares.
A terceira força que impulsionou os EUA foi a decisão visionária do governo americano de se tornar um grande financiador de ciência básica. Durante a década de 50, o gasto total com pesquisa e desenvolvimento nos EUA atingiu quase 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB), a maior fatia de gasto com esse tipo de investimento no planeta. E isso foi possível graças à criação de um modelo inovador. Universidades de todo o país, públicas e privadas, competiam por verbas governamentais para pesquisas. O governo federal assinava os cheques, mas não tentava controlar os programas. Essa competição e essa liberdade criaram o establishment científico americano moderno, o mais bem-sucedido da história da humanidade.
Essas três forças estão sendo revertidas. O governo Trump está em guerra com as principais universidades do país, ameaçando-as com mecanismos de controle hostis e retendo bilhões de dólares em financiamento para pesquisas. Os Institutos Nacionais de Saúde e a Fundação Nacional de Ciências, as joias da coroa da ciência americana, estão sendo evisceradas.
CHINA. A segunda vantagem dos EUA, se destacar em relação a todos os países do mundo, obviamente diminuiu desde 1945. Mas vale ressaltar que, na última década, a China se tornou líder mundial em muitas métricas importantes no campo da ciência. A China tem uma participação maior do que os EUA em artigos publicados nos 82 principais periódicos científicos monitorados pelo Nature Index. Em artigos sobre engenharia e tecnologia, a China também está bem à frente dos EUA. Em pedidos de patentes, não há mais competição: a China recebe quase metade de todos os pedidos no mundo. E mesmo em termos de universidades de ponta a China passou de 27 instituições entre as 500 melhores em 2010 para 76 em 2020, segundo uma métrica. Os EUA foram na direção oposta, de 154 para 133.
IMIGRANTES. A vantagem final dos americanos, que a China não conseguiu igualar, é que os EUA atraem os melhores e mais brilhantes indivíduos do mundo. Entre 2000 e 2014, mais de um terço dos americanos que ganharam Prêmios Nobel em Ciências era imigrante. Em 2019, quase 40% de todos os desenvolvedores de software eram imigrantes e, nos principais centros de câncer, em 2015, a porcentagem de imigrantes variava entre cerca de 30% (no Fred Hutchinson) e 62% (no MD Anderson).
Mas isso está mudando rapidamente. Centenas de vistos estão sendo revogados, estudantes estão sendo detidos para ser deportados e estudantes de pós-graduação e pesquisadores chineses agora estão diante da perspectiva de ser foco de constantes investigações do FBI. A China criou incentivos generosos para receber seus melhores e mais brilhantes indivíduos de volta ao país. Muitos outros estão optando por ir para outros lugares – como Europa, Canadá e Austrália. No mês passado, a revista Nature perguntou a leitores pesquisadores americanos se eles estavam pensando em deixar o país. Dos mais de 1,6 mil que responderam, impressionantes 75% disseram que consideravam a ideia.
Estamos falando dos elementos fundamentais da força extraordinária dos EUA, que se formaram ao longo dos últimos 100 anos e agora estão sendo desmantelados em apenas 100 dias.
Os EUA lideram o mundo em ciências há tanto tempo que é fácil acreditar que este recurso sempre foi uma das forças naturais do país. Na realidade, no século 19 e no início do século 20, Washington foi mais seguidor do que líder. Industriais britânicos frequentemente reclamavam que empresas americanas lhes roubavam tecnologias e violavam suas patentes. Nas primeiras décadas do século 20, o país que conquistou o maior número de Prêmios Nobel em Ciências foi a Alemanha – com um terço de todas as premiações. Em seguida, veio o Reino Unido, com quase 20%. Os EUA receberam apenas 6% dos Prêmios Nobel em Ciências.
Três forças poderosas transformaram o cenário científico em meados do século 20. A primeira foi Adolf Hitler, que levou uma geração das melhores mentes científicas da Europa – muitas delas judias – a buscar refúgio nos EUA (cerca de um quarto dos laureados com o Nobel em Ciências pela Alemanha até 1932 era de judeus, enquanto menos de 1% da população alemã era judia). Muitos desses cientistas vieram para os EUA e constituíram a espinha dorsal do establishment científico americano. Após a reforma imigratória de 1965, os EUA continuaram a atrair as melhores mentes do mundo, muitas da China e da Índia, que vinham estudar, ficavam e erguiam laboratórios de pesquisa e empresas de tecnologia.
GUERRAS. As duas guerras mundiais foram a segunda força. Em 1945, o Reino Unido, a França e, principalmente, a Alemanha estavam devastados, com milhões de cidadãos mortos, cidades reduzidas a escombros e governos incapacitados por montanhas de dívidas. A União Soviética saiu-se vitoriosa da 2.ª Guerra, mas perdeu cerca de 24 milhões de pessoas no conflito. Os EUA, por outro lado, emergiram da guerra com domínio absoluto em termos econômicos, tecnológicos e militares.
A terceira força que impulsionou os EUA foi a decisão visionária do governo americano de se tornar um grande financiador de ciência básica. Durante a década de 50, o gasto total com pesquisa e desenvolvimento nos EUA atingiu quase 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB), a maior fatia de gasto com esse tipo de investimento no planeta. E isso foi possível graças à criação de um modelo inovador. Universidades de todo o país, públicas e privadas, competiam por verbas governamentais para pesquisas. O governo federal assinava os cheques, mas não tentava controlar os programas. Essa competição e essa liberdade criaram o establishment científico americano moderno, o mais bem-sucedido da história da humanidade.
Essas três forças estão sendo revertidas. O governo Trump está em guerra com as principais universidades do país, ameaçando-as com mecanismos de controle hostis e retendo bilhões de dólares em financiamento para pesquisas. Os Institutos Nacionais de Saúde e a Fundação Nacional de Ciências, as joias da coroa da ciência americana, estão sendo evisceradas.
CHINA. A segunda vantagem dos EUA, se destacar em relação a todos os países do mundo, obviamente diminuiu desde 1945. Mas vale ressaltar que, na última década, a China se tornou líder mundial em muitas métricas importantes no campo da ciência. A China tem uma participação maior do que os EUA em artigos publicados nos 82 principais periódicos científicos monitorados pelo Nature Index. Em artigos sobre engenharia e tecnologia, a China também está bem à frente dos EUA. Em pedidos de patentes, não há mais competição: a China recebe quase metade de todos os pedidos no mundo. E mesmo em termos de universidades de ponta a China passou de 27 instituições entre as 500 melhores em 2010 para 76 em 2020, segundo uma métrica. Os EUA foram na direção oposta, de 154 para 133.
IMIGRANTES. A vantagem final dos americanos, que a China não conseguiu igualar, é que os EUA atraem os melhores e mais brilhantes indivíduos do mundo. Entre 2000 e 2014, mais de um terço dos americanos que ganharam Prêmios Nobel em Ciências era imigrante. Em 2019, quase 40% de todos os desenvolvedores de software eram imigrantes e, nos principais centros de câncer, em 2015, a porcentagem de imigrantes variava entre cerca de 30% (no Fred Hutchinson) e 62% (no MD Anderson).
Mas isso está mudando rapidamente. Centenas de vistos estão sendo revogados, estudantes estão sendo detidos para ser deportados e estudantes de pós-graduação e pesquisadores chineses agora estão diante da perspectiva de ser foco de constantes investigações do FBI. A China criou incentivos generosos para receber seus melhores e mais brilhantes indivíduos de volta ao país. Muitos outros estão optando por ir para outros lugares – como Europa, Canadá e Austrália. No mês passado, a revista Nature perguntou a leitores pesquisadores americanos se eles estavam pensando em deixar o país. Dos mais de 1,6 mil que responderam, impressionantes 75% disseram que consideravam a ideia.
Estamos falando dos elementos fundamentais da força extraordinária dos EUA, que se formaram ao longo dos últimos 100 anos e agora estão sendo desmantelados em apenas 100 dias.
Precisamos dar voz aos invisíveis
Nos últimos meses, venho liderando uma ampla pesquisa que investiga a natureza da polarização política no Brasil. Aproveito o espaço desta coluna para compartilhar alguns entendimentos e resultados preliminares desse trabalho, que ajudam a desenhar um retrato mais preciso do conflito que atravessa nossa sociedade.
A polarização política parece envolver toda a sociedade, mas o antagonismo, na verdade, é puxado por pequenas minorias, grupos ativistas de no máximo 5% da população, ladeados por segmentos “semiativistas”, que compõem outros 15%. Entre esses dois polos, há uma grande maioria silenciosa, silenciada, de aproximadamente 60% do Brasil — são os invisíveis.Essa maioria — moderada e um pouco desinteressada de política — se torna invisível pela agitação ativista dos polos nas mídias sociais, que terminam se fazendo passar pelo todo. Quando dividimos mentalmente o Brasil entre petistas e bolsonaristas, não apenas representamos o país de maneira imprecisa, mas bloqueamos também qualquer discussão de propostas matizadas e independentes, porque acreditamos que não contemplariam grupos que erroneamente acreditamos majoritários.
No entanto, mesmo nos temas divisivos das guerras culturais, há mais antagonismo afetivo — hostilidade pelo adversário —do que propriamente divergência de opinião. Embora os grupos antagônicos se imaginem radicalmente diferentes, eles muitas vezes secretamente convergem. Progressistas e conservadores razoavelmente convergem no respeito às mulheres e na defesa da família — ao mesmo tempo que conservadores desconfiam e desgostam das feministas, e progressistas desconfiam e desgostam dos conservadores. O que afasta os dois grupos não é tanto a divergência, mas a animosidade contra o grupo adversário, uma animosidade que tende à violência.
O polo conservador é um pouco maior e demograficamente mais próximo do Brasil médio: pardo e com escolaridade de ensino médio. O polo progressista, embora se veja como porta-voz dos grupos oprimidos, é muito mais branco, muito mais escolarizado, muito mais sudestino e muito mais rico que o resto do país. Não se trata apenas de uma contradição entre o conteúdo do discurso progressista e a condição social de quem o enuncia. Essas características demográficas são a base material de sustentação ao discurso populista conservador que apresenta as elites intelectuais como alienadas, empenhadas em predicar para um povo majoritariamente conservador.
Como atribuem ao progressismo o domínio do establishment e dos aparelhos culturais, os conservadores têm muito pouca confiança em instituições como a Justiça, as universidades públicas e a grande imprensa. O inverso é verdadeiro: os progressistas, que outrora se viam como revolucionários, se acomodaram na defesa do statu quo.
Não devemos confundir a polarização política com a disputa eleitoral. Elas influenciam uma à outra, mas são essencialmente diferentes. A liderança do presidente Lula amplia muito o apelo eleitoral da esquerda, para além do progressismo. A memória das melhorias econômicas passadas faz com que parte do eleitorado conservador vote em Lula. Quando o presidente finalmente deixar o jogo eleitoral, deveremos ver com mais frequência o antagonismo eleitoral entre elites urbanas escolarizadas e o povo comum, a que assistimos nas eleições municipais do Rio e de São Paulo, com Marcelo Freixo e Guilherme Boulos. Apesar disso, sempre que a esquerda apelar para o discurso da proteção social, poderá equilibrar o jogo eleitoral.
Há ainda muito a estudar, mas os resultados iniciais impõem uma agenda. Nosso desafio é dar visibilidade à maioria silenciosa, ainda não polarizada, e resgatar o espaço dos consensos possíveis, abafados pelo barulho das margens. Se não conseguirmos desarmar o antagonismo afetivo entre esses pequenos grupos, corremos o risco de assistir a uma espiral crescente de hostilidade que pode precipitar o país na violência política — ou na ruptura institucional.
A polarização política parece envolver toda a sociedade, mas o antagonismo, na verdade, é puxado por pequenas minorias, grupos ativistas de no máximo 5% da população, ladeados por segmentos “semiativistas”, que compõem outros 15%. Entre esses dois polos, há uma grande maioria silenciosa, silenciada, de aproximadamente 60% do Brasil — são os invisíveis.Essa maioria — moderada e um pouco desinteressada de política — se torna invisível pela agitação ativista dos polos nas mídias sociais, que terminam se fazendo passar pelo todo. Quando dividimos mentalmente o Brasil entre petistas e bolsonaristas, não apenas representamos o país de maneira imprecisa, mas bloqueamos também qualquer discussão de propostas matizadas e independentes, porque acreditamos que não contemplariam grupos que erroneamente acreditamos majoritários.
A divisão da sociedade brasileira, induzida pelos polos, está concentrada nos temas das guerras culturais, batalhas em torno dos valores morais relacionados à família e à sexualidade. Sob essas disputas, há blocos de quase consenso em torno do papel do Estado, da punição a criminosos e do combate ao racismo. Há amplo consenso de que o Estado deve prover serviços públicos, mas divergimos cada vez mais sobre temas como o ensino de questões de gênero nas escolas e o direito de portar armas.
No entanto, mesmo nos temas divisivos das guerras culturais, há mais antagonismo afetivo — hostilidade pelo adversário —do que propriamente divergência de opinião. Embora os grupos antagônicos se imaginem radicalmente diferentes, eles muitas vezes secretamente convergem. Progressistas e conservadores razoavelmente convergem no respeito às mulheres e na defesa da família — ao mesmo tempo que conservadores desconfiam e desgostam das feministas, e progressistas desconfiam e desgostam dos conservadores. O que afasta os dois grupos não é tanto a divergência, mas a animosidade contra o grupo adversário, uma animosidade que tende à violência.
O polo conservador é um pouco maior e demograficamente mais próximo do Brasil médio: pardo e com escolaridade de ensino médio. O polo progressista, embora se veja como porta-voz dos grupos oprimidos, é muito mais branco, muito mais escolarizado, muito mais sudestino e muito mais rico que o resto do país. Não se trata apenas de uma contradição entre o conteúdo do discurso progressista e a condição social de quem o enuncia. Essas características demográficas são a base material de sustentação ao discurso populista conservador que apresenta as elites intelectuais como alienadas, empenhadas em predicar para um povo majoritariamente conservador.
Como atribuem ao progressismo o domínio do establishment e dos aparelhos culturais, os conservadores têm muito pouca confiança em instituições como a Justiça, as universidades públicas e a grande imprensa. O inverso é verdadeiro: os progressistas, que outrora se viam como revolucionários, se acomodaram na defesa do statu quo.
Não devemos confundir a polarização política com a disputa eleitoral. Elas influenciam uma à outra, mas são essencialmente diferentes. A liderança do presidente Lula amplia muito o apelo eleitoral da esquerda, para além do progressismo. A memória das melhorias econômicas passadas faz com que parte do eleitorado conservador vote em Lula. Quando o presidente finalmente deixar o jogo eleitoral, deveremos ver com mais frequência o antagonismo eleitoral entre elites urbanas escolarizadas e o povo comum, a que assistimos nas eleições municipais do Rio e de São Paulo, com Marcelo Freixo e Guilherme Boulos. Apesar disso, sempre que a esquerda apelar para o discurso da proteção social, poderá equilibrar o jogo eleitoral.
Há ainda muito a estudar, mas os resultados iniciais impõem uma agenda. Nosso desafio é dar visibilidade à maioria silenciosa, ainda não polarizada, e resgatar o espaço dos consensos possíveis, abafados pelo barulho das margens. Se não conseguirmos desarmar o antagonismo afetivo entre esses pequenos grupos, corremos o risco de assistir a uma espiral crescente de hostilidade que pode precipitar o país na violência política — ou na ruptura institucional.
Obrigado, Francisco: Se Papa pareceu radical, problema é do mundo de hoje
Quando o papa Francisco dizia que é impossível ser cristão e não dar prioridade aos excluídos, só estava citando o fundador da empresa milenar de que foi CEO nos últimos 12 anos.
Mesmo o então cardeal Joseph Ratzinger (futuro papa Bento 16), em seu combate à Teologia da Libertação, deixava claro que "o escândalo das gritantes desigualdades entre ricos e pobres – quer se trate de desigualdades entre países ricos e países pobres, ou de desigualdades entre camadas sociais dentro de um mesmo território nacional – já não é tolerado" ("Instrução sobre alguns aspectos da Teologia da Libertação", 1984).
Não é coincidência que tenha vindo da América Latina, a região mais desigual da cristandade moderna, um papa que desse prioridade à luta contra esse escândalo específico.
Francisco também promoveu um salto na reflexão católica sobre o meio ambiente, que papas recentes (citados na encíclica) já vinham enfatizando.
Contra os que interpretam a instrução de Gênesis 1:28 como licença para o homem fazer o que quiser com a natureza, a Laudato Si lembra que Deus colocou o homem no Éden "para cultivá-lo e guardá-lo" (Gênesis 2:15). O documento final do Sínodo da Amazônia terminou com um apelo a "Maria, mãe da Amazônia", para que "a vida plena que Jesus veio trazer ao mundo chegue a todos, especialmente aos pobres", e para que a igreja tenha "rosto amazônico" e "saída missionária".
Francisco também realizou um ajuste pequeno, mas importante, na discussão da igreja sobre a comunidade LGBT. Admitiu a possibilidade de padres católicos abençoarem casais LGBT e casais formados por pessoas divorciadas. Em repetidos pronunciamentos, pediu que os católicos não julgassem os LGBT, mas procurassem antes de tudo amá-los.
Não foi a aceitação plena dos LGBT que católicos de esquerda como eu desejariam. Mas foi importantíssimo por mostrar qual exatamente é o tamanho dessa questão dentro do cristianismo. Quando Francisco disse "quem sou eu para julgar?" sobre os homossexuais, não estava se declarando incapaz de condenar algo que, oficialmente, ainda é pecado. Afinal, Francisco julgou muita coisa: a miséria, a degradação ambiental, a desigualdade.
Estava tirando o foco de uma pauta que ocupa um lugar completamente desproporcional no discurso de movimentos políticos que se dizem cristãos. A homofobia como política funciona porque vende ao eleitor uma forma de se afirmar cristão condenando o desejo dos outros, não o próprio. E os LGBT são convenientemente minoritários na sociedade, de modo que o voto que se ganha entre a maioria hipócrita mais do que compensa o voto que se perde na minoria perseguida.
A maior parte da Bíblia é sobre pecados que todos cometemos, mas é difícil se eleger lutando contra os pecados da maioria. É melhor mentir, como faz a bancada fundamentalista, que a Bíblia é basicamente um livro falando mal da Pabllo Vittar.
Francisco fez uma bem-vinda mudança de foco para os pecados da maioria, o consumismo, a indiferença diante da miséria, a depredação da criação. Defendeu os pobres, e os mais pobres entre os pobres; os excluídos, e os mais excluídos entre os excluídos. É o que o Evangelho manda fazer. Se isso pareceu radical no mundo de hoje, o problema é do mundo de hoje.
Mesmo o então cardeal Joseph Ratzinger (futuro papa Bento 16), em seu combate à Teologia da Libertação, deixava claro que "o escândalo das gritantes desigualdades entre ricos e pobres – quer se trate de desigualdades entre países ricos e países pobres, ou de desigualdades entre camadas sociais dentro de um mesmo território nacional – já não é tolerado" ("Instrução sobre alguns aspectos da Teologia da Libertação", 1984).
Não é coincidência que tenha vindo da América Latina, a região mais desigual da cristandade moderna, um papa que desse prioridade à luta contra esse escândalo específico.
Francisco também promoveu um salto na reflexão católica sobre o meio ambiente, que papas recentes (citados na encíclica) já vinham enfatizando.
Contra os que interpretam a instrução de Gênesis 1:28 como licença para o homem fazer o que quiser com a natureza, a Laudato Si lembra que Deus colocou o homem no Éden "para cultivá-lo e guardá-lo" (Gênesis 2:15). O documento final do Sínodo da Amazônia terminou com um apelo a "Maria, mãe da Amazônia", para que "a vida plena que Jesus veio trazer ao mundo chegue a todos, especialmente aos pobres", e para que a igreja tenha "rosto amazônico" e "saída missionária".
Francisco também realizou um ajuste pequeno, mas importante, na discussão da igreja sobre a comunidade LGBT. Admitiu a possibilidade de padres católicos abençoarem casais LGBT e casais formados por pessoas divorciadas. Em repetidos pronunciamentos, pediu que os católicos não julgassem os LGBT, mas procurassem antes de tudo amá-los.
Não foi a aceitação plena dos LGBT que católicos de esquerda como eu desejariam. Mas foi importantíssimo por mostrar qual exatamente é o tamanho dessa questão dentro do cristianismo. Quando Francisco disse "quem sou eu para julgar?" sobre os homossexuais, não estava se declarando incapaz de condenar algo que, oficialmente, ainda é pecado. Afinal, Francisco julgou muita coisa: a miséria, a degradação ambiental, a desigualdade.
Estava tirando o foco de uma pauta que ocupa um lugar completamente desproporcional no discurso de movimentos políticos que se dizem cristãos. A homofobia como política funciona porque vende ao eleitor uma forma de se afirmar cristão condenando o desejo dos outros, não o próprio. E os LGBT são convenientemente minoritários na sociedade, de modo que o voto que se ganha entre a maioria hipócrita mais do que compensa o voto que se perde na minoria perseguida.
A maior parte da Bíblia é sobre pecados que todos cometemos, mas é difícil se eleger lutando contra os pecados da maioria. É melhor mentir, como faz a bancada fundamentalista, que a Bíblia é basicamente um livro falando mal da Pabllo Vittar.
Francisco fez uma bem-vinda mudança de foco para os pecados da maioria, o consumismo, a indiferença diante da miséria, a depredação da criação. Defendeu os pobres, e os mais pobres entre os pobres; os excluídos, e os mais excluídos entre os excluídos. É o que o Evangelho manda fazer. Se isso pareceu radical no mundo de hoje, o problema é do mundo de hoje.
Assinar:
Comentários (Atom)