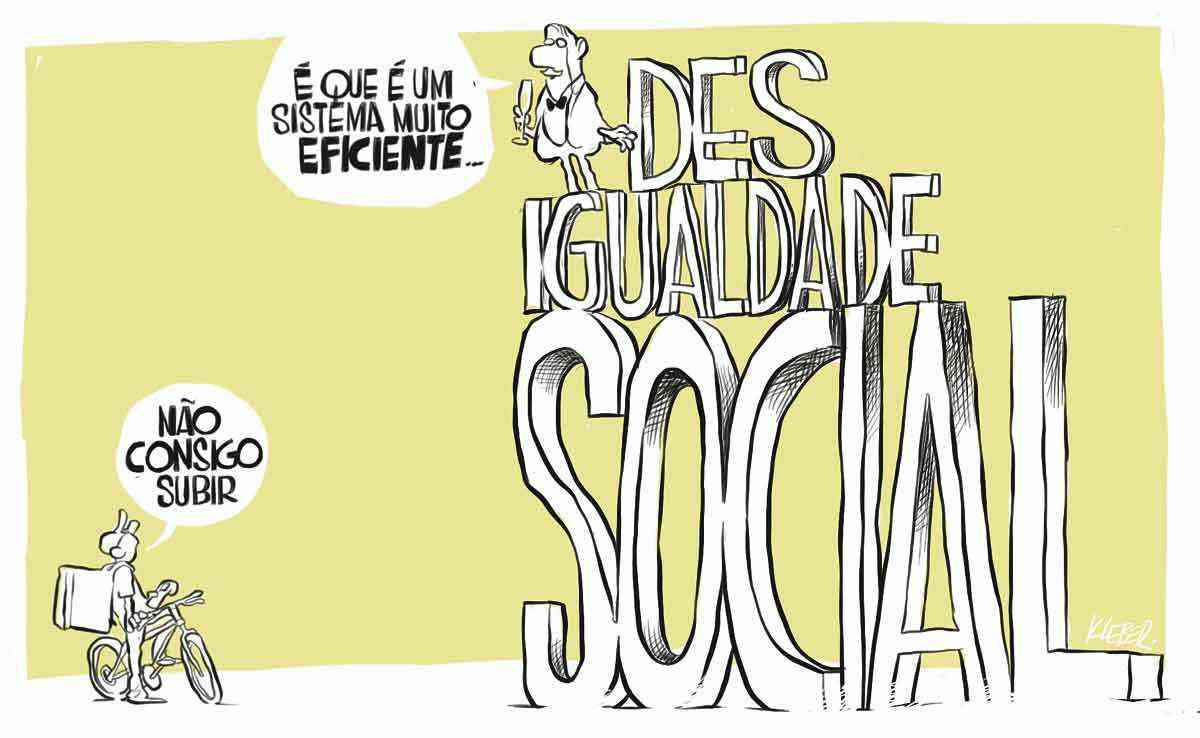sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025
O roteiro da extrema direita
O que ameaça ser o começo de uma nova era traz consigo um ataque global à democracia. As recentes revelações vindas de Brasília são só mais um exemplo desse fenômeno. A tentativa desajeitada de golpe de Estado de Jair Bolsonaro não foi um episódio isolado, mas sim um sintoma de uma crise global em que forças autoritárias avançam cada vez mais na erosão das estruturas democráticas.
Nos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, essa tendência se manifesta na destruição sistemática de instituições, na censura à educação, na revogação de proteções ambientais e ao consumidor, no enfraquecimento dos mecanismos de fiscalização e no uso do Judiciário e das forças de segurança contra adversários políticos. Trump segue fielmente o roteiro de autocratas como Viktor Orbán, na Hungria; Nicolás Maduro, na Venezuela; e Recep Erdogan, na Turquia.
Assim, a tentativa de golpe por parte de Bolsonaro e seus aliados, não pode ser vista como um ato isolado, mas sim como a consequência lógica de seu governo ultradireitista. Durante seu mandato, ele enfraqueceu a separação dos poderes, atacou órgãos governamentais, colocou militares em posições estratégicas, desacreditou o sistema eleitoral e mentiu sistematicamente para semear a desconfiança contra a mídia tradicional.
As investigações que revelam as intenções criminosas de Bolsonaro – desde a falsificação de seu certificado de vacinação até a venda de presentes do Estado para ganho pessoal – ilustram como corrupção e autoritarismo estão profundamente entrelaçados.
A Alemanha também enfrenta o crescimento de um partido nacionalista de extrema direita. A Alternativa para a Alemanha (AfD) dissemina discursos xenofóbicos, deslegitima a mídia tradicional e acusa adversários políticos de traição. Alguns de seus líderes mais proeminentes usam abertamente retóricas nazistas.
Nas eleições de 23 de fevereiro de 2025, a AfD se consolidou como a segunda maior força política do país, obtendo 20,8% dos votos. Sua líder, Alice Weidel – que, ironicamente, tem dois filhos adotivos com sua esposa de origem cingalesa, apesar da retórica do partido em favor da "família tradicional" – declarou na noite da eleição: "A gente vai caçá-los". Referia-se, supostamente em sentido figurado, aos partidos adversários.
Como ocorre em muitos movimentos autoritários, a AfD mantém uma relação ambígua com a legalidade: está sob investigação por doações ilegais milionárias, emprega neonazistas condenados em seus escritórios parlamentares, e alguns de seus membros foram financiados por Moscou.
A proximidade com a Rússia é outra característica comum entre os partidos da nova direita global. O ditador imperialista e criminoso de guerra Vladimir Putin, líder de uma oligarquia corrupta, é uma referência para Orbán, Trump, Bolsonaro, Maduro e a AfD. Que ninguém diga depois que não sabia onde a coisa ia dar.
A base eleitoral da xenófoba AfD está concentrada no leste da Alemanha, onde, em algumas regiões, o partido obteve quase metade dos votos. Paradoxalmente, essas são áreas com uma das menores proporções de estrangeiros no país. Um dos principais grupos de eleitores da AfD são os socialmente desfavorecidos, cuja frustração social o partido explora habilmente, através de plataformas como o TikTok.
Mas, curiosamente, o programa econômico neoliberal da AfD prejudicaria justamente os mais vulneráveis e beneficiaria os mais ricos. Esse paradoxo não é exclusivo da Alemanha: todos os movimentos autoritários compartilham essa contradição. Donald Trump, um bilionário, tem sua maior base de apoio nos estados mais pobres do sul dos EUA e nas regiões negligenciadas do centro-oeste. Jair Bolsonaro, por sua vez, foi eleito também com votos das favelas brasileiras.
Essa contradição é obscurecida por uma estratégia de guerra cultural. Em vez de discutir desigualdade social, os discursos extremistas se concentram em temas altamente emotivos, como o aborto, e incitam o ódio contra minorias, especialmente a comunidade LGBT+. No Brasil, o deputado Nikolas Ferreira domina essa tática com maestria.
O cenário atual é resultado das contradições do capitalismo global, que se intensificaram desde a crise financeira de 2008. Enquanto bilhões foram gastos para salvar bancos e banqueiros, a desigualdade social aumentou a níveis extremos, comprometendo a capacidade da democracia liberal de cumprir sua promessa de mobilidade social para quem trabalha duro.
A desigualdade social e a precarização do trabalho criam o terreno fértil para a ascensão da extrema direita, que culpa minorias por essa situação, excetuando, é claro, a minoria mais prejudicante dos super-ricos.
O Estado desempenha um papel fundamental para os autoritários: embora mantendo formalmente as instituições democráticas, eles as utilizam para implementar seus projetos totalitários.
A Justiça brasileira, no entanto, mostra que essa escalada pode ser contida. A denúncia contra Bolsonaro e seus aliados, bem como a revelação de seus planos criminosos, demonstram que algumas instituições ainda funcionam no Brasil. Elas precisam ser fortalecidas, pois a extrema direita brasileira não desistiu de seu projeto de poder. Mesmo após o fracasso da tentativa de golpe de Bolsonaro, ela estará de volta em 2026.
Nos Estados Unidos, sob a liderança de Donald Trump, essa tendência se manifesta na destruição sistemática de instituições, na censura à educação, na revogação de proteções ambientais e ao consumidor, no enfraquecimento dos mecanismos de fiscalização e no uso do Judiciário e das forças de segurança contra adversários políticos. Trump segue fielmente o roteiro de autocratas como Viktor Orbán, na Hungria; Nicolás Maduro, na Venezuela; e Recep Erdogan, na Turquia.
Assim, a tentativa de golpe por parte de Bolsonaro e seus aliados, não pode ser vista como um ato isolado, mas sim como a consequência lógica de seu governo ultradireitista. Durante seu mandato, ele enfraqueceu a separação dos poderes, atacou órgãos governamentais, colocou militares em posições estratégicas, desacreditou o sistema eleitoral e mentiu sistematicamente para semear a desconfiança contra a mídia tradicional.
As investigações que revelam as intenções criminosas de Bolsonaro – desde a falsificação de seu certificado de vacinação até a venda de presentes do Estado para ganho pessoal – ilustram como corrupção e autoritarismo estão profundamente entrelaçados.
A Alemanha também enfrenta o crescimento de um partido nacionalista de extrema direita. A Alternativa para a Alemanha (AfD) dissemina discursos xenofóbicos, deslegitima a mídia tradicional e acusa adversários políticos de traição. Alguns de seus líderes mais proeminentes usam abertamente retóricas nazistas.
Nas eleições de 23 de fevereiro de 2025, a AfD se consolidou como a segunda maior força política do país, obtendo 20,8% dos votos. Sua líder, Alice Weidel – que, ironicamente, tem dois filhos adotivos com sua esposa de origem cingalesa, apesar da retórica do partido em favor da "família tradicional" – declarou na noite da eleição: "A gente vai caçá-los". Referia-se, supostamente em sentido figurado, aos partidos adversários.
Como ocorre em muitos movimentos autoritários, a AfD mantém uma relação ambígua com a legalidade: está sob investigação por doações ilegais milionárias, emprega neonazistas condenados em seus escritórios parlamentares, e alguns de seus membros foram financiados por Moscou.
A proximidade com a Rússia é outra característica comum entre os partidos da nova direita global. O ditador imperialista e criminoso de guerra Vladimir Putin, líder de uma oligarquia corrupta, é uma referência para Orbán, Trump, Bolsonaro, Maduro e a AfD. Que ninguém diga depois que não sabia onde a coisa ia dar.
A base eleitoral da xenófoba AfD está concentrada no leste da Alemanha, onde, em algumas regiões, o partido obteve quase metade dos votos. Paradoxalmente, essas são áreas com uma das menores proporções de estrangeiros no país. Um dos principais grupos de eleitores da AfD são os socialmente desfavorecidos, cuja frustração social o partido explora habilmente, através de plataformas como o TikTok.
Mas, curiosamente, o programa econômico neoliberal da AfD prejudicaria justamente os mais vulneráveis e beneficiaria os mais ricos. Esse paradoxo não é exclusivo da Alemanha: todos os movimentos autoritários compartilham essa contradição. Donald Trump, um bilionário, tem sua maior base de apoio nos estados mais pobres do sul dos EUA e nas regiões negligenciadas do centro-oeste. Jair Bolsonaro, por sua vez, foi eleito também com votos das favelas brasileiras.
Essa contradição é obscurecida por uma estratégia de guerra cultural. Em vez de discutir desigualdade social, os discursos extremistas se concentram em temas altamente emotivos, como o aborto, e incitam o ódio contra minorias, especialmente a comunidade LGBT+. No Brasil, o deputado Nikolas Ferreira domina essa tática com maestria.
O cenário atual é resultado das contradições do capitalismo global, que se intensificaram desde a crise financeira de 2008. Enquanto bilhões foram gastos para salvar bancos e banqueiros, a desigualdade social aumentou a níveis extremos, comprometendo a capacidade da democracia liberal de cumprir sua promessa de mobilidade social para quem trabalha duro.
A desigualdade social e a precarização do trabalho criam o terreno fértil para a ascensão da extrema direita, que culpa minorias por essa situação, excetuando, é claro, a minoria mais prejudicante dos super-ricos.
O Estado desempenha um papel fundamental para os autoritários: embora mantendo formalmente as instituições democráticas, eles as utilizam para implementar seus projetos totalitários.
A Justiça brasileira, no entanto, mostra que essa escalada pode ser contida. A denúncia contra Bolsonaro e seus aliados, bem como a revelação de seus planos criminosos, demonstram que algumas instituições ainda funcionam no Brasil. Elas precisam ser fortalecidas, pois a extrema direita brasileira não desistiu de seu projeto de poder. Mesmo após o fracasso da tentativa de golpe de Bolsonaro, ela estará de volta em 2026.
Sem medo
Tenha-se medo da hora em que o homem não mais queira sofrer e morrer por um ideal, pois que esta é a qualidade básica da humanidade, é a que a distingue entre tudo no universo.
John Steinbeck, "As Vinhas da Ira"
Quando você se desconecta do seu telefone ...
Somos a primeira geração a viver em simbiose com nossos smartphones, uma relação que oscila entre necessidade e dependência. Então a pergunta óbvia que surge é tão perturbadora quanto necessária: que impacto essa conexão digital perpétua tem em nosso cérebro ? Um estudo científico inovador acaba de lançar luz sobre essa questão, revelando que uma simples desconexão da internet móvel por duas semanas pode desencadear transformações extraordinárias em nossa saúde mental e funcionamento cognitivo.
A pesquisa, liderada por Adrian Ward, da Universidade do Texas em Austin, acontece em um momento em que a fusão entre humanos e dispositivos está atingindo níveis sem precedentes. Dados do Pew Research Center traçam uma curva ascendente reveladora: o uso de smartphones nos Estados Unidos subiu de um modesto terço da população em 2011 para impressionantes 91% hoje. A quantidade de tempo que passamos nessas interfaces digitais portáteis é ainda mais alarmante: os americanos passam em média 5 horas e 16 minutos por dia olhando para seus celulares, enquanto globalmente esse número sobe para 6 horas e 40 minutos por dia em frente às telas.
Para o estudo de um mês, a equipe recrutou 467 participantes, com idade média de 32 anos, dividindo-os em dois grupos. Usando um aplicativo especializado para iPhone , os participantes bloquearam todo o acesso à internet móvel por duas semanas, deixando apenas funções básicas de chamada e mensagens de texto. Eles ainda podiam usar a Internet em seus computadores, mas a conexão constante via celular foi interrompida. Para garantir uma análise completa, um grupo fez a desintoxicação digital nas duas primeiras semanas, enquanto o outro o fez na segunda metade do mês.
Os resultados, publicados no PNAS Nexus, não deixaram dúvidas sobre o impacto positivo da desconexão. De acordo com uma declaração da Universidade do Texas em Austin, 91% dos participantes melhoraram em pelo menos um dos três aspectos medidos: saúde mental, bem-estar subjetivo ou capacidade de atenção. A descoberta mais impressionante foi a melhora cognitiva: a capacidade de atenção dos participantes melhorou em uma quantidade equivalente à reversão de uma década de declínio cognitivo relacionado à idade .
Os benefícios para a saúde mental foram igualmente notáveis. 71% dos participantes relataram melhor saúde mental após o período sem internet móvel. A melhora nos sintomas depressivos superou até mesmo os resultados típicos observados em estudos com medicamentos antidepressivos, embora os pesquisadores observem que a natureza dessa intervenção difere significativamente dos cenários de psicologia clínica.
"Os smartphones mudaram drasticamente nossas vidas e comportamentos nos últimos 15 anos, mas nossa psicologia humana básica permanece a mesma", disse Ward. "Nossa grande questão era: estamos adaptados para lidar com a conexão constante com tudo, o tempo todo? Os dados sugerem que não", ele acrescentou.
Os benefícios pareceram aumentar com o tempo. Durante o período de intervenção, os participantes relataram bem-estar progressivamente melhor a cada dia. Em vez de simplesmente passar a assistir mais TV ou filmes, eles se envolveram mais profundamente com o mundo offline – praticando hobbies, tendo conversas cara a cara e passando tempo na natureza. Eles dormiam mais, sentiam-se mais conectados socialmente e tinham maior autonomia em suas decisões.
Essas descobertas repercutem profundamente no sentimento público atual. Uma pesquisa Gallup de 2022 descobriu que 58% dos usuários de smartphones americanos estão preocupados com o uso excessivo do dispositivo, uma preocupação que sobe para 80% entre aqueles com menos de 30 anos.
A pesquisa revelou que 71% dos participantes apresentaram melhor saúde mental após se desconectarem da internet móvel.
No local de trabalho, o estudo abre novas perspectivas para as empresas implementarem estratégias de bem-estar digital. Ward sugere que as organizações podem oferecer ferramentas e aplicativos que ajudem seus funcionários a gerenciar melhor seu tempo online, aumentando assim sua produtividade e bem-estar. No entanto, ele ressalta que essas iniciativas devem ser voluntárias, pois nem todos estão dispostos a “desligar” de um dia para o outro.
Os próprios números do estudo reforçam essa abordagem gradual: apenas 57% dos participantes tomaram a iniciativa de instalar o aplicativo de bloqueio, e apenas um quarto completou as duas semanas offline. "Talvez você coloque isso em votação e as pessoas decidam votar a favor", reflete Ward. "O fato de 80% das pessoas acharem que usam seus celulares demais sugere que isso pode acontecer."
Esta pesquisa abre novas possibilidades para empresas de tecnologia desenvolverem produtos menos viciantes. Por exemplo, Ward sugere que modelos de negócios baseados em assinaturas podem ajudar a reduzir a dependência de anúncios chamativos que promovem tempo excessivo de tela.
Enquanto nossa sociedade lida com o impacto psicológico da conectividade constante, este estudo fornece evidências convincentes de que desintoxicações digitais regulares podem oferecer um caminho para melhorar o bem-estar mental. Embora os efeitos a longo prazo ainda não tenham sido estudados, essas descobertas sugerem que nossos cérebros podem se beneficiar significativamente de pausas regulares do mundo digital.
Felipe Espinosa Wang
A pesquisa, liderada por Adrian Ward, da Universidade do Texas em Austin, acontece em um momento em que a fusão entre humanos e dispositivos está atingindo níveis sem precedentes. Dados do Pew Research Center traçam uma curva ascendente reveladora: o uso de smartphones nos Estados Unidos subiu de um modesto terço da população em 2011 para impressionantes 91% hoje. A quantidade de tempo que passamos nessas interfaces digitais portáteis é ainda mais alarmante: os americanos passam em média 5 horas e 16 minutos por dia olhando para seus celulares, enquanto globalmente esse número sobe para 6 horas e 40 minutos por dia em frente às telas.
Para o estudo de um mês, a equipe recrutou 467 participantes, com idade média de 32 anos, dividindo-os em dois grupos. Usando um aplicativo especializado para iPhone , os participantes bloquearam todo o acesso à internet móvel por duas semanas, deixando apenas funções básicas de chamada e mensagens de texto. Eles ainda podiam usar a Internet em seus computadores, mas a conexão constante via celular foi interrompida. Para garantir uma análise completa, um grupo fez a desintoxicação digital nas duas primeiras semanas, enquanto o outro o fez na segunda metade do mês.
Os resultados, publicados no PNAS Nexus, não deixaram dúvidas sobre o impacto positivo da desconexão. De acordo com uma declaração da Universidade do Texas em Austin, 91% dos participantes melhoraram em pelo menos um dos três aspectos medidos: saúde mental, bem-estar subjetivo ou capacidade de atenção. A descoberta mais impressionante foi a melhora cognitiva: a capacidade de atenção dos participantes melhorou em uma quantidade equivalente à reversão de uma década de declínio cognitivo relacionado à idade .
Os benefícios para a saúde mental foram igualmente notáveis. 71% dos participantes relataram melhor saúde mental após o período sem internet móvel. A melhora nos sintomas depressivos superou até mesmo os resultados típicos observados em estudos com medicamentos antidepressivos, embora os pesquisadores observem que a natureza dessa intervenção difere significativamente dos cenários de psicologia clínica.
"Os smartphones mudaram drasticamente nossas vidas e comportamentos nos últimos 15 anos, mas nossa psicologia humana básica permanece a mesma", disse Ward. "Nossa grande questão era: estamos adaptados para lidar com a conexão constante com tudo, o tempo todo? Os dados sugerem que não", ele acrescentou.
Os benefícios pareceram aumentar com o tempo. Durante o período de intervenção, os participantes relataram bem-estar progressivamente melhor a cada dia. Em vez de simplesmente passar a assistir mais TV ou filmes, eles se envolveram mais profundamente com o mundo offline – praticando hobbies, tendo conversas cara a cara e passando tempo na natureza. Eles dormiam mais, sentiam-se mais conectados socialmente e tinham maior autonomia em suas decisões.
Essas descobertas repercutem profundamente no sentimento público atual. Uma pesquisa Gallup de 2022 descobriu que 58% dos usuários de smartphones americanos estão preocupados com o uso excessivo do dispositivo, uma preocupação que sobe para 80% entre aqueles com menos de 30 anos.
A pesquisa revelou que 71% dos participantes apresentaram melhor saúde mental após se desconectarem da internet móvel.
No local de trabalho, o estudo abre novas perspectivas para as empresas implementarem estratégias de bem-estar digital. Ward sugere que as organizações podem oferecer ferramentas e aplicativos que ajudem seus funcionários a gerenciar melhor seu tempo online, aumentando assim sua produtividade e bem-estar. No entanto, ele ressalta que essas iniciativas devem ser voluntárias, pois nem todos estão dispostos a “desligar” de um dia para o outro.
Os próprios números do estudo reforçam essa abordagem gradual: apenas 57% dos participantes tomaram a iniciativa de instalar o aplicativo de bloqueio, e apenas um quarto completou as duas semanas offline. "Talvez você coloque isso em votação e as pessoas decidam votar a favor", reflete Ward. "O fato de 80% das pessoas acharem que usam seus celulares demais sugere que isso pode acontecer."
Esta pesquisa abre novas possibilidades para empresas de tecnologia desenvolverem produtos menos viciantes. Por exemplo, Ward sugere que modelos de negócios baseados em assinaturas podem ajudar a reduzir a dependência de anúncios chamativos que promovem tempo excessivo de tela.
Enquanto nossa sociedade lida com o impacto psicológico da conectividade constante, este estudo fornece evidências convincentes de que desintoxicações digitais regulares podem oferecer um caminho para melhorar o bem-estar mental. Embora os efeitos a longo prazo ainda não tenham sido estudados, essas descobertas sugerem que nossos cérebros podem se beneficiar significativamente de pausas regulares do mundo digital.
Felipe Espinosa Wang
O futuro da interação humana
No início deste mês, a Meta Plataformas, empresa dona do Facebook, do WhatsApp e do Instagram, anunciou avanços significativos em um sistema de deep learning capaz de traduzir sinais cerebrais em texto digitado. Essa inovação promete transformar radicalmente a maneira como interagimos com dispositivos, tornando possível a comunicação sem o uso de teclados ou comandos de voz.
A ideia de transformar pensamentos em texto pode revolucionar a comunicação humana, especialmente para pessoas com algum tipo de deficiência física ou que perderam a capacidade de fala e movimento. Com a promessa de um método não invasivo, a empresa divulgou os resultados dos primeiros testes, afirmando ter desenvolvido um sistema chamado Brain2Qwerty, que interpreta sinais cerebrais sem intervenção neurocirúrgica.
O teste foi realizado com 35 voluntários saudáveis, como afirmou a Meta, utilizando eletroencefalografia (EEG) e magnetoencefalografia (MEG) enquanto digitavam frases memorizadas em um teclado QWERTY. A análise sugere que o sistema capta tanto comandos motores quanto processos cognitivos. Caso o projeto se concretize nos próximos anos e venha a ser acessível, a forma como nos comunicamos hoje poderá ser profundamente modificada.
Embora a ideia pareça saída de um filme de ficção científica, os primeiros testes já demonstraram um nível avançado de precisão na conversão de pensamentos em texto. No entanto, a implementação dessa tecnologia em larga escala enfrentará desafios técnicos significativos, já que a captação de sinais cerebrais requer equipamentos sofisticados e um nível de personalização para cada usuário, o que poderá limitar sua adoção e comercialização generalizada.
Mesmo parecendo tão distante da nossa realidade, vamos lembrar que Mark Zuckerberg e sua equipe são bem engenhosos. Tanto que a forma como interagimos nas redes sociais hoje se deve ao trabalho iniciado no início dos anos 2000, quando ele ainda era um jovem estudante. Imagine agora que é um dos homens mais poderosos do mundo?
O que está em questão aqui não é o avanço da ciência e da tecnologia na busca por soluções que mudem a vida das pessoas, sobretudo daquelas que se encontram em condições de saúde vulneráveis ou até dependentes de seus familiares e redes de apoio para questões básicas da vida, como comunicar onde sentem dor, por exemplo.
O mais curioso não é a pesquisa em si, mas o fato de uma big tech anunciar, em seu próprio site, a propriedade de um recurso que poderá ser útil para milhões de pessoas e que conta com verba pública da União Europeia para sua fase inicial, conforme consta nos agradecimentos do artigo publicado pela equipe de pesquisa.
“Esta pesquisa é apoiada pelo Governo Basco por meio do programa BERC 2022-2025 e financiada pela Agência de Pesquisa do Estado Espanhol”. Partes deste trabalho foram realizadas no âmbito do programa de pesquisa e inovação Horizonte 2020 da União Europeia sob o acordo de subvenção Marie Skłodowska-Curie”.
Ora, curiosa que sou, a pergunta que faço é: por que um estudo tão relevante para o futuro da comunicação humana e financiado com dinheiro público é anunciado por uma empresa? Caso o Brain2Qwerty venha a se tornar uma realidade, quais garantias teremos de que a Meta, que já coleta e minera uma parte significativa da nossa atividade online, não vai andar lendo nossos pensamentos por aí do jeito que bem entender?
Eu, que sou fofoqueira, fiquei preocupada. Só Deus e as Deusas sabem o que se passa na minha mente neurodivergente. Imagine um dispositivo lendo meus pensamentos e transmitindo-os em um sistema qualquer, tipo smartwatches ou em um telão… Rindo de nervoso.
Brincadeiras à parte, minha proposta aqui é pensarmos, enquanto sociedade, nos impactos e consequências do desenvolvimento de tecnologias que prometem melhorar nossas vidas, mas que, quando são capitaneadas por grandes corporações, correm o risco de se tornarem ferramentas de controle, manipulação e vigilância e armas de guerra. Nenhum desenvolvimento tecnológico é neutro ou visa apenas soluções para o nosso bem-estar social.
Há sempre interesses escusos e financeiros, práticas antiéticas disfarçadas de discursos de esperança num mundo mais igualitário. No entanto, a própria Internet, as redes sociais e tudo o que temos visto até aqui quando se trata de comunicação mediada acentuaram o que há de mais vil no ser humano.
Promover a literacia digital deve ir muito além de ensinar pessoas a ligarem um computador ou enviar um e-mail. Requer um compromisso dos Estados, das empresas e da sociedade como um todo de modo a estimular o pensamento crítico sobre toda e qualquer chamada “evolução”. Que tal começar a falar na sua roda de amigos sobre este assunto? Haja terapia.
A ideia de transformar pensamentos em texto pode revolucionar a comunicação humana, especialmente para pessoas com algum tipo de deficiência física ou que perderam a capacidade de fala e movimento. Com a promessa de um método não invasivo, a empresa divulgou os resultados dos primeiros testes, afirmando ter desenvolvido um sistema chamado Brain2Qwerty, que interpreta sinais cerebrais sem intervenção neurocirúrgica.
O teste foi realizado com 35 voluntários saudáveis, como afirmou a Meta, utilizando eletroencefalografia (EEG) e magnetoencefalografia (MEG) enquanto digitavam frases memorizadas em um teclado QWERTY. A análise sugere que o sistema capta tanto comandos motores quanto processos cognitivos. Caso o projeto se concretize nos próximos anos e venha a ser acessível, a forma como nos comunicamos hoje poderá ser profundamente modificada.
Embora a ideia pareça saída de um filme de ficção científica, os primeiros testes já demonstraram um nível avançado de precisão na conversão de pensamentos em texto. No entanto, a implementação dessa tecnologia em larga escala enfrentará desafios técnicos significativos, já que a captação de sinais cerebrais requer equipamentos sofisticados e um nível de personalização para cada usuário, o que poderá limitar sua adoção e comercialização generalizada.
Mesmo parecendo tão distante da nossa realidade, vamos lembrar que Mark Zuckerberg e sua equipe são bem engenhosos. Tanto que a forma como interagimos nas redes sociais hoje se deve ao trabalho iniciado no início dos anos 2000, quando ele ainda era um jovem estudante. Imagine agora que é um dos homens mais poderosos do mundo?
O que está em questão aqui não é o avanço da ciência e da tecnologia na busca por soluções que mudem a vida das pessoas, sobretudo daquelas que se encontram em condições de saúde vulneráveis ou até dependentes de seus familiares e redes de apoio para questões básicas da vida, como comunicar onde sentem dor, por exemplo.
O mais curioso não é a pesquisa em si, mas o fato de uma big tech anunciar, em seu próprio site, a propriedade de um recurso que poderá ser útil para milhões de pessoas e que conta com verba pública da União Europeia para sua fase inicial, conforme consta nos agradecimentos do artigo publicado pela equipe de pesquisa.
“Esta pesquisa é apoiada pelo Governo Basco por meio do programa BERC 2022-2025 e financiada pela Agência de Pesquisa do Estado Espanhol”. Partes deste trabalho foram realizadas no âmbito do programa de pesquisa e inovação Horizonte 2020 da União Europeia sob o acordo de subvenção Marie Skłodowska-Curie”.
Ora, curiosa que sou, a pergunta que faço é: por que um estudo tão relevante para o futuro da comunicação humana e financiado com dinheiro público é anunciado por uma empresa? Caso o Brain2Qwerty venha a se tornar uma realidade, quais garantias teremos de que a Meta, que já coleta e minera uma parte significativa da nossa atividade online, não vai andar lendo nossos pensamentos por aí do jeito que bem entender?
Eu, que sou fofoqueira, fiquei preocupada. Só Deus e as Deusas sabem o que se passa na minha mente neurodivergente. Imagine um dispositivo lendo meus pensamentos e transmitindo-os em um sistema qualquer, tipo smartwatches ou em um telão… Rindo de nervoso.
Brincadeiras à parte, minha proposta aqui é pensarmos, enquanto sociedade, nos impactos e consequências do desenvolvimento de tecnologias que prometem melhorar nossas vidas, mas que, quando são capitaneadas por grandes corporações, correm o risco de se tornarem ferramentas de controle, manipulação e vigilância e armas de guerra. Nenhum desenvolvimento tecnológico é neutro ou visa apenas soluções para o nosso bem-estar social.
Há sempre interesses escusos e financeiros, práticas antiéticas disfarçadas de discursos de esperança num mundo mais igualitário. No entanto, a própria Internet, as redes sociais e tudo o que temos visto até aqui quando se trata de comunicação mediada acentuaram o que há de mais vil no ser humano.
Promover a literacia digital deve ir muito além de ensinar pessoas a ligarem um computador ou enviar um e-mail. Requer um compromisso dos Estados, das empresas e da sociedade como um todo de modo a estimular o pensamento crítico sobre toda e qualquer chamada “evolução”. Que tal começar a falar na sua roda de amigos sobre este assunto? Haja terapia.
A incompreensível abdicação dos Estados Unidos
O que se oferece a alguém que tudo tem? Paranóia. A aproximar-se do seu 250.º aniversário, a América mergulhou numa absolutamente desnecessária crise de meia-idade, convencendo-se de uma doença imaginária que só pode ser curada a golpes de motosserra, numa neurose alimentada a demagogia, propaganda e desinformação, mas com consequências reais, devastadoras e irreversíveis, para si e para o resto do mundo.
Em apenas um mês, os EUA dinamitaram a sua posição cimeira no sistema internacional. A pressão extorsionária para que a Ucrânia capitule incondicionalmente perante Moscou, a ameaça de anexação da Groenlândia e até mesmo do Canadá, a guerra comercial, a campanha flagrante pelas forças de extrema-direita nas eleições alemãs e os discursos isolacionistas e reacionários de J.D. Vance e Pete Hegseth em Munique e Bruxelas extinguiram o elemento-chave da relação transatlântica: a confiança.
O encontro amistoso entre Trump e o Presidente francês, Emmanuel Macron, esta segunda-feira, em Washington, pode indicar um possível apaziguamento depois de semanas de comportamento incendiário. No entanto, uma vez perdida a confiança, os sorrisos de Macron e Trump na Casa Branca não devem ser interpretados como muito mais que cortesia.
Mais substantivas, e de longo alcance, foram as palavras do próximo chanceler alemão, o conservador Friedrich Merz na noite de domingo: “Estou a comunicar com muitos primeiros-ministros e chefes de Estado da União Europeia, e para mim é uma prioridade absoluta fortalecer a Europa o mais rapidamente possível, para alcançarmos a independência em relação aos Estados Unidos, passo a passo. (…) Nunca pensei que alguma vez precisaria de dizer algo como isto, na televisão, mas depois das mais recentes declarações de Donald Trump na semana passada, torna-se claro que os americanos – em qualquer caso, estes americanos, esta Administração – basicamente não se importam com o futuro da Europa”.
O gambito norte-americano na Europa não comprará a amizade e a confiança russas, ainda que possa gerar um desanuviamento circunstancial e oportunidades económicas para figuras bem posicionadas. Moscou sorri, mas sabe que é Pequim que lhe oferece estabilidade. Nesta segunda-feira que marca o terceiro aniversário da invasão de larga escala da Ucrânia, o Presidente chinês, Xi Jinping, telefonou ao homólogo russo, Vladimir Putin, para reafirmar uma parceria “sem limites”, “de longo prazo” e “valor estratégico único”, e que “não visa nem é influenciada por terceiros”.
É também a China a grande beneficiária do incompreensível desmantelamento da ajuda externa norte-americana, que poderá custar milhões de vidas a prazo e, uma vez mais, todo o capital de confiança de Washington em vastas áreas da Ásia, África e América Latina, esta última também sob a ameaça expansionista norte-americana.
No Médio Oriente, Trump insiste na ideia de remover permanentemente os palestinianos de Gaza e dá carta branca a Israel para regressar à guerra quando quiser, ameaçando até um dos poucos capítulos positivos do seu primeiro mandato: os Acordos de Abraão, que tinham permitido uma relativa normalização das relações entre o Estado hebraico e as potências árabes.
É tentador atribuir estratégia e intencionalidade à política externa de Trump 2.0, aludir à teoria do homem louco ou recuperar grelhas de análise de outros tempos, como o chavão do imperialismo. Mas isso implicaria um benevolente fechar de olhos à sucessão de ações erráticas e contraproducentes do último mês, e sobretudo ignorar que as reconfigurações em curso no palco internacional, agora aceleradas, terão como resultado uma perda relativa do poder norte-americano.
É também apetecível, para quem não tiver a menor predisposição a assumir as dores dos norte-americanos, celebrar a extraordinária abdicação de Washington e o fim de uma era nas relações internacionais. Mas o processo em curso faz-se de corridas às armas, da suspensão da ajuda humanitária, da extorsão de países fragilizados, do bloqueio de esforços multilaterais vitais no ambiente e na saúde pública, da promoção de tiranetes e de partidos extremistas, do empoderamento sem precedentes de multimilionários igualmente extremistas, da corrosão das instituições e da confiança. Não só o mundo de hoje é objetivamente pior do que o mundo imperfeito de 19 de janeiro de 2025, como as possibilidades de melhoria estão hoje mais distantes.
A abdicação externa dos Estado Unidos encontra paralelo no plano interno. Trump entregou ao homem mais rico do mundo, que lhe pagou a campanha eleitoral, uma motosserra para esventrar o mesmo Estado que, ao longo de décadas, foi motor e não obstáculo do extraordinário crescimento econômico e tecnológico do país – da corrida ao espaço até à criação da internet.
Os cortes cegos na administração pública federal (dezenas de milhares de despedimentos até ao momento, verbas de milhares de milhões de dólares congeladas), justificados com histórias falsas ou exageradas de fraude e desperdício, começam a ser sentidos a jusante. Há universidades a cancelar programas de doutoramento, milhares de cientistas dispensados ou sem financiamento, agricultores arruinados, fornecedores do Estado a fechar portas, governadores e congressistas republicanos preocupados e acossados pelos seus eleitores.
O deslumbramento de quem vê um país como pouco mais que um quadro regulatório para o sector tecnológico não é partilhado pela generalidade dos norte-americanos. A confiança dos consumidores caiu 10% em fevereiro face a janeiro, segundo um barômetro de referência da Universidade do Michigan. Um relatório preliminar da S&P Global indica que a atividade comercial está em mínimos de 17 meses. Na sexta-feira, a bolsa fechou com a maior queda desde meados de dezembro, e após semanas de estagnação, perante os receios em torno do impacto inflacionário das políticas de Trump.
Enquanto isso, e ao passo que se afastam generais de quatro estrelas pelo pecado de uma tomada de posição antirracista, enche-se o mesmo Estado de figuras absolutamente desqualificadas, escolhidas pela sua fidelidade a Trump ou pela presença na Fox News. Na noite de domingo, o anúncio do próximo número dois do FBI: Dan Bongino um dos mais prolíficos divulgadores de teorias da conspiração da era das redes sociais. Dizem que é a meritocracia.
Grandes nações e impérios caíram ao longo da História. Pela ascensão dos seus rivais, por aventuras militares desastrosas, por terríveis crises internas. Poucos países terão escolhido abdicar da sua liderança de forma tão voluntária, incompreensível e sobretudo desnecessária como os Estados Unidos.
Em apenas um mês, os EUA dinamitaram a sua posição cimeira no sistema internacional. A pressão extorsionária para que a Ucrânia capitule incondicionalmente perante Moscou, a ameaça de anexação da Groenlândia e até mesmo do Canadá, a guerra comercial, a campanha flagrante pelas forças de extrema-direita nas eleições alemãs e os discursos isolacionistas e reacionários de J.D. Vance e Pete Hegseth em Munique e Bruxelas extinguiram o elemento-chave da relação transatlântica: a confiança.
O encontro amistoso entre Trump e o Presidente francês, Emmanuel Macron, esta segunda-feira, em Washington, pode indicar um possível apaziguamento depois de semanas de comportamento incendiário. No entanto, uma vez perdida a confiança, os sorrisos de Macron e Trump na Casa Branca não devem ser interpretados como muito mais que cortesia.
Mais substantivas, e de longo alcance, foram as palavras do próximo chanceler alemão, o conservador Friedrich Merz na noite de domingo: “Estou a comunicar com muitos primeiros-ministros e chefes de Estado da União Europeia, e para mim é uma prioridade absoluta fortalecer a Europa o mais rapidamente possível, para alcançarmos a independência em relação aos Estados Unidos, passo a passo. (…) Nunca pensei que alguma vez precisaria de dizer algo como isto, na televisão, mas depois das mais recentes declarações de Donald Trump na semana passada, torna-se claro que os americanos – em qualquer caso, estes americanos, esta Administração – basicamente não se importam com o futuro da Europa”.
O gambito norte-americano na Europa não comprará a amizade e a confiança russas, ainda que possa gerar um desanuviamento circunstancial e oportunidades económicas para figuras bem posicionadas. Moscou sorri, mas sabe que é Pequim que lhe oferece estabilidade. Nesta segunda-feira que marca o terceiro aniversário da invasão de larga escala da Ucrânia, o Presidente chinês, Xi Jinping, telefonou ao homólogo russo, Vladimir Putin, para reafirmar uma parceria “sem limites”, “de longo prazo” e “valor estratégico único”, e que “não visa nem é influenciada por terceiros”.
É também a China a grande beneficiária do incompreensível desmantelamento da ajuda externa norte-americana, que poderá custar milhões de vidas a prazo e, uma vez mais, todo o capital de confiança de Washington em vastas áreas da Ásia, África e América Latina, esta última também sob a ameaça expansionista norte-americana.
No Médio Oriente, Trump insiste na ideia de remover permanentemente os palestinianos de Gaza e dá carta branca a Israel para regressar à guerra quando quiser, ameaçando até um dos poucos capítulos positivos do seu primeiro mandato: os Acordos de Abraão, que tinham permitido uma relativa normalização das relações entre o Estado hebraico e as potências árabes.
É tentador atribuir estratégia e intencionalidade à política externa de Trump 2.0, aludir à teoria do homem louco ou recuperar grelhas de análise de outros tempos, como o chavão do imperialismo. Mas isso implicaria um benevolente fechar de olhos à sucessão de ações erráticas e contraproducentes do último mês, e sobretudo ignorar que as reconfigurações em curso no palco internacional, agora aceleradas, terão como resultado uma perda relativa do poder norte-americano.
É também apetecível, para quem não tiver a menor predisposição a assumir as dores dos norte-americanos, celebrar a extraordinária abdicação de Washington e o fim de uma era nas relações internacionais. Mas o processo em curso faz-se de corridas às armas, da suspensão da ajuda humanitária, da extorsão de países fragilizados, do bloqueio de esforços multilaterais vitais no ambiente e na saúde pública, da promoção de tiranetes e de partidos extremistas, do empoderamento sem precedentes de multimilionários igualmente extremistas, da corrosão das instituições e da confiança. Não só o mundo de hoje é objetivamente pior do que o mundo imperfeito de 19 de janeiro de 2025, como as possibilidades de melhoria estão hoje mais distantes.
A abdicação externa dos Estado Unidos encontra paralelo no plano interno. Trump entregou ao homem mais rico do mundo, que lhe pagou a campanha eleitoral, uma motosserra para esventrar o mesmo Estado que, ao longo de décadas, foi motor e não obstáculo do extraordinário crescimento econômico e tecnológico do país – da corrida ao espaço até à criação da internet.
Os cortes cegos na administração pública federal (dezenas de milhares de despedimentos até ao momento, verbas de milhares de milhões de dólares congeladas), justificados com histórias falsas ou exageradas de fraude e desperdício, começam a ser sentidos a jusante. Há universidades a cancelar programas de doutoramento, milhares de cientistas dispensados ou sem financiamento, agricultores arruinados, fornecedores do Estado a fechar portas, governadores e congressistas republicanos preocupados e acossados pelos seus eleitores.
O deslumbramento de quem vê um país como pouco mais que um quadro regulatório para o sector tecnológico não é partilhado pela generalidade dos norte-americanos. A confiança dos consumidores caiu 10% em fevereiro face a janeiro, segundo um barômetro de referência da Universidade do Michigan. Um relatório preliminar da S&P Global indica que a atividade comercial está em mínimos de 17 meses. Na sexta-feira, a bolsa fechou com a maior queda desde meados de dezembro, e após semanas de estagnação, perante os receios em torno do impacto inflacionário das políticas de Trump.
Enquanto isso, e ao passo que se afastam generais de quatro estrelas pelo pecado de uma tomada de posição antirracista, enche-se o mesmo Estado de figuras absolutamente desqualificadas, escolhidas pela sua fidelidade a Trump ou pela presença na Fox News. Na noite de domingo, o anúncio do próximo número dois do FBI: Dan Bongino um dos mais prolíficos divulgadores de teorias da conspiração da era das redes sociais. Dizem que é a meritocracia.
Grandes nações e impérios caíram ao longo da História. Pela ascensão dos seus rivais, por aventuras militares desastrosas, por terríveis crises internas. Poucos países terão escolhido abdicar da sua liderança de forma tão voluntária, incompreensível e sobretudo desnecessária como os Estados Unidos.
E ainda faltam 47 meses…
Em apenas um mês, desde a tomada de posse a 20 de janeiro, Donald Trump dinamitou a ordem mundial, ditou o fim da era de livre comércio global, fez implodir o que ainda restava do soft-power dos EUA pelos cinco continentes, virou ostensivamente as costas aos aliados tradicionais de Washington, acionou o botão para fazer evaporar a aliança transatlântica e, pelo caminho, ainda teve tempo para iniciar o processo de reabilitação de Vladimir Putin perante a comunidade internacional.
Nos seus primeiros 30 dias no regresso ao poder, Donald Trump conseguiu ainda retirar os EUA do lugar que ocuparam nas últimas décadas e mudar completamente as regras do jogo da política global. Não fez nada disto por impulso ou a reboque de instintos básicos. Tudo o que tem feito obedece a um plano, que pode parecer louco para quem queria acreditar que as promessas feitas na campanha eleitoral eram só um bluff para enganar incautos, mas que tem objetivos bem definidos: proteger os interesses norte-americanos, sem se preocupar com acordos em vigor ou alianças erguidas numa conjuntura que já desapareceu.
Desde o primeiro destes 30 dias, Donald Trump tem demonstrado que vê a União Europeia como um adversário, que precisa de dominar ou, simplesmente, abandonar à sua sorte. E, pela voz do seu vice-presidente J. D. Vance, o novo poder de Washington veio à Europa insurgir-se contra a “excessiva regulamentação” da UE em relação à Inteligência Artificial e, pior do que isso, procurar dar lições de democracia e de liberdade de expressão, como se fossem os donos absolutos da verdade.
E, se dúvidas ainda restassem acerca das suas intenções, o mesmo J. D. Vance fez questão de recusar um encontro com o chanceler alemão, preferindo antes reunir-se, em plena campanha eleitoral, com a líder dos neonazis da AfD, Alice Weidel. O que torna tudo ainda mais claro: depois da anunciada guerra comercial e das ameaças em relação aos mecanismos de defesa, os EUA de Trump estão também a declarar uma guerra ideológica aos princípios fundadores da União Europeia.
Perante tudo isto, custa a compreender como a Europa ainda não conseguiu insurgir-se, de forma clara e inequívoca, contra a ameaça que os EUA de Trump representam. Ao longo destes primeiros 30 dias, a administração norte-americana tem esticado a corda o mais possível, sem se importar com as consequências. E a Europa, como sempre, mesmo apesar das promessas de que vai responder “à altura”, continua a mostrar as suas divisões. E também uma postura permanente de prudência, que cada vez tem menos justificação. Até porque os sinais estão à vista, na atual conjunta internacional: num mundo cada vez mais dominado e entregue aos mais fortes, quem se remeter ao papel de fraco acabará, inevitavelmente, por perder.
É verdade que Donald Trump ainda só está há um mês no poder, mas, se a Europa não souber encontrar agora o tom de voz certo para o enfrentar, já sabe que, nos 47 meses que faltam até ao final do seu mandato, tudo tenderá a ficar pior.
“No fundo, somos todos reles, mas alguns de nós conseguem esconder melhor essa condição”, escreveu José Saramago no Ensaio Sobre a Cegueira. De facto, todos nós, num qualquer momento da vida, com justificação ou sem ela, já fomos reles, ou seja, já todos, por instinto de vingança ou de “cabeça perdida”, proferimos acusações injustas, grosseiras e ofensivas.
Há, no entanto, quem faça do insulto a sua forma de estar na política (ou, quem sabe, até na vida…).
=a Assembleia da República, como temos presenciado de forma repetida, há muitos deputados do Chega que são reles por convicção e não por descuido. Fazem-no por vontade própria, como se o insulto fosse a única arma de combate político que conhecem. E sempre com o mesmo objetivo de tentar arrastar a casa da democracia para o caos e a baixeza moral. Continuar a considerar que a permanente falta de educação ou as acusações reles estão dentro dos limites da liberdade de expressão só tem uma consequência: o enfraquecimento da democracia.
Rui Tavares Guedes
Nos seus primeiros 30 dias no regresso ao poder, Donald Trump conseguiu ainda retirar os EUA do lugar que ocuparam nas últimas décadas e mudar completamente as regras do jogo da política global. Não fez nada disto por impulso ou a reboque de instintos básicos. Tudo o que tem feito obedece a um plano, que pode parecer louco para quem queria acreditar que as promessas feitas na campanha eleitoral eram só um bluff para enganar incautos, mas que tem objetivos bem definidos: proteger os interesses norte-americanos, sem se preocupar com acordos em vigor ou alianças erguidas numa conjuntura que já desapareceu.
Desde o primeiro destes 30 dias, Donald Trump tem demonstrado que vê a União Europeia como um adversário, que precisa de dominar ou, simplesmente, abandonar à sua sorte. E, pela voz do seu vice-presidente J. D. Vance, o novo poder de Washington veio à Europa insurgir-se contra a “excessiva regulamentação” da UE em relação à Inteligência Artificial e, pior do que isso, procurar dar lições de democracia e de liberdade de expressão, como se fossem os donos absolutos da verdade.
E, se dúvidas ainda restassem acerca das suas intenções, o mesmo J. D. Vance fez questão de recusar um encontro com o chanceler alemão, preferindo antes reunir-se, em plena campanha eleitoral, com a líder dos neonazis da AfD, Alice Weidel. O que torna tudo ainda mais claro: depois da anunciada guerra comercial e das ameaças em relação aos mecanismos de defesa, os EUA de Trump estão também a declarar uma guerra ideológica aos princípios fundadores da União Europeia.
Perante tudo isto, custa a compreender como a Europa ainda não conseguiu insurgir-se, de forma clara e inequívoca, contra a ameaça que os EUA de Trump representam. Ao longo destes primeiros 30 dias, a administração norte-americana tem esticado a corda o mais possível, sem se importar com as consequências. E a Europa, como sempre, mesmo apesar das promessas de que vai responder “à altura”, continua a mostrar as suas divisões. E também uma postura permanente de prudência, que cada vez tem menos justificação. Até porque os sinais estão à vista, na atual conjunta internacional: num mundo cada vez mais dominado e entregue aos mais fortes, quem se remeter ao papel de fraco acabará, inevitavelmente, por perder.
É verdade que Donald Trump ainda só está há um mês no poder, mas, se a Europa não souber encontrar agora o tom de voz certo para o enfrentar, já sabe que, nos 47 meses que faltam até ao final do seu mandato, tudo tenderá a ficar pior.
“No fundo, somos todos reles, mas alguns de nós conseguem esconder melhor essa condição”, escreveu José Saramago no Ensaio Sobre a Cegueira. De facto, todos nós, num qualquer momento da vida, com justificação ou sem ela, já fomos reles, ou seja, já todos, por instinto de vingança ou de “cabeça perdida”, proferimos acusações injustas, grosseiras e ofensivas.
Há, no entanto, quem faça do insulto a sua forma de estar na política (ou, quem sabe, até na vida…).
=a Assembleia da República, como temos presenciado de forma repetida, há muitos deputados do Chega que são reles por convicção e não por descuido. Fazem-no por vontade própria, como se o insulto fosse a única arma de combate político que conhecem. E sempre com o mesmo objetivo de tentar arrastar a casa da democracia para o caos e a baixeza moral. Continuar a considerar que a permanente falta de educação ou as acusações reles estão dentro dos limites da liberdade de expressão só tem uma consequência: o enfraquecimento da democracia.
Rui Tavares Guedes
quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025
Trabalhos de pobre
É domingo num centro comercial na franja de Lisboa. A zona da restauração está cheia. Nas mesas, quase todas as crianças estão absortas em telefones ou tablets e o mesmo se pode dizer da maioria dos adultos. Uns e outros curvados sobre ecrãs, juntos, mas distantes. Estou na fila para a Kidzania, uma espécie de Portugal dos Pequeninos sem regionalismos nem colonialismo, onde os símbolos nacionais foram substituídos por marcas. As crianças impacientam-se na espera para o check -in, feito num balcão que reproduz o dos aeroportos, para simular a viagem que os levará a um mundo em que poderão experimentar as profissões que quiserem e receberem em troca uma espécie de dinheiro de monopólio, que serve para usar nas brincadeiras, mas que rapidamente transforma os pequenos em capitalistas avarentos, maravilhados com a ideia de acumular aqueles pedaços de papel, recusando-se a gastá-los nas atividades, para depois os levarem para casa, onde ficarão esquecidos numa caixa de brinquedos.
Atrás de mim, duas irmãs entusiasmam-se com o que poderão de fazer quando finalmente se abrirem as portas. “Quero ir trabalhar nas limpezas do hotel”, diz a mais nova, resoluta. A ambição é cortada pela mãe, ríspida. “Isso é trabalho de pobre”, sentencia, perante o silêncio do pai, impaciente com a espera, talvez desejoso de se ver livre do programa familiar. A criança engole a resposta em silêncio. Pensa por um momento. “E polícia? Posso ser polícia?”, pergunta já sem a mesma certeza. “Ou cabeleira”, arrisca. “Só gostas de trabalhos de pobre”, critica, novamente a mãe, que lhe sugere outras ambições profissionais para a brincadeira, como ser médica ou veterinária.
A criança não reage. E eu tento olhar discretamente para a família para perceber de onde vem aquela conversa. Pai, mãe, duas filhas. A mais velha não terá mais do que nove anos, a mais nova andará pelos cinco. Nenhum sinal exterior de riqueza, nenhum tom de voz afetado, nada que os distinga do que poderá ser uma classe média baixa suburbana, certamente remediada. Ponho-me a pensar que profissão poderão ter e é impossível ter a certeza de acertar. Podem ser pequenos comerciantes, talvez ela trabalhe num cabeleireiro e ele seja eletricista, ou talvez sejam administrativos, um nos seguros, outro na Função Pública. É impossível saber ao certo, mas interrogo-me: de onde poderá vir esta ideia de que há “trabalhos de pobre” que os filhos não devem ter nem a brincar?
Poderá essa ideia nascer da rejeição da sua própria condição? Sou de uma geração criada por pais que viam na educação um passaporte para uma vida melhor. Tenho vários amigos que ostentavam o orgulho e a responsabilidade de serem os primeiros da família a chegar à universidade. Mas não me lembro de ter ouvido esta expressão “trabalho de pobre”. E Deus sabe como muitos dos mais qualificados da minha geração têm tido trabalhos precários e mal pagos, deitando por terra os sonhos que os pais acalentaram enquanto lhes financiavam (muitas vezes a muito custo) os estudos.
Lembro-me, então, de uma expressão racista que ouvi tantas vezes. “Trabalha como um preto” ou “é uma moura de trabalho”, dizia-se muitas vezes, quase sempre num tom entre o desprezo e a pena, que andam tantas vezes de mãos dadas. O Eduardo Lourenço dizia que “não trabalhar foi sempre, em Portugal, sinal de nobreza e quando, como na Europa futuramente protestante, o trabalho se converte por sua vez em sinal de eleição, nós descobrimos coletivamente a maneira de refinar uma herança ancestral transferindo para o preto essa penosa obrigação”. E é capaz de estar aí parte da explicação para o que ouvi naquela tarde de domingo.
Há uma desvalorização do trabalho pelas elites que é mimetizada pelas classes mais baixas, cada vez mais iludidas com a ideia de uma ascensão social fictícia. O trabalho não é valorizado a menos que possa dar dinheiro. Já nem o estatuto social que era atribuído a algumas profissões se mantém. Não é importante ser professor, médico ou engenheiro. É importante ter dinheiro. Não é valorizado o contributo que cada um de nós, com o seu trabalho, possa dar à sociedade. É valorizado o poder material.
Há crianças e adolescentes que respondem sem pestanejar com um “quero ser rico” à tradicional pergunta que sobre o que querem ser. Eles querem ser youtubers, jogadores da bola, influencers, criptomilionários. Não querem ser nada, verdadeiramente, querem ter. Ironicamente, as profissões que parecem mais distantes de desaparecer na vaga tecnológica da Inteligência Artificial são as que hoje estão na categoria de “trabalho de pobre”, as que se dedicam ao cuidado e às limpezas, aos trabalhos manuais, que na pandemia dissemos serem “essenciais”, mas que tanto desprezamos e desvalorizamos.
A ideia de que o trabalho nos define está, cada vez mais, fora de moda. E talvez haja um lado muito positivo nisso. Mas o desprezo por aquilo que se faz é também um sintoma de uma sociedade deslassada, que endeusa o ilusório mérito individual e perde de vista a força do que se produz num coletivo. Estamos cada vez mais pobres. E é de espírito.
Talvez esteja na altura de ensinarmos às crianças que há uma dignidade associada ao trabalho, que não se esgota no estatuto nem no dinheiro, mas na possibilidade de produzirmos um efeito no mundo. E que essa será sempre uma enorme riqueza.
Atrás de mim, duas irmãs entusiasmam-se com o que poderão de fazer quando finalmente se abrirem as portas. “Quero ir trabalhar nas limpezas do hotel”, diz a mais nova, resoluta. A ambição é cortada pela mãe, ríspida. “Isso é trabalho de pobre”, sentencia, perante o silêncio do pai, impaciente com a espera, talvez desejoso de se ver livre do programa familiar. A criança engole a resposta em silêncio. Pensa por um momento. “E polícia? Posso ser polícia?”, pergunta já sem a mesma certeza. “Ou cabeleira”, arrisca. “Só gostas de trabalhos de pobre”, critica, novamente a mãe, que lhe sugere outras ambições profissionais para a brincadeira, como ser médica ou veterinária.
A criança não reage. E eu tento olhar discretamente para a família para perceber de onde vem aquela conversa. Pai, mãe, duas filhas. A mais velha não terá mais do que nove anos, a mais nova andará pelos cinco. Nenhum sinal exterior de riqueza, nenhum tom de voz afetado, nada que os distinga do que poderá ser uma classe média baixa suburbana, certamente remediada. Ponho-me a pensar que profissão poderão ter e é impossível ter a certeza de acertar. Podem ser pequenos comerciantes, talvez ela trabalhe num cabeleireiro e ele seja eletricista, ou talvez sejam administrativos, um nos seguros, outro na Função Pública. É impossível saber ao certo, mas interrogo-me: de onde poderá vir esta ideia de que há “trabalhos de pobre” que os filhos não devem ter nem a brincar?
Poderá essa ideia nascer da rejeição da sua própria condição? Sou de uma geração criada por pais que viam na educação um passaporte para uma vida melhor. Tenho vários amigos que ostentavam o orgulho e a responsabilidade de serem os primeiros da família a chegar à universidade. Mas não me lembro de ter ouvido esta expressão “trabalho de pobre”. E Deus sabe como muitos dos mais qualificados da minha geração têm tido trabalhos precários e mal pagos, deitando por terra os sonhos que os pais acalentaram enquanto lhes financiavam (muitas vezes a muito custo) os estudos.
Lembro-me, então, de uma expressão racista que ouvi tantas vezes. “Trabalha como um preto” ou “é uma moura de trabalho”, dizia-se muitas vezes, quase sempre num tom entre o desprezo e a pena, que andam tantas vezes de mãos dadas. O Eduardo Lourenço dizia que “não trabalhar foi sempre, em Portugal, sinal de nobreza e quando, como na Europa futuramente protestante, o trabalho se converte por sua vez em sinal de eleição, nós descobrimos coletivamente a maneira de refinar uma herança ancestral transferindo para o preto essa penosa obrigação”. E é capaz de estar aí parte da explicação para o que ouvi naquela tarde de domingo.
Há uma desvalorização do trabalho pelas elites que é mimetizada pelas classes mais baixas, cada vez mais iludidas com a ideia de uma ascensão social fictícia. O trabalho não é valorizado a menos que possa dar dinheiro. Já nem o estatuto social que era atribuído a algumas profissões se mantém. Não é importante ser professor, médico ou engenheiro. É importante ter dinheiro. Não é valorizado o contributo que cada um de nós, com o seu trabalho, possa dar à sociedade. É valorizado o poder material.
Há crianças e adolescentes que respondem sem pestanejar com um “quero ser rico” à tradicional pergunta que sobre o que querem ser. Eles querem ser youtubers, jogadores da bola, influencers, criptomilionários. Não querem ser nada, verdadeiramente, querem ter. Ironicamente, as profissões que parecem mais distantes de desaparecer na vaga tecnológica da Inteligência Artificial são as que hoje estão na categoria de “trabalho de pobre”, as que se dedicam ao cuidado e às limpezas, aos trabalhos manuais, que na pandemia dissemos serem “essenciais”, mas que tanto desprezamos e desvalorizamos.
A ideia de que o trabalho nos define está, cada vez mais, fora de moda. E talvez haja um lado muito positivo nisso. Mas o desprezo por aquilo que se faz é também um sintoma de uma sociedade deslassada, que endeusa o ilusório mérito individual e perde de vista a força do que se produz num coletivo. Estamos cada vez mais pobres. E é de espírito.
Talvez esteja na altura de ensinarmos às crianças que há uma dignidade associada ao trabalho, que não se esgota no estatuto nem no dinheiro, mas na possibilidade de produzirmos um efeito no mundo. E que essa será sempre uma enorme riqueza.
A incompreensível abdicação dos Estados Unidos
O que se oferece a alguém que tudo tem? Paranóia. A aproximar-se do seu 250.º aniversário, a América mergulhou numa absolutamente desnecessária crise de meia-idade, convencendo-se de uma doença imaginária que só pode ser curada a golpes de motosserra, numa neurose alimentada a demagogia, propaganda e desinformação, mas com consequências reais, devastadoras e irreversíveis, para si e para o resto do mundo.
Em apenas um mês, os EUA dinamitaram a sua posição cimeira no sistema internacional. A pressão extorsionária para que a Ucrânia capitule incondicionalmente perante Moscou, a ameaça de anexação da Groenlândia e até mesmo do Canadá, a guerra comercial, a campanha flagrante pelas forças de extrema-direita nas eleições alemãs e os discursos isolacionistas e reacionários de J.D. Vance e Pete Hegseth em Munique e Bruxelas extinguiram o elemento-chave da relação transatlântica: a confiança.
O encontro amistoso entre Trump e o Presidente francês, Emmanuel Macron, esta segunda-feira, em Washington, pode indicar um possível apaziguamento depois de semanas de comportamento incendiário. No entanto, uma vez perdida a confiança, os sorrisos de Macron e Trump na Casa Branca não devem ser interpretados como muito mais que cortesia.
Mais substantivas, e de longo alcance, foram as palavras do próximo chanceler alemão, o conservador Friedrich Merz na noite de domingo: “Estou a comunicar com muitos primeiros-ministros e chefes de Estado da União Europeia, e para mim é uma prioridade absoluta fortalecer a Europa o mais rapidamente possível, para alcançarmos a independência em relação aos Estados Unidos, passo a passo. (…) Nunca pensei que alguma vez precisaria de dizer algo como isto, na televisão, mas depois das mais recentes declarações de Donald Trump na semana passada, torna-se claro que os americanos – em qualquer caso, estes americanos, esta Administração – basicamente não se importam com o futuro da Europa”.
O gambito norte-americano na Europa não comprará a amizade e a confiança russas, ainda que possa gerar um desanuviamento circunstancial e oportunidades económicas para figuras bem posicionadas. Moscou sorri, mas sabe que é Pequim que lhe oferece estabilidade. Nesta segunda-feira que marca o terceiro aniversário da invasão de larga escala da Ucrânia, o Presidente chinês, Xi Jinping, telefonou ao homólogo russo, Vladimir Putin, para reafirmar uma parceria “sem limites”, “de longo prazo” e “valor estratégico único”, e que “não visa nem é influenciada por terceiros”.
É também a China a grande beneficiária do incompreensível desmantelamento da ajuda externa norte-americana, que poderá custar milhões de vidas a prazo e, uma vez mais, todo o capital de confiança de Washington em vastas áreas da Ásia, África e América Latina, esta última também sob a ameaça expansionista norte-americana.
No Médio Oriente, Trump insiste na ideia de remover permanentemente os palestinianos de Gaza e dá carta branca a Israel para regressar à guerra quando quiser, ameaçando até um dos poucos capítulos positivos do seu primeiro mandato: os Acordos de Abraão, que tinham permitido uma relativa normalização das relações entre o Estado hebraico e as potências árabes.
É tentador atribuir estratégia e intencionalidade à política externa de Trump 2.0, aludir à teoria do homem louco ou recuperar grelhas de análise de outros tempos, como o chavão do imperialismo. Mas isso implicaria um benevolente fechar de olhos à sucessão de ações erráticas e contraproducentes do último mês, e sobretudo ignorar que as reconfigurações em curso no palco internacional, agora aceleradas, terão como resultado uma perda relativa do poder norte-americano.
É também apetecível, para quem não tiver a menor predisposição a assumir as dores dos norte-americanos, celebrar a extraordinária abdicação de Washington e o fim de uma era nas relações internacionais. Mas o processo em curso faz-se de corridas às armas, da suspensão da ajuda humanitária, da extorsão de países fragilizados, do bloqueio de esforços multilaterais vitais no ambiente e na saúde pública, da promoção de tiranetes e de partidos extremistas, do empoderamento sem precedentes de multimilionários igualmente extremistas, da corrosão das instituições e da confiança. Não só o mundo de hoje é objetivamente pior do que o mundo imperfeito de 19 de janeiro de 2025, como as possibilidades de melhoria estão hoje mais distantes.
A abdicação externa dos Estado Unidos encontra paralelo no plano interno. Trump entregou ao homem mais rico do mundo, que lhe pagou a campanha eleitoral, uma motosserra para esventrar o mesmo Estado que, ao longo de décadas, foi motor e não obstáculo do extraordinário crescimento econômico e tecnológico do país – da corrida ao espaço até à criação da internet.
Os cortes cegos na administração pública federal (dezenas de milhares de despedimentos até ao momento, verbas de milhares de milhões de dólares congeladas), justificados com histórias falsas ou exageradas de fraude e desperdício, começam a ser sentidos a jusante. Há universidades a cancelar programas de doutoramento, milhares de cientistas dispensados ou sem financiamento, agricultores arruinados, fornecedores do Estado a fechar portas, governadores e congressistas republicanos preocupados e acossados pelos seus eleitores.
O deslumbramento de quem vê um país como pouco mais que um quadro regulatório para o sector tecnológico não é partilhado pela generalidade dos norte-americanos. A confiança dos consumidores caiu 10% em fevereiro face a janeiro, segundo um barômetro de referência da Universidade do Michigan. Um relatório preliminar da S&P Global indica que a atividade comercial está em mínimos de 17 meses. Na sexta-feira, a bolsa fechou com a maior queda desde meados de dezembro, e após semanas de estagnação, perante os receios em torno do impacto inflacionário das políticas de Trump.
Enquanto isso, e ao passo que se afastam generais de quatro estrelas pelo pecado de uma tomada de posição antirracista, enche-se o mesmo Estado de figuras absolutamente desqualificadas, escolhidas pela sua fidelidade a Trump ou pela presença na Fox News. Na noite de domingo, o anúncio do próximo número dois do FBI: Dan Bongino um dos mais prolíficos divulgadores de teorias da conspiração da era das redes sociais. Dizem que é a meritocracia.
Grandes nações e impérios caíram ao longo da História. Pela ascensão dos seus rivais, por aventuras militares desastrosas, por terríveis crises internas. Poucos países terão escolhido abdicar da sua liderança de forma tão voluntária, incompreensível e sobretudo desnecessária como os Estados Unidos.
Em apenas um mês, os EUA dinamitaram a sua posição cimeira no sistema internacional. A pressão extorsionária para que a Ucrânia capitule incondicionalmente perante Moscou, a ameaça de anexação da Groenlândia e até mesmo do Canadá, a guerra comercial, a campanha flagrante pelas forças de extrema-direita nas eleições alemãs e os discursos isolacionistas e reacionários de J.D. Vance e Pete Hegseth em Munique e Bruxelas extinguiram o elemento-chave da relação transatlântica: a confiança.
O encontro amistoso entre Trump e o Presidente francês, Emmanuel Macron, esta segunda-feira, em Washington, pode indicar um possível apaziguamento depois de semanas de comportamento incendiário. No entanto, uma vez perdida a confiança, os sorrisos de Macron e Trump na Casa Branca não devem ser interpretados como muito mais que cortesia.
Mais substantivas, e de longo alcance, foram as palavras do próximo chanceler alemão, o conservador Friedrich Merz na noite de domingo: “Estou a comunicar com muitos primeiros-ministros e chefes de Estado da União Europeia, e para mim é uma prioridade absoluta fortalecer a Europa o mais rapidamente possível, para alcançarmos a independência em relação aos Estados Unidos, passo a passo. (…) Nunca pensei que alguma vez precisaria de dizer algo como isto, na televisão, mas depois das mais recentes declarações de Donald Trump na semana passada, torna-se claro que os americanos – em qualquer caso, estes americanos, esta Administração – basicamente não se importam com o futuro da Europa”.
O gambito norte-americano na Europa não comprará a amizade e a confiança russas, ainda que possa gerar um desanuviamento circunstancial e oportunidades económicas para figuras bem posicionadas. Moscou sorri, mas sabe que é Pequim que lhe oferece estabilidade. Nesta segunda-feira que marca o terceiro aniversário da invasão de larga escala da Ucrânia, o Presidente chinês, Xi Jinping, telefonou ao homólogo russo, Vladimir Putin, para reafirmar uma parceria “sem limites”, “de longo prazo” e “valor estratégico único”, e que “não visa nem é influenciada por terceiros”.
É também a China a grande beneficiária do incompreensível desmantelamento da ajuda externa norte-americana, que poderá custar milhões de vidas a prazo e, uma vez mais, todo o capital de confiança de Washington em vastas áreas da Ásia, África e América Latina, esta última também sob a ameaça expansionista norte-americana.
No Médio Oriente, Trump insiste na ideia de remover permanentemente os palestinianos de Gaza e dá carta branca a Israel para regressar à guerra quando quiser, ameaçando até um dos poucos capítulos positivos do seu primeiro mandato: os Acordos de Abraão, que tinham permitido uma relativa normalização das relações entre o Estado hebraico e as potências árabes.
É tentador atribuir estratégia e intencionalidade à política externa de Trump 2.0, aludir à teoria do homem louco ou recuperar grelhas de análise de outros tempos, como o chavão do imperialismo. Mas isso implicaria um benevolente fechar de olhos à sucessão de ações erráticas e contraproducentes do último mês, e sobretudo ignorar que as reconfigurações em curso no palco internacional, agora aceleradas, terão como resultado uma perda relativa do poder norte-americano.
É também apetecível, para quem não tiver a menor predisposição a assumir as dores dos norte-americanos, celebrar a extraordinária abdicação de Washington e o fim de uma era nas relações internacionais. Mas o processo em curso faz-se de corridas às armas, da suspensão da ajuda humanitária, da extorsão de países fragilizados, do bloqueio de esforços multilaterais vitais no ambiente e na saúde pública, da promoção de tiranetes e de partidos extremistas, do empoderamento sem precedentes de multimilionários igualmente extremistas, da corrosão das instituições e da confiança. Não só o mundo de hoje é objetivamente pior do que o mundo imperfeito de 19 de janeiro de 2025, como as possibilidades de melhoria estão hoje mais distantes.
A abdicação externa dos Estado Unidos encontra paralelo no plano interno. Trump entregou ao homem mais rico do mundo, que lhe pagou a campanha eleitoral, uma motosserra para esventrar o mesmo Estado que, ao longo de décadas, foi motor e não obstáculo do extraordinário crescimento econômico e tecnológico do país – da corrida ao espaço até à criação da internet.
Os cortes cegos na administração pública federal (dezenas de milhares de despedimentos até ao momento, verbas de milhares de milhões de dólares congeladas), justificados com histórias falsas ou exageradas de fraude e desperdício, começam a ser sentidos a jusante. Há universidades a cancelar programas de doutoramento, milhares de cientistas dispensados ou sem financiamento, agricultores arruinados, fornecedores do Estado a fechar portas, governadores e congressistas republicanos preocupados e acossados pelos seus eleitores.
O deslumbramento de quem vê um país como pouco mais que um quadro regulatório para o sector tecnológico não é partilhado pela generalidade dos norte-americanos. A confiança dos consumidores caiu 10% em fevereiro face a janeiro, segundo um barômetro de referência da Universidade do Michigan. Um relatório preliminar da S&P Global indica que a atividade comercial está em mínimos de 17 meses. Na sexta-feira, a bolsa fechou com a maior queda desde meados de dezembro, e após semanas de estagnação, perante os receios em torno do impacto inflacionário das políticas de Trump.
Enquanto isso, e ao passo que se afastam generais de quatro estrelas pelo pecado de uma tomada de posição antirracista, enche-se o mesmo Estado de figuras absolutamente desqualificadas, escolhidas pela sua fidelidade a Trump ou pela presença na Fox News. Na noite de domingo, o anúncio do próximo número dois do FBI: Dan Bongino um dos mais prolíficos divulgadores de teorias da conspiração da era das redes sociais. Dizem que é a meritocracia.
Grandes nações e impérios caíram ao longo da História. Pela ascensão dos seus rivais, por aventuras militares desastrosas, por terríveis crises internas. Poucos países terão escolhido abdicar da sua liderança de forma tão voluntária, incompreensível e sobretudo desnecessária como os Estados Unidos.
Trump está matando a galinha dos ovos de ouro
Pelo menos desde o século 7 a.C. fabulistas alertam para o perigo de, com vistas a obter vantagens de curto prazo, destruir para sempre a rentabilidade de um recurso valioso. O mais célebre desses contos morais é a história da gansa dos ovos de ouro, de Esopo.
Em português a gansa virou galinha, mas sem alteração da mensagem central: não importa quais sejam as suas expectativas e objetivos, não mate a ave que lhe fornece regularmente um ovo de ouro por dia; se o fizer, você se arrependerá. Donald Trump, com sua egolatria e mentalidade de mercador de bazar, está eviscerando várias gansas, galinhas e até codornas que garantiam aos EUA enorme poder e riqueza. Um golpe particularmente duro é o que ele está dando contra a ciência americana.
No afã de combater o que chama de "deep state" e simular ganhos de eficiência, Trump e Elon Musk, seu escudeiro na entropia, não apenas congelaram bilhões de dólares em verbas que seriam destinadas a agências e a programas de pesquisa em universidades como também ameaçam demitir milhares de cientistas que trabalham para o governo.
Como se isso fosse pouco, a administração Trump também está criando um clima de hostilidade para com estrangeiros, que fará com que pesquisadores talentosos de várias partes do globo pensem duas vezes antes completar seu treinamento nos EUA e eventualmente radicar-se no país.
Mesmo que americanos se deem conta de que erraram ao escolher Trump e iniciem uma nova correção de rota, o prejuízo para a ciência será grande. Trata-se, afinal, de uma atividade cujos frutos muitas vezes demoram para maturar, o que exige continuidade nos fluxos de financiamento. É preciso também que os bons cientistas, cuja preparação se conta em décadas, tenham confiança em que terão empregos razoáveis no futuro. Trump e Musk estão violando as duas condições.
E isso é muito ruim para os EUA. Boa parte de seu poderio e prosperidade se devem ao amplo domínio que o país exerce há um século em ciência básica e inovação.
Hélio Schwartsman
Em português a gansa virou galinha, mas sem alteração da mensagem central: não importa quais sejam as suas expectativas e objetivos, não mate a ave que lhe fornece regularmente um ovo de ouro por dia; se o fizer, você se arrependerá. Donald Trump, com sua egolatria e mentalidade de mercador de bazar, está eviscerando várias gansas, galinhas e até codornas que garantiam aos EUA enorme poder e riqueza. Um golpe particularmente duro é o que ele está dando contra a ciência americana.
No afã de combater o que chama de "deep state" e simular ganhos de eficiência, Trump e Elon Musk, seu escudeiro na entropia, não apenas congelaram bilhões de dólares em verbas que seriam destinadas a agências e a programas de pesquisa em universidades como também ameaçam demitir milhares de cientistas que trabalham para o governo.
Como se isso fosse pouco, a administração Trump também está criando um clima de hostilidade para com estrangeiros, que fará com que pesquisadores talentosos de várias partes do globo pensem duas vezes antes completar seu treinamento nos EUA e eventualmente radicar-se no país.
Mesmo que americanos se deem conta de que erraram ao escolher Trump e iniciem uma nova correção de rota, o prejuízo para a ciência será grande. Trata-se, afinal, de uma atividade cujos frutos muitas vezes demoram para maturar, o que exige continuidade nos fluxos de financiamento. É preciso também que os bons cientistas, cuja preparação se conta em décadas, tenham confiança em que terão empregos razoáveis no futuro. Trump e Musk estão violando as duas condições.
E isso é muito ruim para os EUA. Boa parte de seu poderio e prosperidade se devem ao amplo domínio que o país exerce há um século em ciência básica e inovação.
Hélio Schwartsman
'As big techs controlam a sua mente'
Quem acompanhou a política internacional em meados dos anos 2010 deve lembrar da figura de Yanis Varoufakis, então ministro da Economia da Grécia que ganhou os holofotes em seus embates contra o pagamento da dívida de seu país à União Europeia. Hoje fora da política, o economista continua contribuindo para o debate intelectual com seus livros. O último deles, “Tecnofeudalismo — O que matou o capitalismo” (Crítica), que será lançado dia 22 de abril, analisa as mutações do capital nos tempos atuais.
Ele destaca um termo que deu o que falar nos últimos meses, com a eleição de Donald Trump e a forte influência em seu governo de bilionários da tecnologia como Elon Musk e Peter Thiel. O conceito de tecnofeudalismo é usado por teóricos para explicar o monopólio dos conglomerados digitais e sua capacidade de controlar as atividades sociais. Para os adeptos do termo (popularizado pelo pensador francês Cedrid Durand), o sistema econômico em torno de big techs está cada vez mais parecido com o que vigorou na Europa na Idade Média.
Já Varoufakis é ainda mais enfático. Para ele o capitalismo morreu — e foi substituído por algo ainda pior. Seu livro afirma que os mercados teriam dado lugar a plataformas de comércio digital que, na prática, operam como os antigos feudos. Os usuários digitais se tornariam “servos”, enquanto os detentores do capital tradicional (maquinário, redes telefônicas, robôs industriais) se limitariam ao papel de “vassalos”. E o lucro, motor do capitalismo, teria sido substituído por seu antecessor feudal: a renda.
— Nos últimos 20 mil anos, houve muitas inovações tecnológicas, mas com o capital sempre se mantendo como um meio de produção — diz Varoufakis, em entrevista por videoconferência. — Com o surgimento de big techs e dos algoritmos que “vivem” em nossos celulares, o capital agora modifica nosso comportamento. Essa mutação transformou o capitalismo em outro modo de produção socioeconômico.
O capitalismo matou o próprio capitalismo?
Não, foi o capital. Não podemos confundir capitalismo com capital, que é algo que produzimos para produzir outra coisa. Uma máquina a vapor, um robô industrial, um arado, um trator... O capital existia muito antes do capitalismo, desde as primeiras ferramentas que criamos. O capitalismo veio muito depois, há cerca de 250 anos, como uma evolução do capital.
E como esse capitalismo morreu?
Se você analisar a transição do feudalismo para o capitalismo, verá que a criação de riqueza mudou do domínio da terra para as máquinas, para o capital. A principal fonte de riqueza deixou de ser a renda da terra e passou a ser o lucro gerado pela produção industrial. Mas, agora, com as plataformas digitais das big techs, a riqueza está concentrada no cloud capital (capital-nuvem), que não é um meio de produção no sentido tradicional. É um capital conectado à cloud (nuvem) por meio de algoritmos, que não produz nada.
Por que isso pode ser comparado ao feudalismo?
A Amazon, por exemplo, vende as mercadorias de outras pessoas dentro dela, sem produzi-las. Simplesmente extrai a renda da sociedade como um todo. Então, voltamos a um sistema de arrendamento digital (cloud rent). Os mercados foram tomados por essas plataformas, e a acumulação de riqueza passou a ser baseada não no lucro, mas na renda. O lucro é o dinheiro que sobra depois que um empreendedor paga os salários dos trabalhadores, os juros dos empréstimos e o aluguel. A renda, por outro lado, é algo que você coleta sem fazer nada, apenas por possuir algo. Se você remove o lucro e os mercados, você não pode ter capitalismo.
Então hoje é possível acumular riqueza sem gerar lucro no sentido tradicional?
Eu diria mais: a única forma de acumular grande riqueza hoje é sem lucro. Se removermos as sete maiores empresas de cloud capital da Bolsa de Nova York, como Google, Meta, Amazon, Apple e outras, o que sobra? Nada. A Bolsa colapsaria completamente.
Porque são feudos digitais. Um mercado tem que ser descentralizado. Se você vai a uma feira de agricultores ou a um shopping, você e eu podemos andar por lá e ver a mesma coisa. O que eu vejo é o que você vê. Isso não acontece nas plataformas digitais. Se você e eu entrarmos na Amazon e pesquisarmos “bicicletas elétricas”, você verá resultados diferentes dos meus. O algoritmo decide o que mostrar para cada um de nós.
Nessas plataformas, é impossível negociar...
Você não pode escolher nem com qual loja interagir. É um espaço em que os consumidores não podem conversar uns com os outros.
Pode dar um exemplo de como as plataformas controlam nosso comportamento?
Elas não controlam apenas o seu comportamento, mas a sua mente. Pegue a Tesla (empresa de carros elétricos de Elon Musk). Ela vale mais do que Toyota, Mercedes, BMW, Volkswagen e Stellantis juntas. Mas quase não produz carros em comparação com essas empresas. A Tesla tem algo que as outras fabricantes não têm.
O quê?
Elon Musk pode desligar o seu carro com um clique. Se você tem um Tesla, ele pode apertar um botão e o seu carro para de funcionar. Além disso, a Tesla tem ganhado cada vez mais dinheiro não com peças e carros, mas com os dados que coleta enquanto você dirige. Ela sabe que música você escuta, quando visita sua mãe e muito mais. Isso não é capitalismo.
Qual a sua relação pessoal com essas plataformas?
Quando a Amazon me recomenda um livro, eu sempre quero lê-lo. Quando o Spotify me sugere uma música, eu geralmente gosto. Por quê? Porque eu treino esses algoritmos todos os dias. Eles me conhecem melhor que meus amigos. Hoje somos dependentes dessa tecnologia, mas não acho que devemos abrir mão dela. Devemos, em contrapartida, democratizar o controle sobre as plataformas, transformando-as em bens públicos geridos coletivamente.
Ele destaca um termo que deu o que falar nos últimos meses, com a eleição de Donald Trump e a forte influência em seu governo de bilionários da tecnologia como Elon Musk e Peter Thiel. O conceito de tecnofeudalismo é usado por teóricos para explicar o monopólio dos conglomerados digitais e sua capacidade de controlar as atividades sociais. Para os adeptos do termo (popularizado pelo pensador francês Cedrid Durand), o sistema econômico em torno de big techs está cada vez mais parecido com o que vigorou na Europa na Idade Média.
Já Varoufakis é ainda mais enfático. Para ele o capitalismo morreu — e foi substituído por algo ainda pior. Seu livro afirma que os mercados teriam dado lugar a plataformas de comércio digital que, na prática, operam como os antigos feudos. Os usuários digitais se tornariam “servos”, enquanto os detentores do capital tradicional (maquinário, redes telefônicas, robôs industriais) se limitariam ao papel de “vassalos”. E o lucro, motor do capitalismo, teria sido substituído por seu antecessor feudal: a renda.
— Nos últimos 20 mil anos, houve muitas inovações tecnológicas, mas com o capital sempre se mantendo como um meio de produção — diz Varoufakis, em entrevista por videoconferência. — Com o surgimento de big techs e dos algoritmos que “vivem” em nossos celulares, o capital agora modifica nosso comportamento. Essa mutação transformou o capitalismo em outro modo de produção socioeconômico.
O capitalismo matou o próprio capitalismo?
Não, foi o capital. Não podemos confundir capitalismo com capital, que é algo que produzimos para produzir outra coisa. Uma máquina a vapor, um robô industrial, um arado, um trator... O capital existia muito antes do capitalismo, desde as primeiras ferramentas que criamos. O capitalismo veio muito depois, há cerca de 250 anos, como uma evolução do capital.
E como esse capitalismo morreu?
Se você analisar a transição do feudalismo para o capitalismo, verá que a criação de riqueza mudou do domínio da terra para as máquinas, para o capital. A principal fonte de riqueza deixou de ser a renda da terra e passou a ser o lucro gerado pela produção industrial. Mas, agora, com as plataformas digitais das big techs, a riqueza está concentrada no cloud capital (capital-nuvem), que não é um meio de produção no sentido tradicional. É um capital conectado à cloud (nuvem) por meio de algoritmos, que não produz nada.
Por que isso pode ser comparado ao feudalismo?
A Amazon, por exemplo, vende as mercadorias de outras pessoas dentro dela, sem produzi-las. Simplesmente extrai a renda da sociedade como um todo. Então, voltamos a um sistema de arrendamento digital (cloud rent). Os mercados foram tomados por essas plataformas, e a acumulação de riqueza passou a ser baseada não no lucro, mas na renda. O lucro é o dinheiro que sobra depois que um empreendedor paga os salários dos trabalhadores, os juros dos empréstimos e o aluguel. A renda, por outro lado, é algo que você coleta sem fazer nada, apenas por possuir algo. Se você remove o lucro e os mercados, você não pode ter capitalismo.
Então hoje é possível acumular riqueza sem gerar lucro no sentido tradicional?
Eu diria mais: a única forma de acumular grande riqueza hoje é sem lucro. Se removermos as sete maiores empresas de cloud capital da Bolsa de Nova York, como Google, Meta, Amazon, Apple e outras, o que sobra? Nada. A Bolsa colapsaria completamente.
Porque são feudos digitais. Um mercado tem que ser descentralizado. Se você vai a uma feira de agricultores ou a um shopping, você e eu podemos andar por lá e ver a mesma coisa. O que eu vejo é o que você vê. Isso não acontece nas plataformas digitais. Se você e eu entrarmos na Amazon e pesquisarmos “bicicletas elétricas”, você verá resultados diferentes dos meus. O algoritmo decide o que mostrar para cada um de nós.
Nessas plataformas, é impossível negociar...
Você não pode escolher nem com qual loja interagir. É um espaço em que os consumidores não podem conversar uns com os outros.
Pode dar um exemplo de como as plataformas controlam nosso comportamento?
Elas não controlam apenas o seu comportamento, mas a sua mente. Pegue a Tesla (empresa de carros elétricos de Elon Musk). Ela vale mais do que Toyota, Mercedes, BMW, Volkswagen e Stellantis juntas. Mas quase não produz carros em comparação com essas empresas. A Tesla tem algo que as outras fabricantes não têm.
O quê?
Elon Musk pode desligar o seu carro com um clique. Se você tem um Tesla, ele pode apertar um botão e o seu carro para de funcionar. Além disso, a Tesla tem ganhado cada vez mais dinheiro não com peças e carros, mas com os dados que coleta enquanto você dirige. Ela sabe que música você escuta, quando visita sua mãe e muito mais. Isso não é capitalismo.
Qual a sua relação pessoal com essas plataformas?
Quando a Amazon me recomenda um livro, eu sempre quero lê-lo. Quando o Spotify me sugere uma música, eu geralmente gosto. Por quê? Porque eu treino esses algoritmos todos os dias. Eles me conhecem melhor que meus amigos. Hoje somos dependentes dessa tecnologia, mas não acho que devemos abrir mão dela. Devemos, em contrapartida, democratizar o controle sobre as plataformas, transformando-as em bens públicos geridos coletivamente.
Nosso país é real ou surreal?
Um avião que pousa de ponta-cabeça; um calor desmesurado nos nossos trópicos, que, além de tristes, como disse Lévi-Strauss, tornaram-se infernais diante de uma fervura de fim de mundo. Tempestades onde não chovia, seca no pântano, o extraordinário da neve e rios imensos secando. Começamos a duvidar do nosso seguro e permanente real...
É real essa inversão da rotina durante o batido surrealismo de um carnaval que perdeu sua força ritualística, porque hoje podemos transitar e transar com toda gente, de todo modo, em todo lugar e todo dia porque o proibido tornou-se permitido e — melhor e mais fascistoide — obrigatório?
É real ou surreal testemunhar o presidente de um país pioneiro na luta e institucionalização da igualdade, verdade, honestidade e liberdade realizando uma primitiva e errática inundação agressiva de decretos que ameaçam uma ordem global assentada em valores firmados precisamente pelo seu país, num avesso do bom senso?
É concreto ou abstrato ver um Brasil que não consegue entender o que é ser progressista, conservador e reacionário? Os “de esquerda” insistem em seus credos originais e enxergam seus críticos como “reacionários”, esquecendo que o partido a que pertencem preserva, intactos, ideais ultrapassados. Esquecem que o populismo elitista e o apadrinhamento relacional foram desmontados pela avassaladora rede de comunicação mantida pela era digital.
Parece surreal que o sistema ideológico oficial brasileiro ainda não tenha entendido que conservar é tão importante quanto transformar. É a dialética entre mudar e permanecer que engendra civilização e história.
É coisa de cinema, ou dura realidade, eleger-se para “cuidar”, mas morar em palácio como um barão?
Não é surreal viver numa terra com um presidente preocupado com a crise climática e com a emissão de gases de efeito estufa no discurso, mas que explorará petróleo na costa amazônica para produzir a matéria-prima desse veneno por meio de um empresa estatal monopolística e contrária a seu próprio espírito empresarial?
Não é absurdo viver numa nação onde tribunais superiores ainda não apreenderam que legislar nepotismo, parentesco, amizade e reciprocidade é como dar nó em pingo d’água? As relações forjam costumes imunes e acima das leis. O modo mais razoável de controlá-las — civiliza-te — seria por meio de ética, exemplo e respeito implacável à lei. Coisa difícil nesta anistilândia onde um juiz viciado em monocratismo anula delações premiadas, dissolve por canetada toneladas de falcatruas bilionárias e invalida a história. Legislar costumes estabelecidos imaginando que decretos mudam hábitos culturais é arriscar-se a ver esses costumes reforçados ao arrepio da lei no que se chama de jeitinho, apadrinhamento e malandragem. O resultado desse confronto burro entre lei e costumes é a desmoralização da lei. Um deboche numa área essencial para a igualdade perante a lei. Esse valor fundador da democracia. Sem criticar costumes e ajustá-los às leis ou, ao contrário, realizar o ajuste da lei aos hábitos vigentes, surge esse clima de cinismo a que, infelizmente, estamos acostumados.
Seria exagero dizer que vivemos num filme de Luis Buñuel que não termina? E temos plena consciência de que os representantes do povo renegam seus eleitores porque representam muito mais suas famílias — chamadas de “bases” — para as quais fazem transferências de grana sem destino claro?
É real ou surreal fazer parte de uma nação com um sistema eleitoral que aristocratiza e enrica seus eleitos? Um sistema cuja burocracia se funda numa interminável sanha legislativa? Um excesso de regras que promovem e justificam o engano, o desperdício, a ineficiência e a descrença na democracia?
Não é surreal testemunhar o ex-presidente acusado de golpe de Estado exclamando que está “cagando” para as acusações e uma eventual prisão e banimento da esfera pública, quando deveria estar revoltado por sua presumível inocência estar ameaçada?
Roberto Damatta
P.S.: Lula precisa compreender que sua imagem não é mais a daquele que Brizola chamava de “sapo barbudo”. Hoje, ele é um elegante membro da orgulhosa, milionária e caipira elite paulista.
É real essa inversão da rotina durante o batido surrealismo de um carnaval que perdeu sua força ritualística, porque hoje podemos transitar e transar com toda gente, de todo modo, em todo lugar e todo dia porque o proibido tornou-se permitido e — melhor e mais fascistoide — obrigatório?
É real ou surreal testemunhar o presidente de um país pioneiro na luta e institucionalização da igualdade, verdade, honestidade e liberdade realizando uma primitiva e errática inundação agressiva de decretos que ameaçam uma ordem global assentada em valores firmados precisamente pelo seu país, num avesso do bom senso?
É concreto ou abstrato ver um Brasil que não consegue entender o que é ser progressista, conservador e reacionário? Os “de esquerda” insistem em seus credos originais e enxergam seus críticos como “reacionários”, esquecendo que o partido a que pertencem preserva, intactos, ideais ultrapassados. Esquecem que o populismo elitista e o apadrinhamento relacional foram desmontados pela avassaladora rede de comunicação mantida pela era digital.
Parece surreal que o sistema ideológico oficial brasileiro ainda não tenha entendido que conservar é tão importante quanto transformar. É a dialética entre mudar e permanecer que engendra civilização e história.
É coisa de cinema, ou dura realidade, eleger-se para “cuidar”, mas morar em palácio como um barão?
Não é surreal viver numa terra com um presidente preocupado com a crise climática e com a emissão de gases de efeito estufa no discurso, mas que explorará petróleo na costa amazônica para produzir a matéria-prima desse veneno por meio de um empresa estatal monopolística e contrária a seu próprio espírito empresarial?
Não é absurdo viver numa nação onde tribunais superiores ainda não apreenderam que legislar nepotismo, parentesco, amizade e reciprocidade é como dar nó em pingo d’água? As relações forjam costumes imunes e acima das leis. O modo mais razoável de controlá-las — civiliza-te — seria por meio de ética, exemplo e respeito implacável à lei. Coisa difícil nesta anistilândia onde um juiz viciado em monocratismo anula delações premiadas, dissolve por canetada toneladas de falcatruas bilionárias e invalida a história. Legislar costumes estabelecidos imaginando que decretos mudam hábitos culturais é arriscar-se a ver esses costumes reforçados ao arrepio da lei no que se chama de jeitinho, apadrinhamento e malandragem. O resultado desse confronto burro entre lei e costumes é a desmoralização da lei. Um deboche numa área essencial para a igualdade perante a lei. Esse valor fundador da democracia. Sem criticar costumes e ajustá-los às leis ou, ao contrário, realizar o ajuste da lei aos hábitos vigentes, surge esse clima de cinismo a que, infelizmente, estamos acostumados.
Seria exagero dizer que vivemos num filme de Luis Buñuel que não termina? E temos plena consciência de que os representantes do povo renegam seus eleitores porque representam muito mais suas famílias — chamadas de “bases” — para as quais fazem transferências de grana sem destino claro?
É real ou surreal fazer parte de uma nação com um sistema eleitoral que aristocratiza e enrica seus eleitos? Um sistema cuja burocracia se funda numa interminável sanha legislativa? Um excesso de regras que promovem e justificam o engano, o desperdício, a ineficiência e a descrença na democracia?
Não é surreal testemunhar o ex-presidente acusado de golpe de Estado exclamando que está “cagando” para as acusações e uma eventual prisão e banimento da esfera pública, quando deveria estar revoltado por sua presumível inocência estar ameaçada?
Roberto Damatta
P.S.: Lula precisa compreender que sua imagem não é mais a daquele que Brizola chamava de “sapo barbudo”. Hoje, ele é um elegante membro da orgulhosa, milionária e caipira elite paulista.
Nova realidade, velhas práticas
Não é preciso ser sábio para mudar hábitos quando a realidade se transforma. Manter práticas velhas num mundo novo é sinal de ser pouco sapiens. É o que nós humanos estamos fazendo.
Estamos vivendo ondas de calor inéditas (e de frio, noutros paralelos), em razão todos sabemos de quê. É difícil mudar alguns hábitos como usar automóvel ou viajar de avião, não só por estarmos acostumados e pela propaganda que nos incentiva a mantê-los, mas também porque a infraestrutura e as relações econômicas e sociais existentes, construídas a partir e em razão deles, nos induzem a mantê-los. Outras práticas são mais fáceis de serem alteradas, mas seguem vigentes. Por que a inércia?
Aqui no Brasil, em algumas regiões já é raro usar ternos, exceto em poucas profissões e ocasiões. No restante do país essa vestimenta, importada dos colonizadores, inadequada ao clima, ainda se mantém em vários ambientes, muitos não climatizados. Se trocar o automóvel particular pelo transporte coletivo ou bicicleta é difícil, desistir dos ternos é relativamente fácil. Já seria um pequeno passo, pequeníssimo, rumo a novos hábitos, necessários nesta era de aquecimento planetário.
A classe dos alfaiates já não é mais poderosa, embora a indústria têxtil ainda o seja. Mas, será esta ainda forte o bastante para impedir o abandono dessa indumentária colonial e a cada dia mais obsoleta? No Japão, em dias de alto calor, a obrigatoriedade do seu uso cai automaticamente. Em vários países europeus, quando a temperatura sobe além de certo ponto, encerram-se muitos serviços, numa adaptação momentânea à canícula. E aqui no Brasil, país tropical em rápido aquecimento, nada? O que faz a classe política, além de embolsar parte das emendas obrigatórias e discutir nomes – nunca propostas! – para as próximas eleições?
A necessidade de adotar novos hábitos é evidente e urgente. Claro, necessitamos de mudanças muito mais amplas que abandonar o uso do terno, ainda exigido em vários órgãos públicos. Não aparece um(a) único(a) político(a) capaz de dizer o que muitos anseiam, defender o fim dessa prática e dar início a muitas mudanças de hábitos necessárias para o mundo novo que habitamos?
Se não nos é possível alterar hábito tão pequeno, como conseguiremos substituir aqueles mais impregnados na infraestrutura e que possuem atores poderosos que se beneficiam ao mantê-los?
Estudo recente mostra que dois terços da superfície do planeta apresentaram, nos últimos anos, temperaturas mais elevadas que a média pré-industrial. Algumas áreas, mais quentes em até cinco graus centígrados! 2024 foi o ano mais quente da história e foram quebrados recordes para a temperatura média mensal.
Esta é a nova realidade, e vai piorar, pois muitos ainda se iludem com a prometida e jamais alcançada – exceto para uns poucos! – riqueza do petróleo!
Vale indagar: é fato que alguns se iludem, ou na realidade buscam se beneficiar, apesar do mal que seus lucros causam à humanidade?
Estamos vivendo ondas de calor inéditas (e de frio, noutros paralelos), em razão todos sabemos de quê. É difícil mudar alguns hábitos como usar automóvel ou viajar de avião, não só por estarmos acostumados e pela propaganda que nos incentiva a mantê-los, mas também porque a infraestrutura e as relações econômicas e sociais existentes, construídas a partir e em razão deles, nos induzem a mantê-los. Outras práticas são mais fáceis de serem alteradas, mas seguem vigentes. Por que a inércia?
Aqui no Brasil, em algumas regiões já é raro usar ternos, exceto em poucas profissões e ocasiões. No restante do país essa vestimenta, importada dos colonizadores, inadequada ao clima, ainda se mantém em vários ambientes, muitos não climatizados. Se trocar o automóvel particular pelo transporte coletivo ou bicicleta é difícil, desistir dos ternos é relativamente fácil. Já seria um pequeno passo, pequeníssimo, rumo a novos hábitos, necessários nesta era de aquecimento planetário.
A classe dos alfaiates já não é mais poderosa, embora a indústria têxtil ainda o seja. Mas, será esta ainda forte o bastante para impedir o abandono dessa indumentária colonial e a cada dia mais obsoleta? No Japão, em dias de alto calor, a obrigatoriedade do seu uso cai automaticamente. Em vários países europeus, quando a temperatura sobe além de certo ponto, encerram-se muitos serviços, numa adaptação momentânea à canícula. E aqui no Brasil, país tropical em rápido aquecimento, nada? O que faz a classe política, além de embolsar parte das emendas obrigatórias e discutir nomes – nunca propostas! – para as próximas eleições?
A necessidade de adotar novos hábitos é evidente e urgente. Claro, necessitamos de mudanças muito mais amplas que abandonar o uso do terno, ainda exigido em vários órgãos públicos. Não aparece um(a) único(a) político(a) capaz de dizer o que muitos anseiam, defender o fim dessa prática e dar início a muitas mudanças de hábitos necessárias para o mundo novo que habitamos?
Se não nos é possível alterar hábito tão pequeno, como conseguiremos substituir aqueles mais impregnados na infraestrutura e que possuem atores poderosos que se beneficiam ao mantê-los?
Estudo recente mostra que dois terços da superfície do planeta apresentaram, nos últimos anos, temperaturas mais elevadas que a média pré-industrial. Algumas áreas, mais quentes em até cinco graus centígrados! 2024 foi o ano mais quente da história e foram quebrados recordes para a temperatura média mensal.
Esta é a nova realidade, e vai piorar, pois muitos ainda se iludem com a prometida e jamais alcançada – exceto para uns poucos! – riqueza do petróleo!
Vale indagar: é fato que alguns se iludem, ou na realidade buscam se beneficiar, apesar do mal que seus lucros causam à humanidade?
segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025
O sentimento que não prescreve
Há sinais de reação popular à tentativa de supostos novos donos do poder de pautar anistia aos golpistas do 8 de Janeiro. Anistia, do latim "amnestia", mesma etimologia de amnésia, implica perdão e esquecimento. A capricho dos algoritmos, o digitalismo esquece, mas a vida histórica pode não ser tão leviana. Indicação é como o ex-presidente foi recebido no estádio Mané Garrincha em Brasília. Bateu em retirada às pressas sob os gritos da multidão de "uh, vai ser preso!".
"Ainda estamos aqui", uma apropriação do filme aclamado, virou lema de recordação proativa dos traumas cívicos infligidos à sociedade. Não apenas lembrar, também manifestar um espírito ainda vivo e resistente, como um invisível do sentimento de existência, que é o modo geral de apreensão da experiência de vida.
Pesquisadores da forma veem na palavra sentimento não algo redutível à emoção nem à representação coletiva, mas um modo de sensibilidade que induz a um conhecimento afetivo de questões globais. Um modo que se reconhece pela diferenciação entre campos distintos da experiência social. Assim, o sentimento dominante no período do regime militar era de que se viviam "anos de chumbo".
Hoje, o que se expressa na memória coletiva funda-se nas evidências tenebrosas de relatos de vítimas, Comissão da Verdade, livros e filmes. Mesmo que as novas gerações não tenham vivenciado o terror, transparece nessas evidências o sentimento de como uma ditadura atinge a dignidade das instituições e o caráter das pessoas.
Inclusive depois do fato. É notório o episódio do deputado que dedicou seu voto na Câmara ao único torturador condenado pela Justiça. Baixíssimo clero, certo, mas prova da persistência do espectro de inferioridade humana legado pela ditadura. A continuidade de uma influência dessas na vida brasileira é um enigma moral.
Sentimento de existência é aquilo que permite vivenciar o interior das coisas, um espaço aberto de compreensão da história. Isso que a poesia filosófica chama de "um puro espaço diante de nós" (Rilke, "Oitava Elegia do Duíno"): além do geométrico, um espaço existencial, de recíproca transitividade entre o subjetivo e o objetivo. É outra forma de relação com o mundo, em que afeto se sobrepõe aos fatos da história. Às vezes, para o mal: o sentimento que fazia tremular a bandeira nazista ao lado da brasileira na sede do governo de Santa Catarina em 1934, ou que ali formou o maior partido nazista fora da Alemanha, foi, coisa triste, mais persistente do que efeitos de mudanças institucionais.
Nesse quadro perceptivo vem de novo a público a palavra anistia. Em 1979, varreu para baixo do tapete as atrocidades da ditadura, reforçada pelo crime de impedimento à verdade. Agora, seus descendentes tentam camuflar o que a nação inteira testemunhou pela TV, destruição e golpe escancarados. Nunca delinquentes produziram tantas provas contra si próprios, talvez embalados pela torta convicção de que amnésia seja sequência natural de crime, e punição um "constrangimento". Até o presidente do Senado objeta: "não é assunto para brasileiros". É que, no espaço aberto pelo sentimento de existência, o espírito nacional adverte que povo e memória ainda estão aqui.
"Ainda estamos aqui", uma apropriação do filme aclamado, virou lema de recordação proativa dos traumas cívicos infligidos à sociedade. Não apenas lembrar, também manifestar um espírito ainda vivo e resistente, como um invisível do sentimento de existência, que é o modo geral de apreensão da experiência de vida.
Pesquisadores da forma veem na palavra sentimento não algo redutível à emoção nem à representação coletiva, mas um modo de sensibilidade que induz a um conhecimento afetivo de questões globais. Um modo que se reconhece pela diferenciação entre campos distintos da experiência social. Assim, o sentimento dominante no período do regime militar era de que se viviam "anos de chumbo".
Hoje, o que se expressa na memória coletiva funda-se nas evidências tenebrosas de relatos de vítimas, Comissão da Verdade, livros e filmes. Mesmo que as novas gerações não tenham vivenciado o terror, transparece nessas evidências o sentimento de como uma ditadura atinge a dignidade das instituições e o caráter das pessoas.
Inclusive depois do fato. É notório o episódio do deputado que dedicou seu voto na Câmara ao único torturador condenado pela Justiça. Baixíssimo clero, certo, mas prova da persistência do espectro de inferioridade humana legado pela ditadura. A continuidade de uma influência dessas na vida brasileira é um enigma moral.
Sentimento de existência é aquilo que permite vivenciar o interior das coisas, um espaço aberto de compreensão da história. Isso que a poesia filosófica chama de "um puro espaço diante de nós" (Rilke, "Oitava Elegia do Duíno"): além do geométrico, um espaço existencial, de recíproca transitividade entre o subjetivo e o objetivo. É outra forma de relação com o mundo, em que afeto se sobrepõe aos fatos da história. Às vezes, para o mal: o sentimento que fazia tremular a bandeira nazista ao lado da brasileira na sede do governo de Santa Catarina em 1934, ou que ali formou o maior partido nazista fora da Alemanha, foi, coisa triste, mais persistente do que efeitos de mudanças institucionais.
Nesse quadro perceptivo vem de novo a público a palavra anistia. Em 1979, varreu para baixo do tapete as atrocidades da ditadura, reforçada pelo crime de impedimento à verdade. Agora, seus descendentes tentam camuflar o que a nação inteira testemunhou pela TV, destruição e golpe escancarados. Nunca delinquentes produziram tantas provas contra si próprios, talvez embalados pela torta convicção de que amnésia seja sequência natural de crime, e punição um "constrangimento". Até o presidente do Senado objeta: "não é assunto para brasileiros". É que, no espaço aberto pelo sentimento de existência, o espírito nacional adverte que povo e memória ainda estão aqui.
Colonialismo mercantilista e ideologia iliberal guiam movimentos de Trump
Os movimentos de Donald Trump não podem ser entendidos da óptica convencional da geopolítica. As motivações comuns são o colonialismo mercantilista, a ideologia iliberal e nativista.
Trump tentou impor a Volodmir Zelenski pagamento de US$ 500 bilhões e 50% de todas as receitas provenientes de minerais raros, gás, petróleo, portos e o resto da infraestrutura da Ucrânia.
No Tratado de Versalhes, em 1919, os aliados impuseram à Alemanha reparação de guerra equivalente a 200% do PIB alemão. Os US$ 500 bilhões representam 264% do PIB ucraniano. A Alemanha foi a agressora na 1.ª Guerra. A Ucrânia é vítima da agressão russa.
A ajuda americana à Ucrânia somou US$ 175 bilhões, dos quais US$ 75 bilhões, destinados à compra de armas americanas. Como fica claro no confisco de 50% por tempo ilimitado, não é reembolso, mas exploração colonial de um país fragilizado.
Ao dividira Ucrânia entre EUA e Rússia, Trump repete o pacto secreto de 1939 entre Adolf Hitler e Josef Stalin, que dividiu a Polônia. Dois anos depois, Hitler ocupou o restante da Polônia e invadiu a URSS. Trump assume postura colonialista também ante o Canadá, Groenlândia, Panamá e Gaza.
As sanções de Trump remetem à era mercantilista, quando exportar era proveitoso e importar, danoso. Isso é incompatível coma economia globalizada. Os produtos industriais dos EUA e dos outros países se aproveitam das importações de partes e componentes da cadeia de valor.
Depois de eliminar taxa de US$ 9 sobre veículos na região central de Nova York, Trump publicou em sua rede Truth Social: “Longa vida ao rei”. A Casa Branca reproduziu a postagem no Twitter e Instagram, com imagem do presidente usando coroa de rei. Ele cultiva uma autoimagem imperial.
A identificação de Trump com líderes autoritários também explica seus movimentos. Ele tem elogiado Xi Jinping e Vladimir Putin, buscando se aproximar de ambos, como fez em seu primeiro governo.
O vice, J.D. Vance, discursou em Munique que a ameaça não são a China e a Rússia, mas o liberalismo europeu. Trump se recusa a defendera Europa, mas promete manter 10 mil soldados americanos na Polônia, cujo presidente, Andrzej Duda, é um nacionalista conservador.
Depois da 2.ª Guerra, os EUA firmaram alianças com Europa, Japão e Coreia do Sul para não ter de enfrentar os inimigos em território americano.
Ao abandonar aliados e se unira adversários, Trump anula a confiabilidade dos EUA, trai seus interesses e a causa da liberdade.
Trump tentou impor a Volodmir Zelenski pagamento de US$ 500 bilhões e 50% de todas as receitas provenientes de minerais raros, gás, petróleo, portos e o resto da infraestrutura da Ucrânia.
No Tratado de Versalhes, em 1919, os aliados impuseram à Alemanha reparação de guerra equivalente a 200% do PIB alemão. Os US$ 500 bilhões representam 264% do PIB ucraniano. A Alemanha foi a agressora na 1.ª Guerra. A Ucrânia é vítima da agressão russa.
A ajuda americana à Ucrânia somou US$ 175 bilhões, dos quais US$ 75 bilhões, destinados à compra de armas americanas. Como fica claro no confisco de 50% por tempo ilimitado, não é reembolso, mas exploração colonial de um país fragilizado.
Ao dividira Ucrânia entre EUA e Rússia, Trump repete o pacto secreto de 1939 entre Adolf Hitler e Josef Stalin, que dividiu a Polônia. Dois anos depois, Hitler ocupou o restante da Polônia e invadiu a URSS. Trump assume postura colonialista também ante o Canadá, Groenlândia, Panamá e Gaza.
As sanções de Trump remetem à era mercantilista, quando exportar era proveitoso e importar, danoso. Isso é incompatível coma economia globalizada. Os produtos industriais dos EUA e dos outros países se aproveitam das importações de partes e componentes da cadeia de valor.
Depois de eliminar taxa de US$ 9 sobre veículos na região central de Nova York, Trump publicou em sua rede Truth Social: “Longa vida ao rei”. A Casa Branca reproduziu a postagem no Twitter e Instagram, com imagem do presidente usando coroa de rei. Ele cultiva uma autoimagem imperial.
A identificação de Trump com líderes autoritários também explica seus movimentos. Ele tem elogiado Xi Jinping e Vladimir Putin, buscando se aproximar de ambos, como fez em seu primeiro governo.
O vice, J.D. Vance, discursou em Munique que a ameaça não são a China e a Rússia, mas o liberalismo europeu. Trump se recusa a defendera Europa, mas promete manter 10 mil soldados americanos na Polônia, cujo presidente, Andrzej Duda, é um nacionalista conservador.
Depois da 2.ª Guerra, os EUA firmaram alianças com Europa, Japão e Coreia do Sul para não ter de enfrentar os inimigos em território americano.
Ao abandonar aliados e se unira adversários, Trump anula a confiabilidade dos EUA, trai seus interesses e a causa da liberdade.
Como volta de Trump pode levar democracia dos EUA ao colapso
A primeira eleição de Donald Trump à Presidência em 2016 desencadeou uma defesa enérgica da democracia por parte do establishment americano, mas seu retorno ao cargo foi recebido com uma indiferença marcante.
Muitos políticos, comentaristas, figuras da mídia e líderes empresariais que viam Trump como uma ameaça agora tratam essas preocupações como exageradas —afinal, a democracia sobreviveu ao seu primeiro mandato. Em 2025, preocupar-se com o destino da democracia americana tornou-se quase banal.
O momento dessa mudança de humor não poderia ser pior, pois a democracia está em maior perigo hoje do que em qualquer outro momento da história moderna dos EUA. A América tem regredido por uma década: entre 2014 e 2021, o índice anual de liberdade global da Freedom House, que avalia todos os países em uma escala de 0 a 100, rebaixou os Estados Unidos de 92 (empatado com a França) para 83 (abaixo da Argentina e empatado com o Panamá e a Romênia), onde permanece.
Os aclamados controles constitucionais do país estão falhando. Trump violou a regra cardinal da democracia quando tentou reverter os resultados de uma eleição e bloquear uma transferência pacífica de poder.
No entanto, nem o Congresso nem o Judiciário o responsabilizaram, e o Partido Republicano, tentativa de golpe à parte, escolheu-o novamente para disputar a eleição.
Trump conduziu uma campanha abertamente autoritária em 2024, prometendo processar seus rivais, punir a mídia crítica e mobilizar o Exército para reprimir protestos. Ele venceu, e graças a uma decisão extraordinária da Suprema Corte, desfrutará de ampla imunidade presidencial em seu segundo mandato.
A democracia sobreviveu ao primeiro mandato de Trump porque ele não tinha experiência, plano ou equipe. Ele não controlava o Partido Republicano quando assumiu o cargo em 2017, e a maioria dos líderes partidários ainda estava comprometida com as regras democráticas do jogo.
Trump governou com republicanos do establishment e tecnocratas, e eles em grande parte o contiveram. Nada disso é mais verdade. Desta vez, Trump deixou claro que pretende governar com "pessoas leais". Ele agora domina o Partido Republicano, que, purgado de suas forças anti-Trump, consente com seu comportamento autoritário.
A democracia dos EUA provavelmente entrará em colapso durante o segundo governo Trump, no sentido de que deixará de atender aos critérios padrões para uma democracia liberal: sufrágio adulto pleno, eleições livres e justas e ampla proteção das liberdades civis.
O colapso da democracia nos Estados Unidos não dará origem a uma ditadura clássica em que as eleições são uma farsa e a oposição é presa, exilada ou morta. Mesmo no pior cenário, Trump não será capaz de reescrever a Constituição ou derrubar a ordem constitucional.
Ele será contido por juízes independentes, pelo federalismo, pelas Forças Armadas e por altas barreiras à reforma constitucional. Haverá eleições em 2028, e os republicanos poderão perdê-las.
O autoritarismo não requer a destruição da ordem constitucional. O que está por vir não é fascismo ou ditadura de partido único, mas autoritarismo competitivo —um sistema em que os partidos competem nas eleições, mas o abuso de poder do incumbente inclina o campo de jogo contra a oposição.
A maioria das autocracias que surgiram desde o fim da Guerra Fria se enquadra nessa categoria, incluindo o Peru de Alberto Fujimori, a Venezuela de Hugo Chávez e os contemporâneos El Salvador, Hungria, Índia, Tunísia e Turquia. Sob o autoritarismo competitivo, a arquitetura formal da democracia, incluindo eleições multipartidárias, permanece intacta.
As forças de oposição são legais e atuam abertamente, disputam seriamente o poder. As eleições são muitas vezes batalhas ferozmente. E, de vez em quando, os incumbentes perdem, como aconteceu na Malásia em 2018 e na Polônia em 2023.
No entanto, o sistema não é democrático, porque os governantes manipulam o jogo ao usar a máquina do Estado para atacar os oponentes e cooptar críticos. A competição é real, mas injusta.
O autoritarismo competitivo transformará a vida política nos Estados Unidos. Como a enxurrada inicial de ordens executivas de constitucionalidade duvidosa de Trump deixou claro, o custo da oposição pública aumentará consideravelmente: doadores do Partido Democrata podem ser alvos do IRS (Receita Federal dos Estados Unidos), empresas que financiam grupos de direitos civis podem sofrer maior escrutínio fiscal e legal ou ver seus empreendimentos impedidos por reguladores. Veículos de mídia crítica provavelmente enfrentarão processos por difamação ou outras ações legais, bem como políticas retaliatórias contra suas empresas-mãe.
Os americanos ainda poderão se opor ao governo, mas a oposição será mais difícil e arriscada, levando muitos cidadãos a decidirem que a luta não vale a pena. Abandonar a resistência, no entanto, poderia abrir caminho para o enraizamento autoritário, com graves e duradouras consequências para a democracia global.
O Estado como arma
O segundo governo Trump pode violar liberdades civis básicas de maneiras que subvertam inequivocamente a democracia. O presidente, por exemplo, poderia ordenar que o Exército atirasse em manifestantes, como ele supostamente quis fazer durante seu primeiro mandato.
Ele também poderia cumprir sua promessa de campanha de lançar a "maior operação de deportação da história americana", lançando milhões de pessoas em um processo repleto de abusos que inevitavelmente levaria à detenção equivocada de cidadãos americanos.
Todavia, grande parte do autoritarismo que está por vir assumirá uma forma menos visível: a politização e a instrumentalização da burocracia governamental. Estados modernos são entidades poderosas. O governo federal dos EUA emprega mais de 2 milhões de pessoas e tem um orçamento anual de quase US$ 7 trilhões.
Funcionários do governo servem como árbitros importantes da vida política, econômica e social. Eles ajudam a determinar quem é processado por crimes, quando e como regras e regulamentos são aplicados, quais organizações recebem status de isenção fiscal, quais agências privadas obtêm contratos para credenciar universidades e quais empresas obtêm concessões, contratos, subsídios, isenções tarifárias e resgates.
Mesmo em países como os Estados Unidos, com governos relativamente pequenos e livre mercado, essa autoridade cria incontáveis oportunidades para líderes recompensarem aliados e punirem oponentes.
Nenhuma democracia está totalmente livre de tal politização. Todavia, quando os governos transformam o Estado em arma contra seus adversários, usando seu poder para sistematicamente enfraquecer a oposição, eles minam a ordem liberal. A política torna-se uma partida de futebol em que os árbitros e os zeladores do campo trabalham para um time para sabotar seu rival.
É por isso que todas as democracias estabelecidas têm conjuntos elaborados de leis, regras e normas para prevenir a instrumentalização do Estado. Isso inclui judiciários independentes, bancos centrais e autoridades eleitorais e serviços públicos com proteções de emprego. Nos Estados Unidos, o Ato Pendleton de 1883 criou um serviço público profissionalizado em que a contratação é baseada no mérito.
Funcionários federais são proibidos de participar de campanhas eleitorais e não podem ser demitidos ou rebaixados por razões políticas. A grande maioria dos mais de 2 milhões de funcionários federais há muito tempo desfruta de proteção do serviço público. No início do segundo mandato de Trump, apenas cerca de 4.000 deles eram nomeados políticos.
Os Estados Unidos também desenvolveram um extenso conjunto de regras e normas para prevenir a politização de instituições estatais. Isso inclui a confirmação pelo Senado de nomeados presidenciais, mandato vitalício para juízes da Suprema Corte, segurança de mandato para o presidente do Federal Reserve (o Banco Central do país), mandatos de dez anos para diretores do FBI e de cinco anos para diretores do IRS.
As Forças Armadas são protegidas da politização por aquilo que o estudioso jurídico Zachary Price descreve como "uma sobreposição incomumente espessa de estatutos" que governam a nomeação, promoção e remoção de oficiais militares. Embora o Departamento de Justiça, o FBI e o IRS tenham permanecido um tanto politizados até a década de 1970, uma série de reformas pós-Watergate efetivamente encerrou a instrumentalização partidária dessas instituições.
Servidores públicos profissionais muitas vezes desempenham um papel crítico em resistir aos esforços do governo para instrumentalizar agências estatais. Eles têm servido como a linha de frente de defesa da democracia nos últimos anos em países como Brasil, Índia, Israel, México e Polônia, bem como nos Estados Unidos durante o primeiro governo Trump.
Por essa razão, um dos primeiros movimentos realizados por autocratas eleitos —como Nayib Bukele em El Salvador, Chávez na Venezuela, Viktor Orbán na Hungria, Narendra Modi na Índia e Recep Tayyip Erdogan na Turquia— tem sido purgar servidores de agências públicas responsáveis por coisas como investigar e processar irregularidades, regular a mídia e a economia e supervisionar eleições. Eles são substituídos por parceiros leais ao mandatário.
Depois que Orbán se tornou primeiro-ministro em 2010, seu governo retirou dos funcionários públicos proteções essenciais, demitiu milhares e os substituiu por membros leais do partido governante Fidesz. Da mesma forma, o partido Lei e Justiça da Polônia enfraqueceu as leis ao eliminar o processo de contratação competitiva e preencher a burocracia, o Judiciário e as Forças Armadas com aliados partidários.
Trump e seus aliados têm planos semelhantes. Por exemplo, americano reviveu seu esforço do primeiro mandato para enfraquecer o serviço público ao reinstaurar o Schedule F, uma ordem executiva que permite ao presidente retirar de dezenas de milhares de funcionários do governo proteções legais em cargos considerados "de caráter confidencial, determinante de políticas, formulador de políticas ou defensor de políticas."
Caso implementado, o decreto possibilitará que esses servidores públicos sejam facilmente trocados por nomes políticos. O número de nomeações partidárias, já mais alto no governo dos EUA do que na maioria das democracias estabelecidas, poderia aumentar mais de dez vezes.
A Heritage Foundation e outros grupos de direita gastaram milhões de dólares recrutando e avaliando um exército de até 54 mil pessoas leais a Trump para ocupar cargos no governo. Essas mudanças poderiam ter um efeito mais amplo de intimidação, desencorajando críticas ao presidente.
Finalmente, a declaração de Trump de que demitiria o diretor do FBI, Christopher Wray, e o diretor do IRS, Danny Werfel, antes do fim de seus mandatos levou ambos a renunciar, abrindo caminho para trumpistas com pouca experiência assumirem o comando.
Trocas assim no Departamento de Justiça, no FBI e no IRS podem levar o governo a usar essas agências para três fins antidemocráticos: investigar e processar rivais, cooptar a sociedade civil e livrar aliados de processos.
Choque e lei
O meio mais visível de transformar o Estado em arma é através de processos direcionados. Praticamente todos os governos autocráticos eleitos utilizam ministérios da Justiça, escritórios de promotores públicos e agências fiscais e de inteligência para investigar e processar políticos rivais, empresas de mídia, editores, jornalistas, líderes empresariais, universidades e outros críticos.
Em ditaduras tradicionais, críticos são frequentemente acusados de crimes como sedição, traição ou conspiração para insurreição, mas autocratas contemporâneos tendem a processá-los por ofensas mais mundanas, como corrupção, evasão fiscal, difamação e até mesmo violações menores de regras obscuras.
Se os investigadores procurarem o suficiente, geralmente podem encontrar infrações pequenas, como renda não declarada ou descumprimento de regulamentos raramente aplicados.
Trump declarou repetidamente sua intenção de processar seus rivais, incluindo a ex-representante republicana Liz Cheney e outros legisladores que serviram no comitê da Câmara que investigou o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA. Em dezembro de 2024, republicanos da Câmara pediram uma investigação do FBI sobre Cheney.
Os esforços da primeira administração Trump para usar o Departamento de Justiça como arma foram em grande parte frustrados internamente, então desta vez ele buscou nomear pessoas que compartilhassem seu objetivo de perseguir adversários.
Sua indicada para procuradora-geral, Pam Bondi, declarou que os promotores que investigaram Trump serão processados, e sua escolha para diretor do FBI, Kash Patel, repetidamente pediu que rivais fossem investigados. Em 2023, Patel até publicou um livro com uma lista de funcionários públicos "inimigos" a serem alvos.
Como a administração Trump não controlará os tribunais, a maioria dos alvos de processos seletivos não acabará na prisão, mas o governo não precisa prender seus críticos para causar danos a eles.
Pessoas investigadas serão forçadas a dedicar tempo, energia e recursos consideráveis para se defender; gastarão suas economias com advogados; terão suas carreiras e reputações maculadas. No mínimo, sofrerão meses ou anos de ansiedade e noites sem dormir com suas famílias.
Os esforços para assediar adversários não se limitarão ao Departamento de Justiça e ao FBI. Uma variedade de agências e órgãos pode servir ao mesmo objetivo. Governos autocráticos, por exemplo, rotineiramente usam autoridades fiscais para mirar opositores em investigações politicamente motivadas.
Na Turquia, o governo Erdogan destruiu o grupo de mídia Dogan Yayin, cujos jornais e redes de TV estavam relatando corrupção governamental, acusando-o de evasão fiscal e impondo uma multa esmagadora de US$ 2,5 bilhões, o que forçou a família Dogan a vender seu império a aliados do governo. Erdogan também usou auditorias fiscais para pressionar o Grupo Koc, o maior conglomerado industrial do país, a abandonar seu apoio a partidos de oposição.
Trump poderia agir de forma semelhante. Um influxo de nomeações políticas potencialmente deixaria doadores democratas na mira. Como todas as doações de campanha individuais são divulgadas publicamente, seria fácil identificar essas pessoas; de fato, o medo de tal direcionamento poderia dissuadir indivíduos de contribuir para políticos de oposição em primeiro lugar.
O status de isenção fiscal também pode ser politizado. Em seu governo, Richard Nixon trabalhou para negar ou atrasar essa classificação para organizações e think tanks consideradas politicamente hostis.
Sob Trump, tais esforços seriam facilitados por uma legislação antiterrorismo aprovada em novembro de 2024 pela Câmara dos Representantes, o que autoriza o Departamento do Tesouro a retirar o status de isenção fiscal de qualquer organização suspeita de apoiar o terrorismo, sem a necessidade de divulgar evidências para justificar tal ato.
Como "apoio ao terrorismo" pode ser definido de forma muito ampla, Trump poderia, nas palavras do representante democrata Lloyd Doggett, "usá-lo como uma espada contra aqueles que vê como seus inimigos políticos."
Da mesma maneira, quase certamente o Departamento de Educação servirá de munição contra universidades, que, por serem centros de ativismo de oposição, despertam a ira de governos autoritários competitivos.
O Departamento de Educação distribui bilhões de dólares em financiamento federal para universidades, supervisiona as agências responsáveis pela avaliação de faculdades e aplica o cumprimento dos Títulos 6º e 9º, leis que proíbem instituições educacionais de discriminar com base em raça, cor, origem nacional ou sexo. Essas capacidades raramente foram politizadas no passado, mas líderes republicanos pediram seu uso contra escolas de elite.
Autocratas eleitos também rotineiramente usam processos por difamação e outras formas de ação legal para silenciar seus críticos na mídia. No Equador, em 2011, o então presidente Rafael Correa ganhou um processo de US$ 40 milhões contra um colunista e três executivos de um jornal que publicou um editorial chamando-o de "ditador."
Embora figuras públicas raramente ganhem tais processos nos Estados Unidos, Trump fez amplo uso de uma variedade de ações legais para desgastar meios de comunicação, mirando ABC News, CBS News, The Des Moines Register e Simon & Schuster. A estratégia já deu frutos.
Em dezembro de 2024, a ABC tomou a chocante decisão de chegar a um acordo em um processo por difamação movido por Trump, pagando-lhe US$ 15 milhões para evitar um julgamento que provavelmente teria vencido. Os proprietários da CBS também estão supostamente considerando fazer o mesmo, exemplo de como ações legais espúrias podem se mostrar politicamente eficazes.
A administração não precisa atacar diretamente todos os seus críticos para silenciar a maioria das dissidências. Lançar alguns ataques de alto perfil pode servir como um dissuasor eficaz. Uma ação legal contra Cheney seria observada de perto por outros políticos; um processo contra o New York Times ou Harvard teria um efeito intimidante em dezenas de outros meios de comunicação ou universidades.
Armadilha do mel
Um Estado transformado em arma não é apenas uma ferramenta para punir oponentes. Também pode servir para construir apoio. Governos em regimes autoritários competitivos rotineiramente se valem de políticas econômicas e decisões regulatórias para recompensar indivíduos, empresas e organizações politicamente amigáveis.
Líderes empresariais, empresas de mídia, universidades e outras organizações têm tanto a ganhar quanto a perder com decisões antitruste do governo, a emissão de licenças e permissões, a concessão de contratos governamentais, a dispensa de regulamentos ou tarifas e a isenção fiscal. Se acreditarem que essas decisões são tomadas com base política em vez de técnica, têm um forte incentivo para se alinhar com os incumbentes.
O potencial de cooptação é mais claro no setor empresarial. Em 2023, o governo americano gastou mais de US$ 750 bilhões, ou quase 3% do PIB, na concessão de contratos.
Para autocratas aspirantes, decisões políticas e regulatórias são poderosas cenouras e bastões para atrair apoio empresarial. Esse tipo de lógica patrimonial ajudou autocratas na Hungria, Rússia e Turquia a garantir a cooperação do setor privado.
Se Trump enviar sinais de que se comportará de maneira semelhante, as consequências políticas serão de longo alcance. Se líderes empresariais se convencerem de que é mais lucrativo evitar financiar candidatos de oposição ou investir em mídia independente, eles mudarão seu comportamento.
De fato, o comportamento deles já começou a mudar. No que a colunista do New York Times Michelle Goldberg chamou de "a Grande Capitulação", poderosos CEOs que antes criticavam o comportamento autoritário de Trump agora estão correndo para se encontrar com ele, elogiá-lo e dar-lhe dinheiro. Amazon, Google, Meta, Microsoft e Toyota doaram cada uma US$ 1 milhão para financiar a posse presidencial, mais do que o dobro de suas doações inaugurais anteriores.
No início de janeiro, a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou que estava abandonando suas operações de checagem de fatos —uma medida que Trump se gabou de "provavelmente" ter resultado de suas ameaças de tomar medidas legais contra o CEO da empresa, Mark Zuckerberg. O próprio Trump reconheceu que em seu primeiro mandato "todos estavam lutando contra mim", mas agora "todos querem ser meus amigos".
Um padrão semelhante está surgindo no setor de mídia. Quase todos os principais veículos dos EUA —ABC, CBS, CNN, NBC, The Washington Post— são de propriedade e operados por grandes corporações.
Embora Trump não possa cumprir sua ameaça de reter licenças de redes de televisão nacionais, pode pressionar seus proprietários corporativos.
O Washington Post, por exemplo, é controlado por Jeff Bezos, cuja maior empresa, a Amazon, compete por grandes contratos federais. Da mesma forma, o dono do Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, vende produtos médicos sujeitos à revisão pela Administração de Alimentos e Medicamentos. Antes das eleições presidenciais de 2024, os dois anularam os endossos planejados de seus jornais à democrata Kamala Harris.
Escudo autoritário
Finalmente, um Estado transformado em arma pode servir como um escudo legal para proteger funcionários do governo ou aliados que tiveram comportamentos antidemocráticos.
Um Departamento de Justiça leal, por exemplo, poderia fechar os olhos para atos de violência política pró-Trump, como ataques ou ameaças contra jornalistas, funcionários eleitorais, manifestantes ou políticos e ativistas da oposição. Também poderia se recusar a investigar casos de intimidação de eleitores ou até mesmo manipular os resultados das eleições.
Isso já aconteceu nos Estados Unidos. Durante e após a Reconstrução, a Ku Klux Klan e outros grupos armados de supremacia branca, com laços com o Partido Democrata, realizaram campanhas de terror violentas em todo o Sul, assassinando políticos negros e republicanos, incendiando casas, empresas e igrejas negras, cometendo fraudes eleitorais e ameaçando, espancando e matando cidadãos negros que tentavam votar.
Essa onda de terror, que ajudou a estabelecer quase um século de governo de partido único em todo o Sul, foi possibilitada pela conivência das autoridades de aplicação de leis estaduais e locais, que rotineiramente fechavam os olhos para a violência e sistematicamente não responsabilizavam seus perpetradores.
Os Estados Unidos experimentaram um aumento acentuado na violência de extrema direita durante o primeiro governo Trump. As ameaças contra membros do Congresso cresceram mais de dez vezes. Uma das consequências: segundo o senador republicano Mitt Romney, o medo da violência dos apoiadores de Trump dissuadiu alguns senadores republicanos de votar pelo seu impeachment após o ataque de 6 de janeiro de 2021.
Por quase todas as medidas, a violência política diminuiu após a invasão ao Capitólio, em parte porque centenas de participantes do ato foram condenados e presos. Mas agora o perdão de Trump a quase todos os insurrecionistas enviou uma mensagem de que atores violentos ou antidemocráticos serão protegidos.
Tais sinais encorajam o extremismo violento. Neste segundo mandato de Trump, críticos do governo e jornalistas independentes quase certamente enfrentarão ameaças mais frequentes e até mesmo ataques diretos.
Nada disso seria inteiramente novo para os Estados Unidos. J. Edgar Hoover, diretor do FBI, usou a agência como arma política para os seis presidentes. A administração Nixon utilizou o Departamento de Justiça e outras agências contra seus inimigos. O período atual, contudo, difere em aspectos importantes.
Os padrões democráticos globais aumentaram consideravelmente. Por qualquer medida contemporânea, os Estados Unidos eram consideravelmente menos democráticos na década de 1950 do que são hoje. Um retorno às práticas de meados do século 20 constituiria, por si só, retrocesso democrático significativo.
Mais importante, o próximo uso do governo como arma provavelmente irá muito além das práticas de meados do século 20. Há 50 anos, ambos os principais partidos dos EUA eram internamente heterogêneos, relativamente moderados e amplamente comprometidos com as regras democráticas do jogo.
Hoje, esses partidos estão muito mais polarizados. O Republicano radicalizado abandonou seu compromisso de longa data com as regras democráticas básicas, incluindo aceitar a derrota eleitoral e rejeitar inequivocamente a violência.
Além disso, grande parte do partido Republicano agora abraça a ideia de que as instituições da América —desde a burocracia federal e escolas públicas até a mídia e universidades privadas— foram corrompidas por ideologias de esquerda.
Pelo mundo, movimentos autoritários também acusam inimigos de subverter as instituições de seu países; líderes autocráticos, incluindo Erdogan, Orbán e Nicolás Maduro, da Venezuela, com frequência promovem tais alegações.
Essa visão de mundo tende a justificar, e até motivar, o tipo de expurgo e loteamento de cargos que Trump promete. Enquanto Nixon trabalhou secretamente para fazer do Estado uma arma e enfrentou oposição republicana quando esse comportamento veio à tona, o Partido Republicano de hoje encoraja abertamente tais abusos.
A transformação do Estado em arma tornou-se estratégia republicana. O partido que uma vez abraçou o ditado de campanha do presidente Ronald Reagan, segundo o qual o governo era a fonte dos problema, agora abraça entusiasticamente o governo como forma de munição política.
Usar o Poder Executivo dessa maneira é o que os republicanos aprenderam com Orbán. O autocrata húngaro ensinou uma geração de conservadores que o Estado não deve ser desmantelado, mas sim usado em busca de causas de direita e contra oponentes.
É por isso que a pequena Hungria se tornou um modelo para tantos apoiadores de Trump. Instrumentalizar o Estado não é uma nova característica da filosofia conservadora —é uma característica antiga do autoritarismo.
Imunidade natural?
A administração Trump pode descarrilar a democracia, mas é improvável que consolide o governo autoritário. Os Estados Unidos possuem várias fontes potenciais de resiliência. As instituições americanas são mais fortes do que as da Hungria, Turquia e de outros países com regimes autoritários competitivos.
O Judiciário independente, o federalismo, o bicameralismo e as eleições de meio de mandato —fatores ausentes na Hungria, por exemplo— provavelmente limitarão o alcance do autoritarismo de Trump.
Trump também é politicamente mais fraco do que muitos autocratas eleitos bem-sucedidos. Líderes autoritários causam mais danos quando desfrutam de amplo apoio público: Bukele, Chávez, Fujimori e Vladimir Putin ostentavam índices de aprovação acima de 80% quando lançaram golpes de poder autoritários.
Tal apoio público esmagador ajuda os líderes a garantir as supermaiorias legislativas ou vitórias plebiscitárias esmagadoras necessárias para impor reformas que consolidam o governo autocrático. Também ajuda a dissuadir rivais intrapartidários, juízes e até mesmo grande parte da oposição.
Líderes menos populares, por outro lado, enfrentam maior resistência de legislaturas, tribunais, sociedade civil e até mesmo de seus próprios aliados. Seus golpes de poder são, portanto, mais propensos a falhar. O peruano Pedro Castillo e o sul-coreano Yoon Suk-yeol tinham índices de aprovação abaixo de 30% quando tentaram tomar o poder de forma extraconstitucional, e ambos falharam.
O índice de aprovação de Jair Bolsonaro estava bem abaixo de 50% quando tentou orquestrar um golpe para reverter a eleição presidencial de 2022. Ele também foi derrotado nas urnas e declarado inelegível por 8 anos.
O índice de aprovação de Trump nunca ultrapassou 50% durante seu primeiro mandato, e uma combinação de incompetência, políticas impopulares e polarização partidária provavelmente limitará seu apoio durante este novo mandato. Um autocrata eleito com índice de aprovação de 45% é perigoso, mas menos do que um com 80% de apoio.
A sociedade civil é outra fonte potencial de resiliência democrática. Uma razão importante pela qual as democracias ricas são mais estáveis é que o desenvolvimento capitalista dispersa recursos humanos, financeiros e organizacionais para longe do Estado, gerando poder de contraposição na sociedade.
A riqueza não liberta completamente o setor privado das pressões impostas por um Estado transformado em arma. No entanto, quanto maior e mais rico for um setor privado, mais difícil será capturá-lo totalmente ou intimidá-lo à submissão.
Além disso, cidadãos mais ricos possuem mais tempo, habilidades e recursos para se juntar ou criar organizações cívicas ou de oposição —e como dependem menos do Estado para seu sustento do que cidadãos pobres, estão em melhor posição para protestar ou votar contra o governo.
Comparadas às de outros regimes autoritários competitivos, as forças de oposição nos Estados Unidos são bem organizadas, bem financiadas e eleitoralmente viáveis, o que as torna mais difíceis de cooptar, reprimir e derrotar nas urnas.
Falhas na armadura
Ainda assim, mesmo uma inclinação modesta do campo de jogo poderia prejudicar a democracia americana. As democracias exigem uma oposição robusta, e oposições robustas devem ser capazes de contar com um grande e renovável pool de políticos, ativistas, advogados, especialistas, doadores e jornalistas.
Um Estado transformado em arma põe em perigo tal oposição. Embora os críticos de Trump não sejam presos, exilados ou banidos da política, o custo elevado da oposição pública levará muitos deles a se retirarem para as margens políticas.
Diante de investigações do FBI, de auditorias fiscais, audiências no Congresso, processos judiciais, assédio online ou a perspectiva de perder oportunidades de negócios, muitas pessoas que normalmente se oporiam ao governo podem concluir que simplesmente não vale o risco ou o esforço. Esse processo de autoexclusão talvez não atraia muita atenção pública, mas teria graves consequências.
Diante de investigações iminentes, políticos promissores, tanto republicanos quanto democratas, deixam a vida pública. CEOs em busca de contratos governamentais, isenções tarifárias ou decisões antitruste favoráveis param de contribuir com candidatos democratas, de financiar iniciativas de direitos civis ou democracia, e de investir em mídia independente.
Veículos de notícias cujos proprietários se preocupam com processos judiciais ou assédio governamental restringem suas equipes investigativas e seus repórteres mais agressivos. Editores praticam autocensura, suavizando manchetes e optando por não publicar matérias críticas ao governo.
E líderes universitários, temendo investigações governamentais, cortes de financiamento ou impostos punitivos sobre doações, reprimem protestos no campus, removem ou rebaixam professores mais combativos e permanecem em silêncio diante do crescente autoritarismo.
Estados usados como arma criam um problema difícil de ação coletiva para as elites do establishment que, em teoria, prefeririam a democracia ao autoritarismo competitivo.
Os políticos, CEOs, proprietários de mídia e reitores de universidades que modificam seu comportamento diante de ameaças autoritárias estão agindo racionalmente, fazendo o que consideram melhor para suas organizações. Tais atos de autopreservação, contudo, têm um custo coletivo.
À medida que atores individuais se retiram para as margens ou se autocensuram, a oposição social enfraquece. O ambiente midiático torna-se menos crítico. E a pressão sobre o governo autoritário diminui.
A retração da oposição social pode ser pior do que parece. Observamos isso quando atores relevantes se autoexcluem, quando políticos se aposentam, reitores de universidades renunciam ou veículos de mídia mudam sua programação e pessoal.
Mais difícil é ter a percepção de uma oposição que poderia ter se materializado em um ambiente menos ameaçador —os jovens advogados que decidem não se candidatar a cargos públicos; os jovens escritores aspirantes que decidem não se tornar jornalistas; os potenciais denunciantes que decidem não se manifestar; os inúmeros cidadãos que decidem não participar de um protesto ou se voluntariar para uma campanha.
Mantenha a linha
A América está à beira do autoritarismo competitivo. A administração Trump já começou a cooptar instituições estatais e a usá-las contra os oponentes. A Constituição sozinha não pode salvar a democracia dos EUA. Mesmo as constituições mais bem elaboradas têm ambiguidades e lacunas que podem ser exploradas para fins antidemocráticos.
Afinal, a mesma ordem constitucional que sustenta a democracia liberal contemporânea dos Estados Unidos permitiu quase um século de autoritarismo e segregação racial no sul do país, a "internação" em massa de nipo-americanos durante a Segunda Guerra e o macarthismo nos anos 1950.
Em 2025, os Estados Unidos são governados nacionalmente por um partido com maior vontade e poder de explorar ambiguidades constitucionais e legais para fins autoritários do que em qualquer outro momento nos últimos dois séculos.
Trump será vulnerável. O apoio público limitado da administração e os erros inevitáveis criarão oportunidades para forças democráticas —no Congresso, nos tribunais e nas urnas.
A oposição, contudo, só pode vencer se permanecer no jogo. Sob autoritarismo competitivo, ela se torna extenuante. Desgastados por assédio e ameaças, muitos críticos de Trump serão tentados a se retirar para as margens.
Tal retirada seria perigosa. Quando o medo, o cansaço ou a resignação suprimem o compromisso dos cidadãos com a democracia, o autoritarismo emergente começa a criar raízes.
Muitos políticos, comentaristas, figuras da mídia e líderes empresariais que viam Trump como uma ameaça agora tratam essas preocupações como exageradas —afinal, a democracia sobreviveu ao seu primeiro mandato. Em 2025, preocupar-se com o destino da democracia americana tornou-se quase banal.
O momento dessa mudança de humor não poderia ser pior, pois a democracia está em maior perigo hoje do que em qualquer outro momento da história moderna dos EUA. A América tem regredido por uma década: entre 2014 e 2021, o índice anual de liberdade global da Freedom House, que avalia todos os países em uma escala de 0 a 100, rebaixou os Estados Unidos de 92 (empatado com a França) para 83 (abaixo da Argentina e empatado com o Panamá e a Romênia), onde permanece.
Os aclamados controles constitucionais do país estão falhando. Trump violou a regra cardinal da democracia quando tentou reverter os resultados de uma eleição e bloquear uma transferência pacífica de poder.
No entanto, nem o Congresso nem o Judiciário o responsabilizaram, e o Partido Republicano, tentativa de golpe à parte, escolheu-o novamente para disputar a eleição.
Trump conduziu uma campanha abertamente autoritária em 2024, prometendo processar seus rivais, punir a mídia crítica e mobilizar o Exército para reprimir protestos. Ele venceu, e graças a uma decisão extraordinária da Suprema Corte, desfrutará de ampla imunidade presidencial em seu segundo mandato.
A democracia sobreviveu ao primeiro mandato de Trump porque ele não tinha experiência, plano ou equipe. Ele não controlava o Partido Republicano quando assumiu o cargo em 2017, e a maioria dos líderes partidários ainda estava comprometida com as regras democráticas do jogo.
Trump governou com republicanos do establishment e tecnocratas, e eles em grande parte o contiveram. Nada disso é mais verdade. Desta vez, Trump deixou claro que pretende governar com "pessoas leais". Ele agora domina o Partido Republicano, que, purgado de suas forças anti-Trump, consente com seu comportamento autoritário.
A democracia dos EUA provavelmente entrará em colapso durante o segundo governo Trump, no sentido de que deixará de atender aos critérios padrões para uma democracia liberal: sufrágio adulto pleno, eleições livres e justas e ampla proteção das liberdades civis.
O colapso da democracia nos Estados Unidos não dará origem a uma ditadura clássica em que as eleições são uma farsa e a oposição é presa, exilada ou morta. Mesmo no pior cenário, Trump não será capaz de reescrever a Constituição ou derrubar a ordem constitucional.
Ele será contido por juízes independentes, pelo federalismo, pelas Forças Armadas e por altas barreiras à reforma constitucional. Haverá eleições em 2028, e os republicanos poderão perdê-las.
O autoritarismo não requer a destruição da ordem constitucional. O que está por vir não é fascismo ou ditadura de partido único, mas autoritarismo competitivo —um sistema em que os partidos competem nas eleições, mas o abuso de poder do incumbente inclina o campo de jogo contra a oposição.
A maioria das autocracias que surgiram desde o fim da Guerra Fria se enquadra nessa categoria, incluindo o Peru de Alberto Fujimori, a Venezuela de Hugo Chávez e os contemporâneos El Salvador, Hungria, Índia, Tunísia e Turquia. Sob o autoritarismo competitivo, a arquitetura formal da democracia, incluindo eleições multipartidárias, permanece intacta.
As forças de oposição são legais e atuam abertamente, disputam seriamente o poder. As eleições são muitas vezes batalhas ferozmente. E, de vez em quando, os incumbentes perdem, como aconteceu na Malásia em 2018 e na Polônia em 2023.
No entanto, o sistema não é democrático, porque os governantes manipulam o jogo ao usar a máquina do Estado para atacar os oponentes e cooptar críticos. A competição é real, mas injusta.
O autoritarismo competitivo transformará a vida política nos Estados Unidos. Como a enxurrada inicial de ordens executivas de constitucionalidade duvidosa de Trump deixou claro, o custo da oposição pública aumentará consideravelmente: doadores do Partido Democrata podem ser alvos do IRS (Receita Federal dos Estados Unidos), empresas que financiam grupos de direitos civis podem sofrer maior escrutínio fiscal e legal ou ver seus empreendimentos impedidos por reguladores. Veículos de mídia crítica provavelmente enfrentarão processos por difamação ou outras ações legais, bem como políticas retaliatórias contra suas empresas-mãe.
Os americanos ainda poderão se opor ao governo, mas a oposição será mais difícil e arriscada, levando muitos cidadãos a decidirem que a luta não vale a pena. Abandonar a resistência, no entanto, poderia abrir caminho para o enraizamento autoritário, com graves e duradouras consequências para a democracia global.
O Estado como arma
O segundo governo Trump pode violar liberdades civis básicas de maneiras que subvertam inequivocamente a democracia. O presidente, por exemplo, poderia ordenar que o Exército atirasse em manifestantes, como ele supostamente quis fazer durante seu primeiro mandato.
Ele também poderia cumprir sua promessa de campanha de lançar a "maior operação de deportação da história americana", lançando milhões de pessoas em um processo repleto de abusos que inevitavelmente levaria à detenção equivocada de cidadãos americanos.
Todavia, grande parte do autoritarismo que está por vir assumirá uma forma menos visível: a politização e a instrumentalização da burocracia governamental. Estados modernos são entidades poderosas. O governo federal dos EUA emprega mais de 2 milhões de pessoas e tem um orçamento anual de quase US$ 7 trilhões.
Funcionários do governo servem como árbitros importantes da vida política, econômica e social. Eles ajudam a determinar quem é processado por crimes, quando e como regras e regulamentos são aplicados, quais organizações recebem status de isenção fiscal, quais agências privadas obtêm contratos para credenciar universidades e quais empresas obtêm concessões, contratos, subsídios, isenções tarifárias e resgates.
Mesmo em países como os Estados Unidos, com governos relativamente pequenos e livre mercado, essa autoridade cria incontáveis oportunidades para líderes recompensarem aliados e punirem oponentes.
Nenhuma democracia está totalmente livre de tal politização. Todavia, quando os governos transformam o Estado em arma contra seus adversários, usando seu poder para sistematicamente enfraquecer a oposição, eles minam a ordem liberal. A política torna-se uma partida de futebol em que os árbitros e os zeladores do campo trabalham para um time para sabotar seu rival.
É por isso que todas as democracias estabelecidas têm conjuntos elaborados de leis, regras e normas para prevenir a instrumentalização do Estado. Isso inclui judiciários independentes, bancos centrais e autoridades eleitorais e serviços públicos com proteções de emprego. Nos Estados Unidos, o Ato Pendleton de 1883 criou um serviço público profissionalizado em que a contratação é baseada no mérito.
Funcionários federais são proibidos de participar de campanhas eleitorais e não podem ser demitidos ou rebaixados por razões políticas. A grande maioria dos mais de 2 milhões de funcionários federais há muito tempo desfruta de proteção do serviço público. No início do segundo mandato de Trump, apenas cerca de 4.000 deles eram nomeados políticos.
Os Estados Unidos também desenvolveram um extenso conjunto de regras e normas para prevenir a politização de instituições estatais. Isso inclui a confirmação pelo Senado de nomeados presidenciais, mandato vitalício para juízes da Suprema Corte, segurança de mandato para o presidente do Federal Reserve (o Banco Central do país), mandatos de dez anos para diretores do FBI e de cinco anos para diretores do IRS.
As Forças Armadas são protegidas da politização por aquilo que o estudioso jurídico Zachary Price descreve como "uma sobreposição incomumente espessa de estatutos" que governam a nomeação, promoção e remoção de oficiais militares. Embora o Departamento de Justiça, o FBI e o IRS tenham permanecido um tanto politizados até a década de 1970, uma série de reformas pós-Watergate efetivamente encerrou a instrumentalização partidária dessas instituições.
Servidores públicos profissionais muitas vezes desempenham um papel crítico em resistir aos esforços do governo para instrumentalizar agências estatais. Eles têm servido como a linha de frente de defesa da democracia nos últimos anos em países como Brasil, Índia, Israel, México e Polônia, bem como nos Estados Unidos durante o primeiro governo Trump.
Por essa razão, um dos primeiros movimentos realizados por autocratas eleitos —como Nayib Bukele em El Salvador, Chávez na Venezuela, Viktor Orbán na Hungria, Narendra Modi na Índia e Recep Tayyip Erdogan na Turquia— tem sido purgar servidores de agências públicas responsáveis por coisas como investigar e processar irregularidades, regular a mídia e a economia e supervisionar eleições. Eles são substituídos por parceiros leais ao mandatário.
Depois que Orbán se tornou primeiro-ministro em 2010, seu governo retirou dos funcionários públicos proteções essenciais, demitiu milhares e os substituiu por membros leais do partido governante Fidesz. Da mesma forma, o partido Lei e Justiça da Polônia enfraqueceu as leis ao eliminar o processo de contratação competitiva e preencher a burocracia, o Judiciário e as Forças Armadas com aliados partidários.
Trump e seus aliados têm planos semelhantes. Por exemplo, americano reviveu seu esforço do primeiro mandato para enfraquecer o serviço público ao reinstaurar o Schedule F, uma ordem executiva que permite ao presidente retirar de dezenas de milhares de funcionários do governo proteções legais em cargos considerados "de caráter confidencial, determinante de políticas, formulador de políticas ou defensor de políticas."
Caso implementado, o decreto possibilitará que esses servidores públicos sejam facilmente trocados por nomes políticos. O número de nomeações partidárias, já mais alto no governo dos EUA do que na maioria das democracias estabelecidas, poderia aumentar mais de dez vezes.
A Heritage Foundation e outros grupos de direita gastaram milhões de dólares recrutando e avaliando um exército de até 54 mil pessoas leais a Trump para ocupar cargos no governo. Essas mudanças poderiam ter um efeito mais amplo de intimidação, desencorajando críticas ao presidente.
Finalmente, a declaração de Trump de que demitiria o diretor do FBI, Christopher Wray, e o diretor do IRS, Danny Werfel, antes do fim de seus mandatos levou ambos a renunciar, abrindo caminho para trumpistas com pouca experiência assumirem o comando.
Trocas assim no Departamento de Justiça, no FBI e no IRS podem levar o governo a usar essas agências para três fins antidemocráticos: investigar e processar rivais, cooptar a sociedade civil e livrar aliados de processos.
Choque e lei
O meio mais visível de transformar o Estado em arma é através de processos direcionados. Praticamente todos os governos autocráticos eleitos utilizam ministérios da Justiça, escritórios de promotores públicos e agências fiscais e de inteligência para investigar e processar políticos rivais, empresas de mídia, editores, jornalistas, líderes empresariais, universidades e outros críticos.
Em ditaduras tradicionais, críticos são frequentemente acusados de crimes como sedição, traição ou conspiração para insurreição, mas autocratas contemporâneos tendem a processá-los por ofensas mais mundanas, como corrupção, evasão fiscal, difamação e até mesmo violações menores de regras obscuras.
Se os investigadores procurarem o suficiente, geralmente podem encontrar infrações pequenas, como renda não declarada ou descumprimento de regulamentos raramente aplicados.
Trump declarou repetidamente sua intenção de processar seus rivais, incluindo a ex-representante republicana Liz Cheney e outros legisladores que serviram no comitê da Câmara que investigou o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA. Em dezembro de 2024, republicanos da Câmara pediram uma investigação do FBI sobre Cheney.
Os esforços da primeira administração Trump para usar o Departamento de Justiça como arma foram em grande parte frustrados internamente, então desta vez ele buscou nomear pessoas que compartilhassem seu objetivo de perseguir adversários.
Sua indicada para procuradora-geral, Pam Bondi, declarou que os promotores que investigaram Trump serão processados, e sua escolha para diretor do FBI, Kash Patel, repetidamente pediu que rivais fossem investigados. Em 2023, Patel até publicou um livro com uma lista de funcionários públicos "inimigos" a serem alvos.
Como a administração Trump não controlará os tribunais, a maioria dos alvos de processos seletivos não acabará na prisão, mas o governo não precisa prender seus críticos para causar danos a eles.
Pessoas investigadas serão forçadas a dedicar tempo, energia e recursos consideráveis para se defender; gastarão suas economias com advogados; terão suas carreiras e reputações maculadas. No mínimo, sofrerão meses ou anos de ansiedade e noites sem dormir com suas famílias.
Os esforços para assediar adversários não se limitarão ao Departamento de Justiça e ao FBI. Uma variedade de agências e órgãos pode servir ao mesmo objetivo. Governos autocráticos, por exemplo, rotineiramente usam autoridades fiscais para mirar opositores em investigações politicamente motivadas.
Na Turquia, o governo Erdogan destruiu o grupo de mídia Dogan Yayin, cujos jornais e redes de TV estavam relatando corrupção governamental, acusando-o de evasão fiscal e impondo uma multa esmagadora de US$ 2,5 bilhões, o que forçou a família Dogan a vender seu império a aliados do governo. Erdogan também usou auditorias fiscais para pressionar o Grupo Koc, o maior conglomerado industrial do país, a abandonar seu apoio a partidos de oposição.
Trump poderia agir de forma semelhante. Um influxo de nomeações políticas potencialmente deixaria doadores democratas na mira. Como todas as doações de campanha individuais são divulgadas publicamente, seria fácil identificar essas pessoas; de fato, o medo de tal direcionamento poderia dissuadir indivíduos de contribuir para políticos de oposição em primeiro lugar.
O status de isenção fiscal também pode ser politizado. Em seu governo, Richard Nixon trabalhou para negar ou atrasar essa classificação para organizações e think tanks consideradas politicamente hostis.
Sob Trump, tais esforços seriam facilitados por uma legislação antiterrorismo aprovada em novembro de 2024 pela Câmara dos Representantes, o que autoriza o Departamento do Tesouro a retirar o status de isenção fiscal de qualquer organização suspeita de apoiar o terrorismo, sem a necessidade de divulgar evidências para justificar tal ato.
Como "apoio ao terrorismo" pode ser definido de forma muito ampla, Trump poderia, nas palavras do representante democrata Lloyd Doggett, "usá-lo como uma espada contra aqueles que vê como seus inimigos políticos."
Da mesma maneira, quase certamente o Departamento de Educação servirá de munição contra universidades, que, por serem centros de ativismo de oposição, despertam a ira de governos autoritários competitivos.
O Departamento de Educação distribui bilhões de dólares em financiamento federal para universidades, supervisiona as agências responsáveis pela avaliação de faculdades e aplica o cumprimento dos Títulos 6º e 9º, leis que proíbem instituições educacionais de discriminar com base em raça, cor, origem nacional ou sexo. Essas capacidades raramente foram politizadas no passado, mas líderes republicanos pediram seu uso contra escolas de elite.
Autocratas eleitos também rotineiramente usam processos por difamação e outras formas de ação legal para silenciar seus críticos na mídia. No Equador, em 2011, o então presidente Rafael Correa ganhou um processo de US$ 40 milhões contra um colunista e três executivos de um jornal que publicou um editorial chamando-o de "ditador."
Embora figuras públicas raramente ganhem tais processos nos Estados Unidos, Trump fez amplo uso de uma variedade de ações legais para desgastar meios de comunicação, mirando ABC News, CBS News, The Des Moines Register e Simon & Schuster. A estratégia já deu frutos.
Em dezembro de 2024, a ABC tomou a chocante decisão de chegar a um acordo em um processo por difamação movido por Trump, pagando-lhe US$ 15 milhões para evitar um julgamento que provavelmente teria vencido. Os proprietários da CBS também estão supostamente considerando fazer o mesmo, exemplo de como ações legais espúrias podem se mostrar politicamente eficazes.
A administração não precisa atacar diretamente todos os seus críticos para silenciar a maioria das dissidências. Lançar alguns ataques de alto perfil pode servir como um dissuasor eficaz. Uma ação legal contra Cheney seria observada de perto por outros políticos; um processo contra o New York Times ou Harvard teria um efeito intimidante em dezenas de outros meios de comunicação ou universidades.
Armadilha do mel
Um Estado transformado em arma não é apenas uma ferramenta para punir oponentes. Também pode servir para construir apoio. Governos em regimes autoritários competitivos rotineiramente se valem de políticas econômicas e decisões regulatórias para recompensar indivíduos, empresas e organizações politicamente amigáveis.
Líderes empresariais, empresas de mídia, universidades e outras organizações têm tanto a ganhar quanto a perder com decisões antitruste do governo, a emissão de licenças e permissões, a concessão de contratos governamentais, a dispensa de regulamentos ou tarifas e a isenção fiscal. Se acreditarem que essas decisões são tomadas com base política em vez de técnica, têm um forte incentivo para se alinhar com os incumbentes.
O potencial de cooptação é mais claro no setor empresarial. Em 2023, o governo americano gastou mais de US$ 750 bilhões, ou quase 3% do PIB, na concessão de contratos.
Para autocratas aspirantes, decisões políticas e regulatórias são poderosas cenouras e bastões para atrair apoio empresarial. Esse tipo de lógica patrimonial ajudou autocratas na Hungria, Rússia e Turquia a garantir a cooperação do setor privado.
Se Trump enviar sinais de que se comportará de maneira semelhante, as consequências políticas serão de longo alcance. Se líderes empresariais se convencerem de que é mais lucrativo evitar financiar candidatos de oposição ou investir em mídia independente, eles mudarão seu comportamento.
De fato, o comportamento deles já começou a mudar. No que a colunista do New York Times Michelle Goldberg chamou de "a Grande Capitulação", poderosos CEOs que antes criticavam o comportamento autoritário de Trump agora estão correndo para se encontrar com ele, elogiá-lo e dar-lhe dinheiro. Amazon, Google, Meta, Microsoft e Toyota doaram cada uma US$ 1 milhão para financiar a posse presidencial, mais do que o dobro de suas doações inaugurais anteriores.
No início de janeiro, a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou que estava abandonando suas operações de checagem de fatos —uma medida que Trump se gabou de "provavelmente" ter resultado de suas ameaças de tomar medidas legais contra o CEO da empresa, Mark Zuckerberg. O próprio Trump reconheceu que em seu primeiro mandato "todos estavam lutando contra mim", mas agora "todos querem ser meus amigos".
Um padrão semelhante está surgindo no setor de mídia. Quase todos os principais veículos dos EUA —ABC, CBS, CNN, NBC, The Washington Post— são de propriedade e operados por grandes corporações.
Embora Trump não possa cumprir sua ameaça de reter licenças de redes de televisão nacionais, pode pressionar seus proprietários corporativos.
O Washington Post, por exemplo, é controlado por Jeff Bezos, cuja maior empresa, a Amazon, compete por grandes contratos federais. Da mesma forma, o dono do Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, vende produtos médicos sujeitos à revisão pela Administração de Alimentos e Medicamentos. Antes das eleições presidenciais de 2024, os dois anularam os endossos planejados de seus jornais à democrata Kamala Harris.
Escudo autoritário
Finalmente, um Estado transformado em arma pode servir como um escudo legal para proteger funcionários do governo ou aliados que tiveram comportamentos antidemocráticos.
Um Departamento de Justiça leal, por exemplo, poderia fechar os olhos para atos de violência política pró-Trump, como ataques ou ameaças contra jornalistas, funcionários eleitorais, manifestantes ou políticos e ativistas da oposição. Também poderia se recusar a investigar casos de intimidação de eleitores ou até mesmo manipular os resultados das eleições.
Isso já aconteceu nos Estados Unidos. Durante e após a Reconstrução, a Ku Klux Klan e outros grupos armados de supremacia branca, com laços com o Partido Democrata, realizaram campanhas de terror violentas em todo o Sul, assassinando políticos negros e republicanos, incendiando casas, empresas e igrejas negras, cometendo fraudes eleitorais e ameaçando, espancando e matando cidadãos negros que tentavam votar.
Essa onda de terror, que ajudou a estabelecer quase um século de governo de partido único em todo o Sul, foi possibilitada pela conivência das autoridades de aplicação de leis estaduais e locais, que rotineiramente fechavam os olhos para a violência e sistematicamente não responsabilizavam seus perpetradores.
Os Estados Unidos experimentaram um aumento acentuado na violência de extrema direita durante o primeiro governo Trump. As ameaças contra membros do Congresso cresceram mais de dez vezes. Uma das consequências: segundo o senador republicano Mitt Romney, o medo da violência dos apoiadores de Trump dissuadiu alguns senadores republicanos de votar pelo seu impeachment após o ataque de 6 de janeiro de 2021.
Por quase todas as medidas, a violência política diminuiu após a invasão ao Capitólio, em parte porque centenas de participantes do ato foram condenados e presos. Mas agora o perdão de Trump a quase todos os insurrecionistas enviou uma mensagem de que atores violentos ou antidemocráticos serão protegidos.
Tais sinais encorajam o extremismo violento. Neste segundo mandato de Trump, críticos do governo e jornalistas independentes quase certamente enfrentarão ameaças mais frequentes e até mesmo ataques diretos.
Nada disso seria inteiramente novo para os Estados Unidos. J. Edgar Hoover, diretor do FBI, usou a agência como arma política para os seis presidentes. A administração Nixon utilizou o Departamento de Justiça e outras agências contra seus inimigos. O período atual, contudo, difere em aspectos importantes.
Os padrões democráticos globais aumentaram consideravelmente. Por qualquer medida contemporânea, os Estados Unidos eram consideravelmente menos democráticos na década de 1950 do que são hoje. Um retorno às práticas de meados do século 20 constituiria, por si só, retrocesso democrático significativo.
Mais importante, o próximo uso do governo como arma provavelmente irá muito além das práticas de meados do século 20. Há 50 anos, ambos os principais partidos dos EUA eram internamente heterogêneos, relativamente moderados e amplamente comprometidos com as regras democráticas do jogo.
Hoje, esses partidos estão muito mais polarizados. O Republicano radicalizado abandonou seu compromisso de longa data com as regras democráticas básicas, incluindo aceitar a derrota eleitoral e rejeitar inequivocamente a violência.
Além disso, grande parte do partido Republicano agora abraça a ideia de que as instituições da América —desde a burocracia federal e escolas públicas até a mídia e universidades privadas— foram corrompidas por ideologias de esquerda.
Pelo mundo, movimentos autoritários também acusam inimigos de subverter as instituições de seu países; líderes autocráticos, incluindo Erdogan, Orbán e Nicolás Maduro, da Venezuela, com frequência promovem tais alegações.
Essa visão de mundo tende a justificar, e até motivar, o tipo de expurgo e loteamento de cargos que Trump promete. Enquanto Nixon trabalhou secretamente para fazer do Estado uma arma e enfrentou oposição republicana quando esse comportamento veio à tona, o Partido Republicano de hoje encoraja abertamente tais abusos.
A transformação do Estado em arma tornou-se estratégia republicana. O partido que uma vez abraçou o ditado de campanha do presidente Ronald Reagan, segundo o qual o governo era a fonte dos problema, agora abraça entusiasticamente o governo como forma de munição política.
Usar o Poder Executivo dessa maneira é o que os republicanos aprenderam com Orbán. O autocrata húngaro ensinou uma geração de conservadores que o Estado não deve ser desmantelado, mas sim usado em busca de causas de direita e contra oponentes.
É por isso que a pequena Hungria se tornou um modelo para tantos apoiadores de Trump. Instrumentalizar o Estado não é uma nova característica da filosofia conservadora —é uma característica antiga do autoritarismo.
Imunidade natural?
A administração Trump pode descarrilar a democracia, mas é improvável que consolide o governo autoritário. Os Estados Unidos possuem várias fontes potenciais de resiliência. As instituições americanas são mais fortes do que as da Hungria, Turquia e de outros países com regimes autoritários competitivos.
O Judiciário independente, o federalismo, o bicameralismo e as eleições de meio de mandato —fatores ausentes na Hungria, por exemplo— provavelmente limitarão o alcance do autoritarismo de Trump.
Trump também é politicamente mais fraco do que muitos autocratas eleitos bem-sucedidos. Líderes autoritários causam mais danos quando desfrutam de amplo apoio público: Bukele, Chávez, Fujimori e Vladimir Putin ostentavam índices de aprovação acima de 80% quando lançaram golpes de poder autoritários.
Tal apoio público esmagador ajuda os líderes a garantir as supermaiorias legislativas ou vitórias plebiscitárias esmagadoras necessárias para impor reformas que consolidam o governo autocrático. Também ajuda a dissuadir rivais intrapartidários, juízes e até mesmo grande parte da oposição.
Líderes menos populares, por outro lado, enfrentam maior resistência de legislaturas, tribunais, sociedade civil e até mesmo de seus próprios aliados. Seus golpes de poder são, portanto, mais propensos a falhar. O peruano Pedro Castillo e o sul-coreano Yoon Suk-yeol tinham índices de aprovação abaixo de 30% quando tentaram tomar o poder de forma extraconstitucional, e ambos falharam.
O índice de aprovação de Jair Bolsonaro estava bem abaixo de 50% quando tentou orquestrar um golpe para reverter a eleição presidencial de 2022. Ele também foi derrotado nas urnas e declarado inelegível por 8 anos.
O índice de aprovação de Trump nunca ultrapassou 50% durante seu primeiro mandato, e uma combinação de incompetência, políticas impopulares e polarização partidária provavelmente limitará seu apoio durante este novo mandato. Um autocrata eleito com índice de aprovação de 45% é perigoso, mas menos do que um com 80% de apoio.
A sociedade civil é outra fonte potencial de resiliência democrática. Uma razão importante pela qual as democracias ricas são mais estáveis é que o desenvolvimento capitalista dispersa recursos humanos, financeiros e organizacionais para longe do Estado, gerando poder de contraposição na sociedade.
A riqueza não liberta completamente o setor privado das pressões impostas por um Estado transformado em arma. No entanto, quanto maior e mais rico for um setor privado, mais difícil será capturá-lo totalmente ou intimidá-lo à submissão.
Além disso, cidadãos mais ricos possuem mais tempo, habilidades e recursos para se juntar ou criar organizações cívicas ou de oposição —e como dependem menos do Estado para seu sustento do que cidadãos pobres, estão em melhor posição para protestar ou votar contra o governo.
Comparadas às de outros regimes autoritários competitivos, as forças de oposição nos Estados Unidos são bem organizadas, bem financiadas e eleitoralmente viáveis, o que as torna mais difíceis de cooptar, reprimir e derrotar nas urnas.
Falhas na armadura
Ainda assim, mesmo uma inclinação modesta do campo de jogo poderia prejudicar a democracia americana. As democracias exigem uma oposição robusta, e oposições robustas devem ser capazes de contar com um grande e renovável pool de políticos, ativistas, advogados, especialistas, doadores e jornalistas.
Um Estado transformado em arma põe em perigo tal oposição. Embora os críticos de Trump não sejam presos, exilados ou banidos da política, o custo elevado da oposição pública levará muitos deles a se retirarem para as margens políticas.
Diante de investigações do FBI, de auditorias fiscais, audiências no Congresso, processos judiciais, assédio online ou a perspectiva de perder oportunidades de negócios, muitas pessoas que normalmente se oporiam ao governo podem concluir que simplesmente não vale o risco ou o esforço. Esse processo de autoexclusão talvez não atraia muita atenção pública, mas teria graves consequências.
Diante de investigações iminentes, políticos promissores, tanto republicanos quanto democratas, deixam a vida pública. CEOs em busca de contratos governamentais, isenções tarifárias ou decisões antitruste favoráveis param de contribuir com candidatos democratas, de financiar iniciativas de direitos civis ou democracia, e de investir em mídia independente.
Veículos de notícias cujos proprietários se preocupam com processos judiciais ou assédio governamental restringem suas equipes investigativas e seus repórteres mais agressivos. Editores praticam autocensura, suavizando manchetes e optando por não publicar matérias críticas ao governo.
E líderes universitários, temendo investigações governamentais, cortes de financiamento ou impostos punitivos sobre doações, reprimem protestos no campus, removem ou rebaixam professores mais combativos e permanecem em silêncio diante do crescente autoritarismo.
Estados usados como arma criam um problema difícil de ação coletiva para as elites do establishment que, em teoria, prefeririam a democracia ao autoritarismo competitivo.
Os políticos, CEOs, proprietários de mídia e reitores de universidades que modificam seu comportamento diante de ameaças autoritárias estão agindo racionalmente, fazendo o que consideram melhor para suas organizações. Tais atos de autopreservação, contudo, têm um custo coletivo.
À medida que atores individuais se retiram para as margens ou se autocensuram, a oposição social enfraquece. O ambiente midiático torna-se menos crítico. E a pressão sobre o governo autoritário diminui.
A retração da oposição social pode ser pior do que parece. Observamos isso quando atores relevantes se autoexcluem, quando políticos se aposentam, reitores de universidades renunciam ou veículos de mídia mudam sua programação e pessoal.
Mais difícil é ter a percepção de uma oposição que poderia ter se materializado em um ambiente menos ameaçador —os jovens advogados que decidem não se candidatar a cargos públicos; os jovens escritores aspirantes que decidem não se tornar jornalistas; os potenciais denunciantes que decidem não se manifestar; os inúmeros cidadãos que decidem não participar de um protesto ou se voluntariar para uma campanha.
Mantenha a linha
A América está à beira do autoritarismo competitivo. A administração Trump já começou a cooptar instituições estatais e a usá-las contra os oponentes. A Constituição sozinha não pode salvar a democracia dos EUA. Mesmo as constituições mais bem elaboradas têm ambiguidades e lacunas que podem ser exploradas para fins antidemocráticos.
Afinal, a mesma ordem constitucional que sustenta a democracia liberal contemporânea dos Estados Unidos permitiu quase um século de autoritarismo e segregação racial no sul do país, a "internação" em massa de nipo-americanos durante a Segunda Guerra e o macarthismo nos anos 1950.
Em 2025, os Estados Unidos são governados nacionalmente por um partido com maior vontade e poder de explorar ambiguidades constitucionais e legais para fins autoritários do que em qualquer outro momento nos últimos dois séculos.
Trump será vulnerável. O apoio público limitado da administração e os erros inevitáveis criarão oportunidades para forças democráticas —no Congresso, nos tribunais e nas urnas.
A oposição, contudo, só pode vencer se permanecer no jogo. Sob autoritarismo competitivo, ela se torna extenuante. Desgastados por assédio e ameaças, muitos críticos de Trump serão tentados a se retirar para as margens.
Tal retirada seria perigosa. Quando o medo, o cansaço ou a resignação suprimem o compromisso dos cidadãos com a democracia, o autoritarismo emergente começa a criar raízes.
Assinar:
Postagens (Atom)











/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2025/R/K/rrcShQQCAz94IB8muKEg/tecnofeudalismo-copiar.jpg)