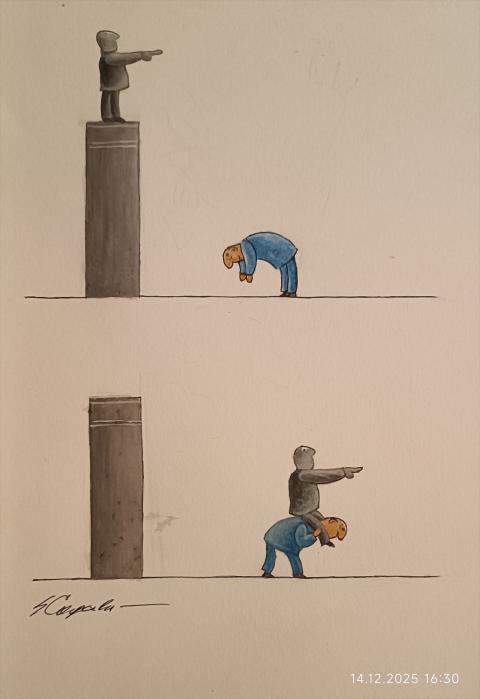segunda-feira, 15 de dezembro de 2025
Murar o medo
O medo foi um dos meus primeiros mestres. Antes de ganhar confiança em celestiais criaturas, aprendi a temer monstros, fantasmas e demônios. Os anjos, quando chegaram, já era para me guardarem, servindo como agentes da segurança privada das almas. Nem sempre os que me protegiam sabiam a diferença entre sentimento e realidade. Isso acontecia, por exemplo, quando me ensinavam a recear os desconhecidos. Na realidade, a maior parte da violência contra as crianças sempre foi praticada não por estranhos, mas por parentes e conhecidos. Os fantasmas que serviam na minha infância reproduziam esse velho engano de que estamos mais seguros em ambientes que reconhecemos. Os meus anjos da guarda tinham a ingenuidade de acreditar que eu estaria mais protegido apenas por não me aventurar para além da fronteira da minha língua, da minha cultura, do meu território.
O medo foi, afinal, o mestre que mais me fez desaprender. Quando deixei a minha casa natal, uma invisível mão roubava-me a coragem de viver e a audácia de ser eu mesmo. No horizonte vislumbravam-se mais muros do que estradas. Nessa altura, algo me sugeria o seguinte: que há neste mundo mais medo de coisas más do que coisas más propriamente ditas.
No Moçambique colonial em que nasci e cresci, a narrativa do medo tinha um invejável casting internacional: os chineses que comiam crianças, os chamados terroristas que lutavam pela independência do país, e um ateu barbudo com um nome alemão. Esses fantasmas tiveram o fim de todos os fantasmas: morreram quando morreu o medo. Os chineses abriram restaurantes junto à nossa porta, os ditos terroristas são governantes respeitáveis e Karl Marx, o ateu barbudo, é um simpático avô que não deixou descendência.
O preço dessa construção [narrativa] de terror foi, no entanto, trágico para o continente africano. Em nome da luta contra o comunismo cometeram-se as mais indizíveis barbaridades. Em nome da segurança mundial foram colocados e conservados no Poder alguns dos ditadores mais sanguinários de que há memória. A mais grave herança dessa longa intervenção externa é a facilidade com que as elites africanas continuam a culpar os outros pelos seus próprios fracassos.
A Guerra-Fria esfriou mas o maniqueísmo que a sustinha não desarmou, inventando rapidamente outras geografias do medo, a Oriente e a Ocidente. E porque se trata de novas entidades demoníacas não bastam os seculares meios de governação… Precisamos de intervenção com legitimidade divina… O que era ideologia passou a ser crença, o que era política tornou-se religião, o que era religião passou a ser estratégia de poder.
Para fabricar armas é preciso fabricar inimigos. Para produzir inimigos é imperioso sustentar fantasmas. A manutenção desse alvoroço requer um dispendioso aparato e um batalhão de especialistas que, em segredo, tomam decisões em nosso nome. Eis o que nos dizem: para superarmos as ameaças domésticas precisamos de mais polícia, mais prisões, mais segurança privada e menos privacidade. Para enfrentar as ameaças globais precisamos de mais exércitos, mais serviços secretos e a suspensão temporária da nossa cidadania. Todos sabemos que o caminho verdadeiro tem que ser outro. Todos sabemos que esse outro caminho começaria pelo desejo de conhecermos melhor esses que, de um e do outro lado, aprendemos a chamar de “eles”.
Aos adversários políticos e militares, juntam-se agora o clima, a demografia e as epidemias. O sentimento que se criou é o seguinte: a realidade é perigosa, a natureza é traiçoeira e a humanidade é imprevisível. Vivemos – como cidadãos e como espécie – em permanente situação de emergência. Como em qualquer estado de sítio, as liberdades individuais devem ser contidas, a privacidade pode ser invadida e a racionalidade deve ser suspensa.
Todas estas restrições servem para que não sejam feitas perguntas [incomodas] como, por exemplo, estas: porque motivo a crise financeira não atingiu a indústria de armamento? Porque motivo se gastou, apenas no ano passado, um trilhão e meio de dólares com armamento militar? Porque razão os que hoje tentam proteger os civis na Líbia são exatamente os que mais armas venderam ao regime do coronel Kadaffi? Porque motivo se realizam mais seminários sobre
segurança do que sobre justiça?
Se queremos resolver (e não apenas discutir) a segurança mundial – teremos que enfrentar ameaças bem reais e urgentes. Há uma arma de destruição massiva que está sendo usada todos os dias, em todo o mundo, sem que sejam precisos pretextos de guerra. Essa arma chama-se fome. Em pleno século 21, um em cada seis seres humanos passa fome. O custo para superar a fome mundial seria uma fracção muito pequena do que se gasta em armamento. A fome será, sem dúvida, a maior causa de insegurança do nosso tempo.
Mencionarei ainda outra silenciada violência: em todo o mundo, uma em cada três mulheres foi ou será vítima de violência física ou sexual durante o seu tempo de vida… A verdade é que… pesa uma condenação antecipada pelo simples fato de serem mulheres.
A nossa indignação, porém, é bem menor que o medo. Sem darmos conta, fomos convertidos em soldados de um exército sem nome, e como militares sem farda deixamos de questionar. Deixamos de fazer perguntas e de discutir razões. As questões de ética são esquecidas porque está provada a barbaridade dos outros. E porque estamos em guerra, não temos que fazer prova de coerência nem de ética nem de legalidade.
É sintomático que a única construção humana que pode ser vista do espaço seja uma muralha. A chamada Grande Muralha foi erguida para proteger a China das guerras e das invasões. A Muralha não evitou conflitos nem parou os invasores. Possivelmente, morreram mais chineses construindo a Muralha do que vítimas das invasões do Norte. Diz-se que alguns dos trabalhadores que morreram foram emparedados na sua própria construção. Esses corpos convertidos em muro e pedra são uma metáfora de quanto o medo nos pode aprisionar.
Há muros que separam nações, há muros que dividem pobres e ricos. Mas não há hoje no mundo muro que separe os que têm medo dos que não têm medo. Sob as mesmas nuvens cinzentas vivemos todos nós, do sul e do norte, do ocidente e do oriente… Citarei Eduardo Galeano acerca disso que é o medo global:
“Os que trabalham têm medo de perder o trabalho. Os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho. Quem não têm medo da fome, têm medo da comida. Os civis têm medo dos militares, os militares têm medo da falta de armas, as armas têm medo da falta de guerras.” E, se calhar, acrescento agora eu, há quem tenha medo que o medo acabe…
Mia Couto
O medo foi, afinal, o mestre que mais me fez desaprender. Quando deixei a minha casa natal, uma invisível mão roubava-me a coragem de viver e a audácia de ser eu mesmo. No horizonte vislumbravam-se mais muros do que estradas. Nessa altura, algo me sugeria o seguinte: que há neste mundo mais medo de coisas más do que coisas más propriamente ditas.
No Moçambique colonial em que nasci e cresci, a narrativa do medo tinha um invejável casting internacional: os chineses que comiam crianças, os chamados terroristas que lutavam pela independência do país, e um ateu barbudo com um nome alemão. Esses fantasmas tiveram o fim de todos os fantasmas: morreram quando morreu o medo. Os chineses abriram restaurantes junto à nossa porta, os ditos terroristas são governantes respeitáveis e Karl Marx, o ateu barbudo, é um simpático avô que não deixou descendência.
O preço dessa construção [narrativa] de terror foi, no entanto, trágico para o continente africano. Em nome da luta contra o comunismo cometeram-se as mais indizíveis barbaridades. Em nome da segurança mundial foram colocados e conservados no Poder alguns dos ditadores mais sanguinários de que há memória. A mais grave herança dessa longa intervenção externa é a facilidade com que as elites africanas continuam a culpar os outros pelos seus próprios fracassos.
A Guerra-Fria esfriou mas o maniqueísmo que a sustinha não desarmou, inventando rapidamente outras geografias do medo, a Oriente e a Ocidente. E porque se trata de novas entidades demoníacas não bastam os seculares meios de governação… Precisamos de intervenção com legitimidade divina… O que era ideologia passou a ser crença, o que era política tornou-se religião, o que era religião passou a ser estratégia de poder.
Para fabricar armas é preciso fabricar inimigos. Para produzir inimigos é imperioso sustentar fantasmas. A manutenção desse alvoroço requer um dispendioso aparato e um batalhão de especialistas que, em segredo, tomam decisões em nosso nome. Eis o que nos dizem: para superarmos as ameaças domésticas precisamos de mais polícia, mais prisões, mais segurança privada e menos privacidade. Para enfrentar as ameaças globais precisamos de mais exércitos, mais serviços secretos e a suspensão temporária da nossa cidadania. Todos sabemos que o caminho verdadeiro tem que ser outro. Todos sabemos que esse outro caminho começaria pelo desejo de conhecermos melhor esses que, de um e do outro lado, aprendemos a chamar de “eles”.
Aos adversários políticos e militares, juntam-se agora o clima, a demografia e as epidemias. O sentimento que se criou é o seguinte: a realidade é perigosa, a natureza é traiçoeira e a humanidade é imprevisível. Vivemos – como cidadãos e como espécie – em permanente situação de emergência. Como em qualquer estado de sítio, as liberdades individuais devem ser contidas, a privacidade pode ser invadida e a racionalidade deve ser suspensa.
Todas estas restrições servem para que não sejam feitas perguntas [incomodas] como, por exemplo, estas: porque motivo a crise financeira não atingiu a indústria de armamento? Porque motivo se gastou, apenas no ano passado, um trilhão e meio de dólares com armamento militar? Porque razão os que hoje tentam proteger os civis na Líbia são exatamente os que mais armas venderam ao regime do coronel Kadaffi? Porque motivo se realizam mais seminários sobre
segurança do que sobre justiça?
Se queremos resolver (e não apenas discutir) a segurança mundial – teremos que enfrentar ameaças bem reais e urgentes. Há uma arma de destruição massiva que está sendo usada todos os dias, em todo o mundo, sem que sejam precisos pretextos de guerra. Essa arma chama-se fome. Em pleno século 21, um em cada seis seres humanos passa fome. O custo para superar a fome mundial seria uma fracção muito pequena do que se gasta em armamento. A fome será, sem dúvida, a maior causa de insegurança do nosso tempo.
Mencionarei ainda outra silenciada violência: em todo o mundo, uma em cada três mulheres foi ou será vítima de violência física ou sexual durante o seu tempo de vida… A verdade é que… pesa uma condenação antecipada pelo simples fato de serem mulheres.
A nossa indignação, porém, é bem menor que o medo. Sem darmos conta, fomos convertidos em soldados de um exército sem nome, e como militares sem farda deixamos de questionar. Deixamos de fazer perguntas e de discutir razões. As questões de ética são esquecidas porque está provada a barbaridade dos outros. E porque estamos em guerra, não temos que fazer prova de coerência nem de ética nem de legalidade.
É sintomático que a única construção humana que pode ser vista do espaço seja uma muralha. A chamada Grande Muralha foi erguida para proteger a China das guerras e das invasões. A Muralha não evitou conflitos nem parou os invasores. Possivelmente, morreram mais chineses construindo a Muralha do que vítimas das invasões do Norte. Diz-se que alguns dos trabalhadores que morreram foram emparedados na sua própria construção. Esses corpos convertidos em muro e pedra são uma metáfora de quanto o medo nos pode aprisionar.
Há muros que separam nações, há muros que dividem pobres e ricos. Mas não há hoje no mundo muro que separe os que têm medo dos que não têm medo. Sob as mesmas nuvens cinzentas vivemos todos nós, do sul e do norte, do ocidente e do oriente… Citarei Eduardo Galeano acerca disso que é o medo global:
“Os que trabalham têm medo de perder o trabalho. Os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho. Quem não têm medo da fome, têm medo da comida. Os civis têm medo dos militares, os militares têm medo da falta de armas, as armas têm medo da falta de guerras.” E, se calhar, acrescento agora eu, há quem tenha medo que o medo acabe…
Mia Couto
Patologia brasileira
Durante quatro anos, dia a dia, fomos testemunhas de ações liberticidas que intencionavam abater quaisquer laços orgânicos em nossa vida comum, negando-se realidade fática à existência dessa coisa chamada de sociedade. O fascismo e sua pregação neoliberal das hostes bolsonaristas só admitiam o indivíduo isolado, mônada de interesses privados somente postos em ordem pela intervenção mítica do chefe da nação. Nesse sentido, havia algo de misticismo no chienlit brasileiro de 8 de janeiro, em que uma massa de indivíduos ignaros, à falta física do seu chefe, tentou baixar o seu espírito como num culto religioso a fim de realizar a obra que lhe cabia no sentimento de todos. Bolsonaro encarnou, assim em unção mística, a depredação em que cada manifestante em êxtase destruía um ícone nacional.
Os alemães, depois de 1945, solenemente prometeram que sua tragédia nacional não mais se repetiria, e conseguiram. Seremos capazes do mesmo?
Luiz Werneck Vianna, “A patologia brasileira e seus remédios”
Os alemães, depois de 1945, solenemente prometeram que sua tragédia nacional não mais se repetiria, e conseguiram. Seremos capazes do mesmo?
Luiz Werneck Vianna, “A patologia brasileira e seus remédios”
Desordem e progressão
A palavra do ano, para a equipe do dicionário Cambridge, foi parassocial (aquela sensação de intimidade — não recíproca — com figuras públicas). O Oxford veio de rage bait (conteúdo criado para gerar engajamento na força do ódio). No Brasil, segundo a consultoria Cause e o instituto de pesquisa Ideia, foi “incerteza”. Eu teria votado em “progressão”, com novo sentido, o de retrocesso.
Na cadeia, progressão é o regime que permite ao condenado cumprir apenas 1/6 da pena. Na escola, o que empurra o aluno adiante, mesmo que ele não tenha aprendido nada. É o Estado não educando no sistema educacional nem reeducando no sistema penitenciário. A aposta é que o aluno incapaz de entender a tabuada do 2 se recupere magicamente mais tarde, quando chegar à tabuada do 7. Que o criminoso adquira, na rua, os princípios morais que lhe faltavam antes do curto estágio de confinamento.
Ambas as progressões são bem-intencionadas: não fazer da reprovação um atestado de fracasso, favorecer a ressocialização. Na prática, são uma pedagogia do faz de conta. Uma adia o insucesso, a outra induz à reincidência. O resultado é o analfabetismo funcional, a sensação de impunidade. Os que roubaram os pensionistas do INSS logo estarão soltos (isso se um dia chegarem a ser presos). Idem para o político corrupto ou golpista, para o homicida, o traficante, o miliciano.
Quando o poder público se omite, o desejo de justiça, inerente ao ser humano, vira sanha de justiçamento. Nas redes sociais não faltam vídeos de reações violentas a assaltos e de espancamento de assaltantes e estupradores — a maioria com comentários do tipo “vídeo satisfatório”, “cervejinha cancelada com sucesso”, “quem tem dó é piano”, “adoro finais felizes”. É a sociedade se adaptando “à subsombra desumana dos linchadores”.
Recentemente, um juiz do Rio mandou soltar um “suspeito” de 21 anos, com 86 passagens pela polícia (preso sete vezes nos últimos três anos) e seu comparsa. O argumento:
— Não se pode presumir que os acusados retornarão a delinquir, posto que no Estado Democrático de Direito não há espaço para exercício de futurologia.
A 87ª prisão (quem diria!) veio cerca de um mês depois. Uma juíza de Goiás liberou outro “suspeito”, com histórico de homicídio, porte ilegal de arma, roubo e tráfico.
— Você de novo, Kaique? Me ajuda a te ajudar — pediu a magistrada, na audiência de custódia.
Solto, o rapaz, também de 21 anos, foi morto seis meses depois, em confronto com a polícia. Ter sido posto em liberdade certamente não o ajudou muito.
Toda a justa indignação pela quantidade de feminicídios e de atos de violência contra a mulher deveria vir acompanhada de uma reflexão sobre a política de devolver prematuramente os agressores às ruas e sobre o que leva tantos homens a se sentir seguros para fazer o que fazem. Talvez incivilidade, por falta de educação, em casa e na escola. Talvez a certeza de impunidade.
O lema positivista que inspirou o dístico da bandeira nacional era “O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim”. O amor ficou de fora logo de cara. A ordem foi confundida com autoritarismo e desdenhada. Sobrou o progresso, aquela marcha inexorável rumo a um mundo melhor — que pegou um retorno, ganhou um aumentativo e deu nisso: bandido bom é bandido solto x bandido bom é bandido morto, e a escola como tempo jogado fora entre a matrícula e o diploma.
Eduardo Affonso
Na cadeia, progressão é o regime que permite ao condenado cumprir apenas 1/6 da pena. Na escola, o que empurra o aluno adiante, mesmo que ele não tenha aprendido nada. É o Estado não educando no sistema educacional nem reeducando no sistema penitenciário. A aposta é que o aluno incapaz de entender a tabuada do 2 se recupere magicamente mais tarde, quando chegar à tabuada do 7. Que o criminoso adquira, na rua, os princípios morais que lhe faltavam antes do curto estágio de confinamento.
Ambas as progressões são bem-intencionadas: não fazer da reprovação um atestado de fracasso, favorecer a ressocialização. Na prática, são uma pedagogia do faz de conta. Uma adia o insucesso, a outra induz à reincidência. O resultado é o analfabetismo funcional, a sensação de impunidade. Os que roubaram os pensionistas do INSS logo estarão soltos (isso se um dia chegarem a ser presos). Idem para o político corrupto ou golpista, para o homicida, o traficante, o miliciano.
Quando o poder público se omite, o desejo de justiça, inerente ao ser humano, vira sanha de justiçamento. Nas redes sociais não faltam vídeos de reações violentas a assaltos e de espancamento de assaltantes e estupradores — a maioria com comentários do tipo “vídeo satisfatório”, “cervejinha cancelada com sucesso”, “quem tem dó é piano”, “adoro finais felizes”. É a sociedade se adaptando “à subsombra desumana dos linchadores”.
Recentemente, um juiz do Rio mandou soltar um “suspeito” de 21 anos, com 86 passagens pela polícia (preso sete vezes nos últimos três anos) e seu comparsa. O argumento:
— Não se pode presumir que os acusados retornarão a delinquir, posto que no Estado Democrático de Direito não há espaço para exercício de futurologia.
A 87ª prisão (quem diria!) veio cerca de um mês depois. Uma juíza de Goiás liberou outro “suspeito”, com histórico de homicídio, porte ilegal de arma, roubo e tráfico.
— Você de novo, Kaique? Me ajuda a te ajudar — pediu a magistrada, na audiência de custódia.
Solto, o rapaz, também de 21 anos, foi morto seis meses depois, em confronto com a polícia. Ter sido posto em liberdade certamente não o ajudou muito.
Toda a justa indignação pela quantidade de feminicídios e de atos de violência contra a mulher deveria vir acompanhada de uma reflexão sobre a política de devolver prematuramente os agressores às ruas e sobre o que leva tantos homens a se sentir seguros para fazer o que fazem. Talvez incivilidade, por falta de educação, em casa e na escola. Talvez a certeza de impunidade.
O lema positivista que inspirou o dístico da bandeira nacional era “O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim”. O amor ficou de fora logo de cara. A ordem foi confundida com autoritarismo e desdenhada. Sobrou o progresso, aquela marcha inexorável rumo a um mundo melhor — que pegou um retorno, ganhou um aumentativo e deu nisso: bandido bom é bandido solto x bandido bom é bandido morto, e a escola como tempo jogado fora entre a matrícula e o diploma.
Eduardo Affonso
Evolução harmônica
Nesta semana, a UnB comemorou trinta anos do Centro para o Desenvolvimento Sustentável (CDS). Quando concebido, em 1990, e quando criado, em 1995, mesmo ano da COP1, em Berlim, o CDS apresentava duas ousadias: do ponto de vista da estrutura universitária, adotava o estudo multidisciplinar, fora dos departamentos especializados por categoria do conhecimento; e do ponto de vista da concepção de progresso, adotava a crítica ao desenvolvimento baseado no crescimento econômico. Passados trinta anos, a própria ideia de desenvolvimento sustentável está em crise. Os conceitos de “desenvolvimento” e de “sustentabilidade” deixaram de indicar rumo desejável para o progresso. Apesar do sucesso de centenas de egressos de cursos de pós-graduação no Brasil e no exterior, surgiu a ideia de o CDS se transformar em um Centro para a Evolução Harmônica da humanidade — entre os seres humanos, e deles com a natureza e seus povos.
A COP30 mostrou a dificuldade em cuidar do planeta quando as decisões dependem de países independentes, e também a impossibilidade de superar a ânsia consumista dos eleitores. Tudo indica o agravamento das mudanças climáticas e suas catástrofes associadas. Por isso, durante as celebrações do CDS alertou-se para o fato de que o desenvolvimento sustentável pode ser obtido imoralmente pela exclusão de parte da humanidade — um crescimento sustentável, mas restrito a poucos. Essa parece ser a proposta oferecida pelas forças conservadoras: sendo para poucos, o crescimento econômico ficaria sem limites. Bastaria impedir o ingresso no mundo desenvolvido dos imigrantes — geográficos, de outros países; geracionais; ou sociais, saídos da pobreza.
A mentalidade atual que considera o mundo como a soma dos países e que adota o conceito de desenvolvimento centrado no aumento do PIB levou a humanidade a uma encruzilhada: rumo à catástrofe ecológica ou rumo à catástrofe moral do acirramento da desigualdade social, a ponto de apartar definitivamente os seres humanos entre beneficiados e excluídos do progresso. A ideia de evolução harmônica afastaria o duplo pessimismo atual: seja a catástrofe moral da aceitação da desigualdade, seja a hecatombe ecológica das mudanças climáticas. Mas a alternativa considerada no CDS para uma reorientação buscando evolução harmônica para a humanidade exige mudança de mentalidade por meio da educação para formar novas gerações que vejam seus países como pedaços do mundo e que substituam o desejo de crescimento sustentável pelo objetivo de ampliar o bem-estar de todos.
A utopia estaria na construção de uma sociedade com um “piso social”, assegurando que todos tenham acesso aos bens e serviços essenciais, e com um “teto ecológico”, acima do qual ninguém teria o direito de consumir, devido aos riscos para a natureza. Entre o piso e o teto, uma “escada de ascensão social” — garantida pela oferta de serviços educacionais e de saúde com qualidade e equidade para todos. Seria atalho para um nível decente de desigualdade decorrente do talento e do esforço usados com liberdade comprometida com harmonia, sem exclusão social e em equilíbrio ecológico.
Cristovam Buarque
A COP30 mostrou a dificuldade em cuidar do planeta quando as decisões dependem de países independentes, e também a impossibilidade de superar a ânsia consumista dos eleitores. Tudo indica o agravamento das mudanças climáticas e suas catástrofes associadas. Por isso, durante as celebrações do CDS alertou-se para o fato de que o desenvolvimento sustentável pode ser obtido imoralmente pela exclusão de parte da humanidade — um crescimento sustentável, mas restrito a poucos. Essa parece ser a proposta oferecida pelas forças conservadoras: sendo para poucos, o crescimento econômico ficaria sem limites. Bastaria impedir o ingresso no mundo desenvolvido dos imigrantes — geográficos, de outros países; geracionais; ou sociais, saídos da pobreza.
A mentalidade atual que considera o mundo como a soma dos países e que adota o conceito de desenvolvimento centrado no aumento do PIB levou a humanidade a uma encruzilhada: rumo à catástrofe ecológica ou rumo à catástrofe moral do acirramento da desigualdade social, a ponto de apartar definitivamente os seres humanos entre beneficiados e excluídos do progresso. A ideia de evolução harmônica afastaria o duplo pessimismo atual: seja a catástrofe moral da aceitação da desigualdade, seja a hecatombe ecológica das mudanças climáticas. Mas a alternativa considerada no CDS para uma reorientação buscando evolução harmônica para a humanidade exige mudança de mentalidade por meio da educação para formar novas gerações que vejam seus países como pedaços do mundo e que substituam o desejo de crescimento sustentável pelo objetivo de ampliar o bem-estar de todos.
A utopia estaria na construção de uma sociedade com um “piso social”, assegurando que todos tenham acesso aos bens e serviços essenciais, e com um “teto ecológico”, acima do qual ninguém teria o direito de consumir, devido aos riscos para a natureza. Entre o piso e o teto, uma “escada de ascensão social” — garantida pela oferta de serviços educacionais e de saúde com qualidade e equidade para todos. Seria atalho para um nível decente de desigualdade decorrente do talento e do esforço usados com liberdade comprometida com harmonia, sem exclusão social e em equilíbrio ecológico.
Cristovam Buarque